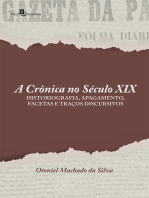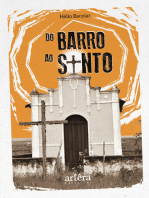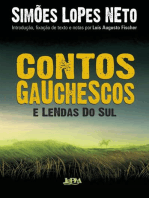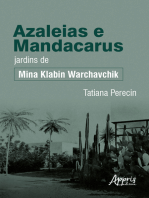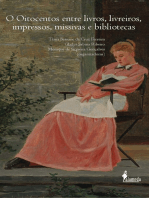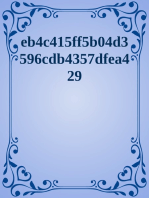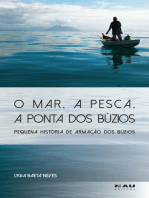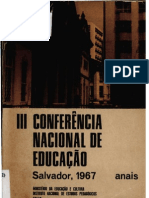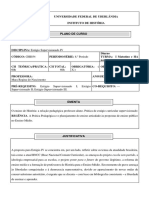Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Resenha - Fazenda Bangu, o Livro
Enviado por
Rafael MartinsTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Resenha - Fazenda Bangu, o Livro
Enviado por
Rafael MartinsDireitos autorais:
Formatos disponíveis
resenha
278 FAZENDA BANGU, O LIVRO
Fazenda Bangu, o livro:
uma joia do oeste carioca
VINICIUS MIRANDA CARDOSO
Doutor em História Social (PPGHIS-UFRJ). Professor da SME-Rio. Vencedor
do Prêmio Afonso Carlos Marques dos Santos – Arquivo Geral da Cidade do
Rio de Janeiro (2018).
viniciusmirandacardoso@hotmail.com
N. 20, 2021, P. 278-288
VINICIUS MIRANDA CARDOSO 279
Fazenda Bangu, o livro: uma joia do oeste carioca
Há alguns anos, o jornalista e escritor André Luís Mansur Baptis-
ta lançava, depois de algumas tentativas, o primeiro volume de O Ve-
lho Oeste carioca (MANSUR BAPTISTA, 2008). A obra – hoje, bastante
conhecida – vinha cobrir uma lacuna com a qual seu autor se depa-
rara, ao redigir para grandes jornais: a raridade de trabalhos detidos
na história da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sobre essas paragens,
repetiam-se as mesmas informações havia décadas. Dentre os livros
consagrados que dedicavam alguns parágrafos à antiga Zona Oeste
– e eram poucos –, quase todos tratavam essa parte da história da ci-
dade como um apêndice; um pé de página da grande história do Rio
e de seu destino-manifesto. Isso vem mudando.
Com o tempo, o trabalho de Mansur se revelou um divisor de
águas. Foram publicados mais dois volumes1. Embora não seja um
historiador profissional, André Mansur se estabeleceu como uma re-
quisitada autoridade acerca da história da região. Seu pioneirismo
chamou atenção para a Zona Oeste, despertando a curiosidade do
público leitor e demonstrando a viabilidade desse campo de estu-
dos para o mercado do livro. Este campo ainda tem muito a crescer,
como todo o estudo dos subúrbios, de suas histórias e identidades.
Porém, Mansur inspirou – e tem apoiado – pesquisadores indepen-
dentes e estudantes a publicarem trabalhos sobre os antigos “ser-
tões” da cidade, aprofundando-se nas histórias desses bairros, com
suas instituições, personagens e casos. Assim, novos livros têm sur-
gido ultimamente, nessa linhagem, por meio da auto-publicação –
fora, portanto, do circuito das grandes editoras e livrarias, que ainda
teimam em ignorar o potencial da região. Como exemplo dessa pro-
dução, dois livros recentes sobre os engenhos da Mata da Paciência2,
que tratam também dos arredores – Cosmos, Inhoaíba, Palmares –
partindo do século XVIII (TOV & al, 2019; TOV, 2020).
A história e a memória desse “oeste distante” do Rio, longe em-
bora dos holofotes e dos radares editoriais, foi sempre estudada,
todavia. Décadas atrás, a Zona Oeste profunda já tinha seus pró-
prios memorialistas, historiadores, museólogos e grupos de pesqui-
sa: o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica (NOPH) de Santa
Cruz (desde 1983) e o Grêmio Literário José Mauro de Vasconcelos
– Museu de Bangu (desde 1994) são talvez os mais célebres. Alguns
REVISTA DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
280 FAZENDA BANGU, O LIVRO
dos estudiosos das histórias da localidade nas últimas décadas fo-
ram Carlos Wenceslau, Martha Nogueira (Realengo), Walter e Oda-
lice Priosti, Sinvaldo Nascimento (Santa Cruz), José Nazareth Fróes,
Odaléa Gelabert, Moacyr Bastos (Campo Grande), Adinalzir Lame-
go, Isra Toledo Tov (Santa Cruz, Paciência, Inhoaíba), Murillo Guima-
rães, Manoel de Moura (“Seu Vivi”), Carlos Molinari (Bangu) e tantos
outros. Todos produzindo, salvaguardando e ressignificando memó-
rias desses bairros e de seus bens culturais. Alguns, infelizmente, já
são falecidos.
Entre os veteranos está Benevenuto Rovere Neto, o Beto. Foi ele
fundador do Museu de Bangu, também conhecido como Grêmio Li-
terário José Mauro de Vasconcelos (uma homenagem ao banguen-
se que escreveu o clássico Meu pé de laranja lima). Junto a Paulo Vi-
tor Braga – Diretor de Pesquisas da instituição – “Seu Beto” é um dos
autores do livro Fazenda Bangu: a joia do sertão carioca, lançado pelo
Museu de Bangu, em suas dependências, em 2020, pouco antes da
“quarentena” se iniciar (SILVA & NETO, 2020).
Os autores não são acadêmicos. Porém, existe vida fora da acade-
mia. Seu Beto já pesquisa a história de Bangu e adjacências há anos,
sendo filho de um funcionário da Fábrica Bangu. Colaborou com inú-
meras pesquisas, ajudou a editar livros, cuida do acervo do Museu
e promove exposições, demonstrando-se um dos maiores conhece-
dores e incentivadores das histórias e memórias desse bairro. Pau-
lo Vitor Braga, por sua vez, é um jovem que prestou serviços de in-
formatização ao Arquivo Nacional e que, aos poucos, mergulhou nas
pesquisas históricas sobre o bairro, despertando esta sua vocação.
Está cursando a graduação em História. Suas investigações sobre
Bangu, porém, vêm de longa data e demonstram certa maturidade.
Foram 9 anos de pesquisa, segundo os próprios autores, para
que fosse possível lançar, em cerca de 300 páginas e 23 capítu-
los, uma parte (apenas) do que foi levantado sobre a antiga Fazen-
da Bangu. Esta fazenda foi uma das diversas propriedades da re-
gião nos séculos passados. Correspondia a uma fração, somente, do
bairro atual. Foi uma das primeiras por ali, quando ainda era chama-
da de Engenho de N. Sra. do Desterro – onde foi fundada uma cape-
la desta invocação, nas terras de Manoel de Barcellos Domingues.
Entre o final do século XVII e o final do século XIX, a propriedade foi
transmitida por compra ou por herança, passando por famílias di-
N. 20, 2021, P. 278-288
VINICIUS MIRANDA CARDOSO 281
ferentes – primeiro, ligadas à “nobreza da terra” ou à pequena no-
breza reinol; depois, pela nobreza do Império, tendo pertencido aos
barões da Piraquara e de Itacurussá – até ser comprada pela Com-
panhia Progresso Industrial do Brasil, em 1889, para estabelecimen-
to de sua fábrica de tecidos, que veio a ser conhecida como Fábrica
Bangu. Poucos anos depois disso, em 1914, a casa de vivenda e algu-
mas de suas instalações remanescentes foram demolidas, como era
comum nos tempos anteriores aos tombamentos e à proteção go-
vernamental do patrimônio material. Caso diferente foi o de uma fa-
zenda vizinha, a do “Viegas”: sua casa-grande, com a capela senho-
rial anexa (N. Sra. da Lapa), foi tombada em 1938, a despeito dos
protestos dos últimos proprietários, mantendo-se de pé ainda hoje
– muito embora esteja em péssimas condições3.
Fazenda Bangu, o livro, é uma contribuição formidável. Não só para
a Zona Oeste: o volume tem algo a dizer sobre a história da cidade e
– pode-se até dizer – do país e do continente. O trabalho é bem es-
crito e bastante cauteloso no cruzamento e interpretação dos docu-
mentos. Algumas das fontes primárias são de difícil acesso e leitura
– foram contratados especialistas em paleografia para decifração de
certos manuscritos. O trabalho também se valeu de muitos acervos
digitalizados, como a Hermeroteca da Biblioteca Nacional; os assen-
tos paroquiais disponíveis na plataforma Family Search; os manuscri-
tos do ‘Projeto Resgate - Barão do Rio Branco’, que disponibiliza onli-
ne documentos do Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa; e acervos
fotográficos e cartográficos de algumas instituições.
Claro está: não é um trabalho de tese ou dissertação. Não há
um quadro teórico e conceitual, nem exposição de problemas e hi-
póteses correlatas. Mas existe uma questão de fundo e uma meto-
dologia explicitada no correr das páginas. Com o devido ceticismo e
dialética, os autores confrontam e interpretam documentos – carto-
riais, correspondência, assentos paroquiais, iconografia, notícias de
periódicos etc. A abordagem é qualitativa: não há preocupações se-
riais ou quantitativas, com tabelas, números ou gráficos. Os pará-
grafos conversam com o leitor buscando não apenas demonstrar
certezas, mas também as indagações, dúvidas e possíveis soluções.
Nesse sentido, sem o saber, os autores seguem o método do “para-
digma indiciário” de Carlo Ginzburg – sem que o livro se torne um es-
tudo de micro-história ou uma tese.
REVISTA DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
282 FAZENDA BANGU, O LIVRO
Ao contrário de alguns trabalhos de fora da academia, os autores
usam notas de rodapé; fazem referência a todas as fontes citadas ou
implícitas no texto; arrolam os arquivos consultados – inclusive de
fora do Brasil –, dando todos os detalhes necessários para que ou-
tros pesquisadores se debrucem sobre o tema e o desdobrem, e que
avaliem o livro criticamente. Assim, ora avançam, ora confrontam os
conhecimentos trazidos pelos livros anteriores sobre a localidade
– nem sempre claros na abordagem e explicitação de suas fontes,
além de apresentarem algumas conclusões apressadas e confusões.
A linguagem é direta, sem o hermetismo téorico-conceitual que
caracteriza parte da produção universitária. Por vezes, o texto assu-
me um tom laudatório, já que busca valorizar o bairro e se dirige, pri-
meiramente, a leitores que morem nele ou por ele tenham interes-
se. Busca demonstrar a importância da fazenda, classificada como
“uma joia” do Rio antigo, a partir de seus possuidores e de suas rela-
ções; sem, contudo, aprofundar-se nas biografias deles ou nas suas
interações sociais. O livro dialoga primariamente com os memoria-
listas da região – e não com historiografia acadêmica pertinente à
periodização. É um trabalho mais descritivo e jornalístico, sob certo
ponto de vista. Um ensaio. Porém, não se pode dizer que seja raso,
nem apenas um compilado de curiosidades. Longe disso. Devido à
pesquisa intensiva, traz informações apuradas e elementos novos
para os historiadores de carreira e para memorialistas, jornalistas,
geógrafos, estudantes e interessados em geral.
Entre os pontos altos, temos a comprovação da localização da
sede da fazenda, bem como da capela que veio a ser matriz da fre-
guesia (c.1673), derrubando antigas suposições. A comprovação veio
a partir do cruzamento de informações e da análise minuciosa de
manuscritos, notícias de jornais e fotografias, sendo possível, ago-
ra, ter o endereço exato da antiga sede e algumas fotos (do pouco
que restou) das ruínas do jardim externo. Também se chegou à con-
firmação de que a matriz de N. Sra. do Desterro “do Campo Grande”
funcionou em Bangu até o início do século XIX, mesmo a duras pe-
nas. Os estudiosos acreditavam que essa “antiga capela de Barcel-
los Domingues”, que se supunha de pau-a-pique, tinha ruído ou sido
abandonada; ou transferida, em meados do século XVIII, para o lu-
gar que ficou conhecido como Santíssimo – hoje, um dos bairros vizi-
nhos. O livro contesta essa informação. A igreja, que era paroquial,
N. 20, 2021, P. 278-288
VINICIUS MIRANDA CARDOSO 283
embora tenha ficado em péssimo estado no decorrer do Setecentos,
era de pedra e cal, com torre sineira, altares laterais, sacristia e me-
dia cerca de 24x13m. No início do século XX, havia sido derrubada
ou, mais provável, adaptada para moradia, na atual Rua Bangu – an-
tigo “Caminho da Fazenda”. Também é indicada pelos autores a pos-
sibilidade de que o nome do bairro Santíssimo tenha advindo tão
somente de uma casa pertencente à irmandade do Santíssimo Sa-
cramento dessa matriz de N. Sra. do Desterro. Esta, por sua vez, te-
ria continuado a funcionar “no meio do campo” do mesmo engenho
de antes. Pelo menos até 1808, quando a matriz se transferiu para a
região da Caroba (atual centro de Campo Grande).
Outro particular que merece destaque é a discussão sobre a
origem do topônimo Bangu, detectando seu aparecimento nos do-
cumentos e levantando hipóteses sobre seu significado. Antigas
versões apontam uma possível origem tupi. Dentre as várias pos-
sibilidades aventadas, dizia Julio Romão da Silva (SILVA, 1966, p.62)
que o nome viria de bang-ú (“anteparo escuro”, que seria menção às
montanhas do maciço da Pedra Branca). Ou de (m)ba (“o que”) ngu
(“beber água”) – possível referência aos rios que descem da serra.
Há quem tenha preferido apontar o nome como corruptela de “ban-
guê”, uma padiola usada para carregar feixes de cana e que nomeia
também um certo tipo de engenho. Embora não seja citado no livro,
tem-se ainda (ou se tinha, há alguns anos) uma linha folclórica que
explica Bangu como corruptela de “bom angu”, ligando-o até mesmo
a Maria Angu, uma “preta velha” que deu nome a um porto na região
de Ramos, como indica o mesmo Julio Romão. A propósito, essa ex-
plicação é semelhante àquelas que apontam Ilha de Guaratiba como
derivada de “Sr. William de Guaratiba”; Vila Valqueire como “Vila do
5º alqueire” ou Realengo como “Real Engenho” – todas estas criações
espontâneas da memória coletiva e potencializadas pela oralidade;
mas sem fundamentação histórica e documental.
Tornando ao Fazenda Bangu, seus autores percorrem registros
de batismo da freguesia para detectar, antes da metade do sécu-
lo XVIII, as primeiras ocasiões em que aparecem as expressões “lu-
gar do vangú”, como também “bangú” – acrescente-se que, conside-
rando-se os estudos paleográficos, ‘v’ ,‘b’ e ‘u’ eram intercambiáveis,
àquele tempo, tendo valor praticamente idêntico (BERWANGER &
LEAL, 2015, p.96) 4. O uso mais antigo do nome ocorre num assento
REVISTA DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
284 FAZENDA BANGU, O LIVRO
batismal de 1729. Antes disso, a fazenda era chamada de Engenho
da Serra ou Engenho de Nossa Senhora do Desterro.
Os autores levantam ainda outra hipótese de origem africana
para a palavra Bangu, destacando que havia benguelas (também gra-
fados banguelas) batizados na freguesia, cuja matriz ficava nas ter-
ras do engenho. Nei Lopes também defendeu uma hipótese africa-
na, no seu Dicionário da Hinterlândia Carioca (LOPES, 2012, pp.39-40).
Porém, referiu-se a uma árvore5, que seria comum na África Ociden-
tal e que podia ter existido nas terras do bairro, quando da consa-
gração do nome.
Um verdadeiro achado, talvez o auge da pesquisa e ponto mais
retumbante do livro, vêm a ser os diários de Julia Keyes e Lucy Ju-
dkins. Foram elas moças de famílias sulistas dos Estados Unidos.
Moraram na Fazenda Bangu no período imediatamente posterior
à Guerra Civil Americana (1861-1865). Foram encontrados, inclusi-
ve, retratos fotográficos delas. Identificando uma pista nos registros
de transmissão da propriedade em escritura cartorial, os pesquisa-
dores seguiram os rastros até o Alabama, buscando certos nomes
de norte-americanos em jornais e arquivos. Encontraram então pro-
prietários da fazenda até então desconhecidos. Eles precederam o
Barão de Itacurussá, o último dono. Esses nomes levaram-nos a en-
contrar dois diários. Tais registros descrevem a fazenda, o exterior
imediato – fontes, portões, a pitoresca “avenida dos bambus” – e o
interior da casa-grande e da capela anexa, dedicada a N. Sra. da Con-
ceição. Apresentam também desenhos informais das plantas-baixas
da edificação por volta de 1870 – tudo consta dos diários e cartas da
menina Lucy Judkins. Trazem ainda alguns acontecimentos de inte-
resse tanto para o estudo do lugar quanto para voos mais altos e
longos, no estudo do Oitocentos, ligando as histórias das Américas
no período da “Segunda Escravidão”. Comprovando a presença des-
tes proprietários, perturbados por seus dilemas escravocratas, o li-
vro vai além ao oferecer passagens saborosas e desenhos artísticos
encomendados para ilustrá-las. Os autores determinaram ainda, de
modo confiável, a sucessão de donos da fazenda até a compra pela
Fábrica Bangu. Cobriram assim lacunas e corrigiram enganos – como
um tal “João Freire Thomás”, que nunca existiu e foi apenas o fruto
de uma leitura paleográfica equivocada de “João Freire Alemão”.
N. 20, 2021, P. 278-288
VINICIUS MIRANDA CARDOSO 285
Por último, mas não menos importante: encontrando certas no-
tícias em periódicos oitocentistas, foram confirmados velhos relatos
sobre a hospedagem de D. Pedro II na propriedade, a caminho de
Santa Cruz. Este é um aspecto central da memória oral coletiva em
toda a região que foi cortada, há tempos, pela antiga Estrada Real e
Imperial. Não resta dúvidas de que Pedro II se hospedou, mais de
uma vez, na Fazenda Bangu – como também em outras dos antigos
“sertões cariocas” – e que teve relações diretas com proprietários.
Isso poderá, quem sabe, lançar luzes novas sobre aspectos da bio-
grafia do segundo imperador. Quanto a D. João e Pedro I, memoria-
listas anteriores chegam a dar certeza da hospedagem deles na Ban-
gu. Os autores, porém, ainda não descobriram fontes primárias que
o corroborem com segurança.
Fazenda Bangu é um trabalho que alcança aquilo a que se propõe,
com sobras: noticiar criteriosamente a existência pregressa do bairro
antes da Fábrica Bangu – “o que havia antes”, como anuncia a apre-
sentação do livro. Fala especialmente aos atuais moradores, sem dei-
xar de se mostrar agradável a qualquer tipo de pesquisador, profes-
sor ou leitor, de qualquer lugar. Sua utilidade para o ensino de História
ou Geografia na cidade é mais do que óbvia, podendo se encaixar per-
feitamente nas prateleiras de qualquer sala de leitura escolar. Pode-
-se mesmo dizer que a obra se desenha incontornável para quem se
debruça sobre um campo em ascensão: as histórias, as memórias e
as geografias da Zona Oeste e dos “subúrbios” da cidade.
Mesmo não sendo um trabalho estritamente acadêmico, pode
ser útil também a historiadores que incursionem pela história da
açucarocracia colonial e das elites locais na monarquia “pluriconti-
nental” portuguesa; bem como da nobreza da corte imperial brasilei-
ra; e das tensões dos Estados Unidos no séc. XIX. No caso dos temas
“coloniais”, o trabalho se beneficiaria muito, numa eventual segunda
edição, das reflexões, dados e conceitos abordados por João Frago-
so, Antônio Carlos Jucá, Roberto Guedes e outros pesquisadores li-
gados ao Laboratório Antigo Regime nos Trópicos (UFRJ). Também se-
ria profícuo incorporar aspectos e resultados das discussões sobre
elites, poderes locais, nobrezas e política no antigo “império portu-
guês” que movimentaram as universidades portuguesas e brasilei-
ras há alguns anos (especialmente entre 2001 e 2015).
REVISTA DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
286 FAZENDA BANGU, O LIVRO
O livro analisa uma longa duração de tempo: aproximadamen-
te, de 1673 a 1914. No entanto, não se submete a anacronismos
evidentes, nem se revela frágil naquilo que promete – embora me-
reça alguns aprofundamentos, que devem fomentar novas pesqui-
sas. Ao mesmo tempo, lança mão de ampla gama de fontes primá-
rias e secundárias, interpretadas e sintetizadas no corpo de um
ensaio de leitura acessível e prazerosa, sem perda de rigor na “crí-
tica dos testemunhos” de que falava Marc Bloch: aquilo que é a es-
sência do ofício do historiador.
É fartamente ilustrado com fotografias – algumas delas, original-
mente em preto e branco, foram colorizadas por profissional con-
tratado. Há fotos de alguns dos personagens oitocentistas, como
também reproduções de fragmentos ou trechos de documentos ou
mapas digitalizados. Destacam-se pela beleza e pertinência as ilus-
trações coloridas baseadas em passagens do diário de Lucy Judkins.
Poeticamente, dão contornos e vultos a trechos realmente interes-
santes de seus relatos. O esforço de trazer profissionais para repre-
sentar o que se lê nos diários por meio de desenhos, sobretudo o
aspecto da fazenda e de seu entorno, é louvável. É o caso também
da conjectura da fachada da igreja matriz – este desenho, em espe-
cial, é contribuição do próprio Benevenuto Rovere. O uso criativo
dessa ferramenta, que não é comum em trabalhos da historiografia
acadêmica, é um ponto positivo para a assimilação do texto e enri-
quecimento da narrativa para um público mais amplo. Embora nem
sempre os detalhes de fotografias e documentos sejam facilmente
perceptíveis na impressão da página, o projeto gráfico é competen-
te e bonito, a começar pela capa. A edição foi feita de modo indepen-
dente pelos esforços do Museu de Bangu, merecendo todo o apoio
e novas tiragens.
Do Arquivo Geral da Cidade, apenas fotos digitalizadas do bair-
ro de Santíssimo, disponíveis no site, foram utilizadas. Para revisão
e ampliação do estudo, seria interessante investigar os códices rela-
tivos às sesmarias, guardados pela instituição. Quem sabe, outros
manuscritos ou o acervo de iconografia possam trazer surpresas.
Trata-se, em suma, de uma narrativa geral, diacrônica, centrada
no aspecto fundiário e administrativo da fazenda, seguindo o fio e
os rastros das sucessões de proprietários e da localização da sede,
da igreja matriz e de benfeitorias da terra – algumas delas ainda por
N. 20, 2021, P. 278-288
VINICIUS MIRANDA CARDOSO 287
localizar, a exemplo das moendas. O livro não aborda aspectos eco-
nômicos ligados ao circuito mercantil, aos gêneros do plantio ou às
operações de crédito; nem as relações sociais, macro e micro-políti-
cas dentro e (para) fora da propriedade, envolvendo outros senho-
res ou mesmo forros e cativos. As relações escravistas e os compa-
drios, por exemplo, bastante estudadas em teses e dissertações nas
últimas décadas, não são objeto de análise.
A fazenda é vista mais pelo ponto de vista da casa-grande que
da senzala. Isso não foi intencional, nem sugere desprezo pelos su-
balternos. A análise seguiu as pistas da documentação encontrada,
mais fartamente produzida pelas camadas e instituições dominan-
tes. Assim, precisou se restringir aos limites dados por essas fontes.
Porém, deve ser notado que a presença e a vivacidade dos escraviza-
dos, que é menos perceptível na proposta geral do livro, ganha des-
taque inesperado em certos momentos. É o caso dos relatos de Lucy
Judkins, que trazem informações sobre a escravaria e, muito espe-
cialmente, sobre os afetos e colóquios da menina com a escrava Ce-
sária, que lhe levava à capela-oratório da casa-grande. De modo sin-
gelo, também funciona a homenagem feita pelos autores, ao final
da narrativa, citando nominalmente 37 pessoas escravizadas encon-
tradas na documentação levantada: todas elas à espera de quem se
aventure a investigar suas trajetórias. Assim também o esperam ou-
tras fazendas e engenhos de outrora, como Retiro, Viegas, Gericinó,
Mendanha, Joari, Piraquara, Capoeiras, Cabuçu, Lameirão e outras
muitas de todas as freguesias que circundavam o Rio.
A história da Fazenda Bangu é também a história do bairro ho-
mônimo e de toda a região entre Realengo e Campo Grande, antes
do séc.XX. Foi contada de forma apaixonada e primorosa. Não será
possível falar do passado de Bangu sem recorrer a este livro. Po-
rém, dentro dele, há também páginas de história do Rio de Janeiro,
do Brasil e das Américas. Que não se subestime este trabalho. É Me-
mória e é História – inspirada de pertinho pelas normas da acade-
mia. E não deixa de ser uma preciosa joia carioca, ouro da terra, do
oeste distante.
REVISTA DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
288 FAZENDA BANGU, O LIVRO
notas
São Paulo: Companhia das Letras, 1989,
1 pp.143-180.
Os volumes 2 (2011) e 3 (2016) foram
publicados pela mesma editora.
LOPES, Nei. Bangu. IN: Dicionário da
2 hinterlândia carioca: antigos “subúrbio”
Escritos pelos pesquisadores ligados à
Camempa – Casa da Memória Paciente e “zona rural”. Rio de Janeiro: Pallas, 2012,
(referente ao bairro da Paciência). Um pp.39-40.
terceiro volume está indo ao prelo.
MANSUR BAPTISTA, André Luiz. O Velho
3 Oeste carioca: história da ocupação da
A Fazenda Viegas, no bairro de Senador
Camará, região de Bangu, veio a se tornar Zona Oeste do Rio de Janeiro (de Deodoro
um parque municipal nos anos 1990, a Sepetiba) do século XVI aos dias atuais.
tendo sua sede sido restaurada (já abrigou, Rio de Janeiro: Ibis Libris, 2008.
inclusive, a Sub-Prefeitura local). Um novo
processo de tombamento foi aberto por SILVA, Julio Romão da. Bangu. IN:
volta de 1996 para incluir outras áreas Denominações indígenas na toponímia
além da casa-grande e capela. Porém, carioca. Rio de Janeiro: Livr. Ed. Brasiliana,
por diversos motivos, essa segunda etapa 1966, p.62.
ainda não foi concluída. Nos últimos
anos, a edificação e as suas benfeitorias TOV, Isra Toledo; LAMEGO, Adinalzir &
vêm sendo alvo de vandalismo, como já Guaraci Rosa. Os dois engenhos de
notificado na imprensa e ao IPHAN. Paciência. Rio de Janeiro: Autografia, 2019.
4 TOV, Isra Toledo. Casos matenses. Colab.
Eram elas algumas das ‘letras ramistas’,
intercambiáveis – inclusive, num mesmo Guaraci Rosa. Rio de Janeiro: Autografia,
documento de um único ‘scriptor’. 2020.
5
Segundo Nei Lopes, bangu seria o nome
africano de uma árvore “de casca amarga
e adstringente, a qual talvez existisse na
localidade”.
bibliografia
SILVA, Paulo Vitor Braga da & NETO,
Benevenuto Rovere. Fazenda Bangu: a joia
do sertão carioca. Rio de Janeiro: Grêmio
Literário José Mauro de Vasconcelos, 2020.
BERWANGER, Ana Regina & LEAL,
João Eurípedes Franklin. Noções de
Paleografia e Diplomática. Santa Maria:
Editora UFSM, 2015.
BLOCH, Marc. A crítica. IN: Apologia da
História: ou o ofício do historiador. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001, pp.89-124.
GINZBURG, Carlo. Sinais: raízes de
um paradigma indiciário. IN: Mitos,
emblemas, sinais: morfologia e história.
N. 20, 2021, P. 278-288
Você também pode gostar
- Visões da cabanagem: Uma revolta popular e suas representações na historiografiaNo EverandVisões da cabanagem: Uma revolta popular e suas representações na historiografiaAinda não há avaliações
- A crônica no século XIX: Historiografia, apagamento, facetas e traços discursivosNo EverandA crônica no século XIX: Historiografia, apagamento, facetas e traços discursivosAinda não há avaliações
- Espaços de leitura que deram origem à biblioteca pública de Jaraguá do SulDocumento12 páginasEspaços de leitura que deram origem à biblioteca pública de Jaraguá do SulAlexsandra RosaAinda não há avaliações
- Anel encarnado: Biografia & história em Raimundo Magalhães JuniorNo EverandAnel encarnado: Biografia & história em Raimundo Magalhães JuniorAinda não há avaliações
- Joaquina: Mulher, Negra, Escrava e Mendiga. Uma saga de cidadaniaNo EverandJoaquina: Mulher, Negra, Escrava e Mendiga. Uma saga de cidadaniaAinda não há avaliações
- O "arquiteto memorialista" Carlos Lacerda e suas representações do Estado da Guanabara (1960-1965)No EverandO "arquiteto memorialista" Carlos Lacerda e suas representações do Estado da Guanabara (1960-1965)Ainda não há avaliações
- 1270-Texto Do Artigo-3591-3733-10-20160720Documento14 páginas1270-Texto Do Artigo-3591-3733-10-20160720Luciano SerafimAinda não há avaliações
- Memória, cidade e comércio: narrativas sobre o centro histórico de Campos dos Goytacazes/RJNo EverandMemória, cidade e comércio: narrativas sobre o centro histórico de Campos dos Goytacazes/RJAinda não há avaliações
- José Maia Bezerra Neto - Escravidão Negra No Grão-Pará - Séculos XVII - XIX-Editora Paka-Tatu (2014)Documento163 páginasJosé Maia Bezerra Neto - Escravidão Negra No Grão-Pará - Séculos XVII - XIX-Editora Paka-Tatu (2014)lucas santosAinda não há avaliações
- Lições da História ensinada: o livro didático e a História do Brasil entre práticas, representações e apropriaçõesNo EverandLições da História ensinada: o livro didático e a História do Brasil entre práticas, representações e apropriaçõesAinda não há avaliações
- Perfil do leitor colonial: tendências e características de leitura no Brasil ColôniaDocumento735 páginasPerfil do leitor colonial: tendências e características de leitura no Brasil ColôniaJoelAinda não há avaliações
- Influência fenícia no Brasil antigoDocumento47 páginasInfluência fenícia no Brasil antigoRuy Alberti100% (1)
- Quem mexeu no meu texto?: Questões contemporâneas de edição, preparação e revisão textualNo EverandQuem mexeu no meu texto?: Questões contemporâneas de edição, preparação e revisão textualAinda não há avaliações
- Joao Cezar - Hist Da LiteraturaDocumento291 páginasJoao Cezar - Hist Da LiteraturalusaAinda não há avaliações
- Monteiro Lobato e a metáfora das Cidades mortasDocumento20 páginasMonteiro Lobato e a metáfora das Cidades mortasCarlos SilvaAinda não há avaliações
- José Saramago entre a história e a ficção: uma saga de portuguesesNo EverandJosé Saramago entre a história e a ficção: uma saga de portuguesesAinda não há avaliações
- Azaleias e mandacarus jardins de Mina Klabin WarchavchikNo EverandAzaleias e mandacarus jardins de Mina Klabin WarchavchikAinda não há avaliações
- Uma literatura escrita para ser oralizadaDocumento35 páginasUma literatura escrita para ser oralizadaMacioniliaAinda não há avaliações
- O Oitocentos entre livros, livreiros, impressos, missivas e bibliotecasNo EverandO Oitocentos entre livros, livreiros, impressos, missivas e bibliotecasAinda não há avaliações
- A crônica de Graciliano Ramos: de laboratório literário a instrumento de dissidênciaNo EverandA crônica de Graciliano Ramos: de laboratório literário a instrumento de dissidênciaAinda não há avaliações
- Interpretações Do Brasil Na Correspondência de Câmara Cascudo e Mário de Andrade1Documento41 páginasInterpretações Do Brasil Na Correspondência de Câmara Cascudo e Mário de Andrade1Sérgio RodrigoAinda não há avaliações
- Rubens Borba e Moraes Anotações de Um Bibliófilo, Cristina Antunes PDFDocumento340 páginasRubens Borba e Moraes Anotações de Um Bibliófilo, Cristina Antunes PDFJhony FelipeAinda não há avaliações
- Jorge Amado Na Hora Da GuerraDocumento230 páginasJorge Amado Na Hora Da GuerraLucianeAinda não há avaliações
- Catharina Maria do Espírito Santo: uma desenhista do século XVIII nos acervos da Biblioteca Nacional do Rio de JaneiroNo EverandCatharina Maria do Espírito Santo: uma desenhista do século XVIII nos acervos da Biblioteca Nacional do Rio de JaneiroAinda não há avaliações
- Neorrealismo e Mundividência em Unhas Negras: uma memória dos vencidosNo EverandNeorrealismo e Mundividência em Unhas Negras: uma memória dos vencidosAinda não há avaliações
- A casca da caneleira: Por uma boa dúzia de "esperanças"No EverandA casca da caneleira: Por uma boa dúzia de "esperanças"Ainda não há avaliações
- Primeira revista brasileira e jornalismo especializadoDocumento11 páginasPrimeira revista brasileira e jornalismo especializadoAndreza FlexaAinda não há avaliações
- Espólio de Victor de Sá revela métodos de um investigadorDocumento3 páginasEspólio de Victor de Sá revela métodos de um investigadormarbnunesAinda não há avaliações
- Casas históricas de Santana de ParnaíbaDocumento14 páginasCasas históricas de Santana de ParnaíbaMaria Luiza MartinsAinda não há avaliações
- O paraíso entre luzes e sombras: Representações de natureza em fontes fotográficas (Londrina, 1934-1944)No EverandO paraíso entre luzes e sombras: Representações de natureza em fontes fotográficas (Londrina, 1934-1944)Ainda não há avaliações
- Tória, o Vigor Com Que Continuava Novas Empresas, A Confiança Com QueDocumento8 páginasTória, o Vigor Com Que Continuava Novas Empresas, A Confiança Com QueThais NunesAinda não há avaliações
- Anissa, Resenha 01 - UM SERTÃO NO PAPELDocumento5 páginasAnissa, Resenha 01 - UM SERTÃO NO PAPELSalt FlutAinda não há avaliações
- Acervo - Pablo Antonio IglesiasDocumento24 páginasAcervo - Pablo Antonio IglesiasPablo MagalhãesAinda não há avaliações
- Direito Autoral No Cordel I-EbpcDocumento13 páginasDireito Autoral No Cordel I-EbpcGwan Silvestre Arruda TorresAinda não há avaliações
- Familias LagunensesDocumento270 páginasFamilias LagunensesMauro Esteves92% (25)
- Familias LagunensesDocumento270 páginasFamilias LagunensesRafael MachadoAinda não há avaliações
- Entrevista com Barbara Weinstein sobre migrações e trabalhos na AmazôniaDocumento10 páginasEntrevista com Barbara Weinstein sobre migrações e trabalhos na AmazôniaRegi XavierAinda não há avaliações
- Tomo IDocumento620 páginasTomo Imario_bacal100% (1)
- Escrita da História e construção do regional na obra de Arthur ReisNo EverandEscrita da História e construção do regional na obra de Arthur ReisAinda não há avaliações
- Sertão, Fronteira, Brasil: Sertão, Fronteira, Brasil Imagens de Mato Grosso no mapa da civilizaçãoNo EverandSertão, Fronteira, Brasil: Sertão, Fronteira, Brasil Imagens de Mato Grosso no mapa da civilizaçãoAinda não há avaliações
- Dois romances regionais: Vidas Secas e Dois IrmãosDocumento10 páginasDois romances regionais: Vidas Secas e Dois IrmãosCaroliny AraújoAinda não há avaliações
- Homens verticais ao sol: a construção do vaqueiro em Eurico Alves Boaventura (1928-1963)No EverandHomens verticais ao sol: a construção do vaqueiro em Eurico Alves Boaventura (1928-1963)Ainda não há avaliações
- WERNECK, Ronaldo. Suplemento - A Modernidade Perene de CataguasesDocumento40 páginasWERNECK, Ronaldo. Suplemento - A Modernidade Perene de CataguasesMariana RossinAinda não há avaliações
- O Mar, a Pesca, a Ponta dos Búzios: pequena história de Armação dos BúziosNo EverandO Mar, a Pesca, a Ponta dos Búzios: pequena história de Armação dos BúziosAinda não há avaliações
- Secretário Geral de Saúde e Assistência Euclydes Carvalho de OliveiraDocumento3 páginasSecretário Geral de Saúde e Assistência Euclydes Carvalho de OliveiraRafael MartinsAinda não há avaliações
- POEMA DE NATAL 2018 ApresentaçõesDocumento48 páginasPOEMA DE NATAL 2018 ApresentaçõesRafael MartinsAinda não há avaliações
- Antônio Mourão Vieira Filho - RDocumento3 páginasAntônio Mourão Vieira Filho - RRafael MartinsAinda não há avaliações
- Alair Accioli Antunes, Secretário Geral de Educação e CulturaDocumento2 páginasAlair Accioli Antunes, Secretário Geral de Educação e CulturaRafael MartinsAinda não há avaliações
- TatcherDocumento34 páginasTatcherRafael MartinsAinda não há avaliações
- Migrações Contemporâneas e A Escola PúblicaDocumento22 páginasMigrações Contemporâneas e A Escola PúblicaRafael MartinsAinda não há avaliações
- Participação política não eleitoral em CopacabanaDocumento37 páginasParticipação política não eleitoral em CopacabanaRafael MartinsAinda não há avaliações
- Eitel Pinheiro de Oliveira LimaDocumento3 páginasEitel Pinheiro de Oliveira LimaRafael MartinsAinda não há avaliações
- A institucionalização da fonografia no Rio de 1940Documento34 páginasA institucionalização da fonografia no Rio de 1940Rafael MartinsAinda não há avaliações
- O acolhimento de refugiados sírios no Rio e as Relações InternacionaisDocumento25 páginasO acolhimento de refugiados sírios no Rio e as Relações InternacionaisRafael MartinsAinda não há avaliações
- A Proteção Aos Migrantes Venezualanos No Rio de JaneiroDocumento23 páginasA Proteção Aos Migrantes Venezualanos No Rio de JaneiroRafael MartinsAinda não há avaliações
- Debates Sobre Ensaismo e Suplemento LiterárioDocumento34 páginasDebates Sobre Ensaismo e Suplemento LiterárioRafael MartinsAinda não há avaliações
- A Independência do Brasil e o papel do Rio de JaneiroDocumento6 páginasA Independência do Brasil e o papel do Rio de JaneiroRafael MartinsAinda não há avaliações
- Crianças Migrantes No Rio de JaneiroDocumento25 páginasCrianças Migrantes No Rio de JaneiroRafael MartinsAinda não há avaliações
- A Esplanada Corbusiana de Reidy para o CasteloDocumento21 páginasA Esplanada Corbusiana de Reidy para o CasteloRafael MartinsAinda não há avaliações
- Imigrantes Brancos e Migrantes Negros Na Cidade Do RioDocumento20 páginasImigrantes Brancos e Migrantes Negros Na Cidade Do RioRafael MartinsAinda não há avaliações
- O Brasil Como Lboratório RacialDocumento27 páginasO Brasil Como Lboratório RacialRafael MartinsAinda não há avaliações
- A Intangível Realidade: Atmosferas, Encontros e Percepções: Betty MirocznikDocumento10 páginasA Intangível Realidade: Atmosferas, Encontros e Percepções: Betty MirocznikMayck Mattioli LimaAinda não há avaliações
- A Grande Aceleração no CerradoDocumento36 páginasA Grande Aceleração no CerradoRafael MartinsAinda não há avaliações
- O Apostolado Postitivista Do BrasilDocumento19 páginasO Apostolado Postitivista Do BrasilRafael MartinsAinda não há avaliações
- História Jesuítas BrasilDocumento117 páginasHistória Jesuítas BrasilCarlos A. Page100% (1)
- Um Sonho Conto PDFDocumento2 páginasUm Sonho Conto PDFRafael MartinsAinda não há avaliações
- Sobre o Tráfico de EscravosDocumento36 páginasSobre o Tráfico de EscravosRafael MartinsAinda não há avaliações
- Presença Do Passado No Brasil ImperialDocumento22 páginasPresença Do Passado No Brasil ImperialRafael MartinsAinda não há avaliações
- Inherit The Holy MountainDocumento4 páginasInherit The Holy MountainRafael MartinsAinda não há avaliações
- Alforrias e Tamanho Das Posses PDFDocumento22 páginasAlforrias e Tamanho Das Posses PDFRafael MartinsAinda não há avaliações
- Presença Do Passado No Brasil ImperialDocumento22 páginasPresença Do Passado No Brasil ImperialRafael MartinsAinda não há avaliações
- Artigo - Mediadores Do SagradoDocumento36 páginasArtigo - Mediadores Do SagradoRafael MartinsAinda não há avaliações
- A Autoridade, o Desejo e A Alquimia Política PDFDocumento28 páginasA Autoridade, o Desejo e A Alquimia Política PDFRafael MartinsAinda não há avaliações
- 100 21996717061 - Func - Publi - RJDocumento24 páginas100 21996717061 - Func - Publi - RJGabriel GustavoAinda não há avaliações
- História e música de SP: Banda da Força Pública 1890-1930Documento259 páginasHistória e música de SP: Banda da Força Pública 1890-1930eliezer da silva nascimentoAinda não há avaliações
- Extensão da escolaridade no BrasilDocumento431 páginasExtensão da escolaridade no BrasilJustin WilderAinda não há avaliações
- Teatro narrativo: Estudo comparativo dos romances encenados por Aderbal Freire-Filho e João BritesDocumento264 páginasTeatro narrativo: Estudo comparativo dos romances encenados por Aderbal Freire-Filho e João BritesThaïsVasconcelosAinda não há avaliações
- Rio de Janeiro 2020-12-18 CompletoDocumento84 páginasRio de Janeiro 2020-12-18 CompletoJohn David CostaAinda não há avaliações
- Diretrizes Câncer Colo Do Útero PDFDocumento118 páginasDiretrizes Câncer Colo Do Útero PDFSabrina AraújoAinda não há avaliações
- Tese - Felipe Ronner PDFDocumento176 páginasTese - Felipe Ronner PDFFelipe RonnerAinda não há avaliações
- Guia Medico Completo Essencial RJDocumento102 páginasGuia Medico Completo Essencial RJDavid MiguelAinda não há avaliações
- Calendário de eventos literários e feiras do livroDocumento184 páginasCalendário de eventos literários e feiras do livroAndre QuintaoAinda não há avaliações
- Caderno CBLA vf1Documento372 páginasCaderno CBLA vf1Rogério TilioAinda não há avaliações
- Entrevista Paulo Mendes Da Rocha - Caros Amigos - Abril de 2002Documento16 páginasEntrevista Paulo Mendes Da Rocha - Caros Amigos - Abril de 2002paulo_linanAinda não há avaliações
- A Cabloca Mariana e A Sua Corte AjuremadaDocumento150 páginasA Cabloca Mariana e A Sua Corte AjuremadaMatheus100% (2)
- Língua Portuguesa e Literatura BrasileiraDocumento85 páginasLíngua Portuguesa e Literatura BrasileiraLiliane Costa FerreiraAinda não há avaliações
- Ciência, educação e sociedade no Brasil dos anos 1960Documento312 páginasCiência, educação e sociedade no Brasil dos anos 1960Mesalas SantosAinda não há avaliações
- Valladares FavelaDocumento102 páginasValladares FavelaJuanFernandoLopezLondoñoAinda não há avaliações
- Fichamento Tavares de LyraDocumento12 páginasFichamento Tavares de LyraIonara Costa100% (1)
- Revista IasfaDocumento40 páginasRevista IasfaPedro Branco BatistaAinda não há avaliações
- Os Medicos Do Espaco (Ronie Lima)Documento181 páginasOs Medicos Do Espaco (Ronie Lima)Юрий ЮрийAinda não há avaliações
- Relatório de Gestão UFRRJ 2014Documento349 páginasRelatório de Gestão UFRRJ 2014Everton CaneveloAinda não há avaliações
- Dançar Nos Fez Um Pulo, Estudo AntropológicoDocumento184 páginasDançar Nos Fez Um Pulo, Estudo Antropológicopaulinhoparda1Ainda não há avaliações
- Estágio Supervisionado IV: Regência em História no Ensino MédioDocumento10 páginasEstágio Supervisionado IV: Regência em História no Ensino MédioMagnun BarbosaAinda não há avaliações
- Transporte irregular dos coletores de lixoDocumento20 páginasTransporte irregular dos coletores de lixoAndrey FigueiredoAinda não há avaliações
- Resistência aos números na favelaDocumento23 páginasResistência aos números na favelaGuilhermo AderaldoAinda não há avaliações
- Conhecendo o ProjetoDocumento6 páginasConhecendo o ProjetoBeneAinda não há avaliações
- Jaques, Paola Berenstein - Corpografias UrbanasDocumento8 páginasJaques, Paola Berenstein - Corpografias UrbanasDébora GomesAinda não há avaliações
- Genese Da Rede Urbana No Norte e NoroestDocumento16 páginasGenese Da Rede Urbana No Norte e NoroestRonaldo SantosAinda não há avaliações
- Evolução político-administrativa RSDocumento4 páginasEvolução político-administrativa RSChristian LealAinda não há avaliações
- Santa Rosa 1438Documento16 páginasSanta Rosa 1438JORNAL SANTA ROSAAinda não há avaliações
- Mapeando ausências na pandemiaDocumento15 páginasMapeando ausências na pandemiaDiogoAinda não há avaliações
- Os impasses da sucessão na agricultura familiarDocumento120 páginasOs impasses da sucessão na agricultura familiarValber OliveiraAinda não há avaliações