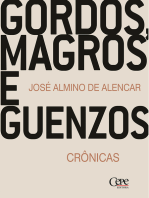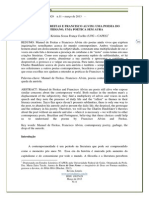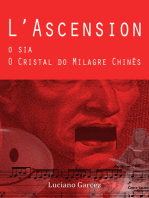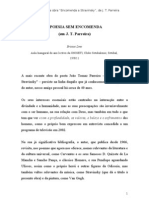Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A ideologia da memória na poesia de Tolentino Mendonça
Enviado por
Maria Clara0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
13 visualizações4 páginasEste documento analisa a presença pública da poesia em Portugal e critica o uso de clichês na poesia contemporânea. Aponta que a poesia parece cada vez mais "barricada em pequenas editoras" e que há uma "atomização do campo poético". Analisa o livro "Introdução à Pintura Rupestre" de José Tolentino Mendonça, argumentando que usa uma "ideologia da memória" que idealiza a infância e retrata o passado de forma estereotipada.
Descrição original:
Título original
Tolentino
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoEste documento analisa a presença pública da poesia em Portugal e critica o uso de clichês na poesia contemporânea. Aponta que a poesia parece cada vez mais "barricada em pequenas editoras" e que há uma "atomização do campo poético". Analisa o livro "Introdução à Pintura Rupestre" de José Tolentino Mendonça, argumentando que usa uma "ideologia da memória" que idealiza a infância e retrata o passado de forma estereotipada.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
13 visualizações4 páginasA ideologia da memória na poesia de Tolentino Mendonça
Enviado por
Maria ClaraEste documento analisa a presença pública da poesia em Portugal e critica o uso de clichês na poesia contemporânea. Aponta que a poesia parece cada vez mais "barricada em pequenas editoras" e que há uma "atomização do campo poético". Analisa o livro "Introdução à Pintura Rupestre" de José Tolentino Mendonça, argumentando que usa uma "ideologia da memória" que idealiza a infância e retrata o passado de forma estereotipada.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 4
Portugal é um país paradoxal.
Tem como um dos seus ícones um poeta – que
encontramos a qualquer esquina da cidade de lisboa –, teve recentemente um ministro
também ele poeta, um candidato à presidência da República que escreve em verso, tem
Pedro Mexia, um dos intelectuais portugueses mais interessantes e profundo conhecer
deste ramo da literatura, tem uma quantidade de comentadores que, todas as semanas,
recomendam uma miríade de livros (entre eles poesia, mas não só), tem José Tolentino
Mendonça, poeta, comendador, cardeal e que recentemente presidiu, a convite do
presidente da República, às comemorações do 10 de Junho; há programas de televisão
em que a presença da poesia é bastante significativa, em conjunto com o número cada
vez maior de festivais para todos os gostos onde a poesia continua a ser encarada
segundo modelos clássicos, faltando apenas a coroa de louros que, outrora, encimava a
cabeça do poeta laureado, e uma infinidade de revistas que parecem nascer e morrer ao
ritmo de uma por semana.
Esta presença pública – e publicada –, que varia entre o pastiche da antiga função
nobre da poesia, as boas intenções de uma retórica progressista de base republicana (a
literatura como religião laica, moda francesa que há quem tente importar) e uma lógica
promocional cujo impacto deve andar próximo do nulo, é inversamente proporcional ao
real peso da poesia. É o pequeno segredo sujo de toda esta visibilidade pública da
poesia, que parece cada vez mais barricada em pequenas editoras com tiragens cada vez
menores (uma delas, a Douda Correria, chegou a dada altura a fazer tiragens de 50
exemplares, mostrando a mais completa falência da edição), num campo poético cada
vez mais atomizado. Há quem veja nesta atomização, para a qual contribui a completa
ausência da crítica (mas os poetas não querem crítica, querem publicidade), uma
oportunidade e a libertação dos antigos constrangimentos – opinião particularmente
inane de quem vê felicidade na mais extrema miséria, não percebendo o laço que une a
atomização à reificação, para usar um termo caído em desuso.
Quem se atenha, no entanto, a essa presença pública da poesia, ao funcionamento
que tem dentro de um certo circuito que vai da televisão aos jornais e a certas editoras,
ao regime discursivo, se assim se pode falar, que parece controlar tudo quanto é dito
sobre ela, facilmente percebe que há um conjunto de clichés poéticos que chega a
invadir a própria poesia – e longe parecem ir os tempos em que Barthes reclamava para
a “sociedade dos amigos do texto” esse falanstério onde os únicos que não entrariam
seriam os “maçadores de todas as espécies, que decretam a forclusão do texto e do seu
prazer”. É uma poesia que se torna, de facto, indistinguível com o discurso público que
a rodeia e que parece uma sua continuação.
Um exemplo sintomático desta desvitalização da poesia, que é inversamamente
proporcional à invasão do poético, é o mais recente livro de José Tolentino Mendonça,
Introdução à Pintura Rupestre, cujo subtítulo poderia ser “Experimentação sobre o
cliché”. Tem uma ou outra imagem interessante (“Considerai as vossas memórias pré-
históricas/ as primeiras declarações de amor pronunciadas/ com lábios de sangue”),
poemas em que a palavra poética se torna pensamento (“A criança que chora”, por
exemplo, ou “A alegria”) e, quando se liberta da pequena vertigem (auto?)-biográfica,
consegue, por vezes, alguns momentos de fulgor – apesar de estes, tantas vezes,
saberem sempre a algo já visto.
Mesmo se não tivermos em conta um problema bastante actual (o livro é uma
encenação de memórias que se passam em África, mas, aparentemente, não há quase
negros na África de Tolentino Mendonça, também ela cheia de clichés), o que
encontramos é o desfilar de uma infância pontuada pela “alegria/febril”, pela
“contemplação da azáfama anónima”, por uma “cena auroral”, por “espanto”, por urros
de entusiasmo onde a existência “era uma coisa selvagem e simples” (a paisagem
africana como lugar dessa existência “selvagem e simples” não é propriamente uma
novidade e tem qualquer coisa de problemático), por objectos que preservam “o enigma/
o interdito, a desfasagem” (também eles, como tudo, imbuídos de fascinação) e que são
“um assombramento na escritura do mundo”, pela beleza (matinal?) do mundo – e
mesmo o cão já não é bem um animal, mas transporta “a língua materna antes da lua/
iluminar a terra”, numa espécie de mundo anterior à queda, onde o homem era senhor
da criação sem, no entanto, a dominar.
Da mesma forma que a infância é este território idealizado, totalmente preenchido
de poesia, o ambiente familiar é, igualmente, poesia de parte a parte: o avô (inventado,
como não poderia deixar de ser, porque a imaginação é aqui uma faculdade poética),
“caçador de baleias e ocioso tocador de bandolim”, também ele imbuído de uma
“alegria desembaraçada”, amado, como também não poderia deixar de ser, pela avó,
“correu a rósea luz dos arquipélagos/ tomado por curiosidade ardente”, acabando o
poema em tom idílico, com o avô a tocar bandolim e a avó a cantar “e vinham escutá-
los as lebres/ escondidos na mancha escura/ do mísero ginjal” (a opulência, como se
sabe, é franco motivo poético e o ginjal, assim, só poderia ser mísero). O pai também
aparece, é certo, já não em modo aventureiro, como o avó – é mais difícil inventar
figuras psicanalíticas –, mas em modo de camaradagem, andando de bicicleta e
revelando “um ao outro/ uma cena auroral/ que não era cópia/ que não sei o que era”,
acabando, como o outro poema, em tom maior, assombroso, idílio paradisíaco onde
ambos cantavam, “mesmo se a escutar melhor/ percebíamos serem as ervas/ que
cantavam/ à nossa passagem.”. Tudo canta, incluindo as ervas, neste mundo arrebatado
pela beleza.
A figura central, no entanto, é a avó, a quem é dedicado o longo texto em prosa
(“a quem deixas o teu oiro”) que encerra o livro. E, uma vez mais, o cliché não se faz
esperar. Essa avó, obviamente, só poderia ser analfabeta, para melhor garantir a
autenticidade do conhecimento oral em que se encontra imbuída – quanto mais
analfabeta, maior a capacidade de transportar esse conhecimento oral, auroral e matinal;
é o bom selvagem, que não sabe nada, mas conhece muito, uma tentativa não muito
conseguida de reactivar o contador de histórias de um conhecido filósofo alemão.
“Se antes me perguntassem, estaria pronto a jurar que a minha avó
analfabeta sabia uma quantidade colossal de romances orais, e que ela foi a
minha primeira e inesquecível informante. E mais: foi o meu bosque, a
minha viagem, o meu livro. E também um primordial amor”
Todo este cenário idílico e paradisíaco, cheio de espanto e assombro, mais não é
que uma particular ideologia da memória que, volta e meia, ataca e contamina a poesia,
como se esta, um pouco como Hércules que limpa os estábulos sem qualquer nojo,
viesse espargir com o seu perfume toda e qualquer matéria. É certo que o espectro da
guerra colonial aparece aqui e ali e que a destruição fulmina os últimos momentos do
livro (“Ela pode ter calado o seu mundo para fugir ao crime de destruição daquele,
equivalentemente eleito e núbil”), mas o espanto e o assombro são de tal ordem que
estes pequenos desvios à ordem natural das coisas não chega para nos retirar do idílio.
"Com que arrebatamento os amei
nesses meses de internamento
eles tão belos e estranhos
traziam até mim sem saber o contínuo
murmúrio da água a viajar algures
a extensão da casa ao longo do manguezal
a claridade não dissimulada
e eu de coração exultante
colecionando essas imagens
sem nenhum nexo”
É uma infância submetida a esta ideologia da memória onde todos os momentos
(incluindo esse, onde o sujeito poético se encontra hospitalizado) são arregimentados
para esse poético onde as ervas cantam, os homens regressam do mar alegres e
contentes – um pescador talvez diga o contrário, mas ele não tem tempo para
contemplações –, as avós cantam e contam histórias, os avós tocam, os animais são, no
máximo, parentes afastados e o mundo é espanto e assombro. A quantidade de vezes
que uma certa poesia repete à saciedade esta imagem da infância (uma infância bastante
infeliz, diga-se, com tanto espanto e beleza por todos os lados) mostra tanto a sua
incapacidade em interrogar um cliché que se encontra bastante presente no discurso
público, a sua incapacidade de inventar um outro modo de dizer a infância, como a sua
subjugação a um regime discursivo cujo exemplo maior é a peça jornalística – onde a
infância é, obviamente, lugar da inocência, do espanto e do assombro.
O mesmo se poderia dizer da referência à pintura rupestre. Tolentino Mendonça,
em epígrafe, parece tentar remeter essa referência a George Bataille e aos textos que
este tem sobre essa manhã de festa da arte – o que não significa, obviamente, submeter
o livro às teses deste pensador francês. É certo que a referência à pintura rupestre é uma
metáfora e que remete, também ela, para essa ideologia da memória onde os começos
são sempre idílicos. Mas talvez fosse interessante ter levado a metáfora – e Bataille – à
letra. Aí descobriria que o começo não é nada idílico, que estas pinturas e estes
desenhos, apesar da manhã de festa, são indistinguíveis do absolutismo do real de que
fala Hans Blumenberg, isto é, de um mundo que é preenchido por violência e que todas
essas imagens são uma forma de ordenar o caos. Ou, para terminar com Brecht: “não
reconhecemos mundo que não seja desordem. Seja o que for que as universidades
sussurrem acerca da harmonia grega, o mundo de Ésquilo estava cheio de lutas e de
horror, assim como o de Shakespeare e o de Homero, o de Dante e o de Cervantes, o de
Voltaire e o de Goethe.”. Tudo o resto é ideologia da memória e poesia no mau sentido
da palavra.
Você também pode gostar
- Orações Perigosas - Craig GroeschelDocumento209 páginasOrações Perigosas - Craig GroeschelSandra Barros100% (1)
- Moraes, Vinicius - Sonetos PDFDocumento103 páginasMoraes, Vinicius - Sonetos PDFthaisgonsalezAinda não há avaliações
- A Tarde de Um Fauno e Outros Poemas - Stéphane MallarméDocumento46 páginasA Tarde de Um Fauno e Outros Poemas - Stéphane Mallarmémmg.opsAinda não há avaliações
- Pérolas Da Sabedoria CristãDocumento65 páginasPérolas Da Sabedoria CristãLuizFernandoLopesAinda não há avaliações
- Apo ThesisDocumento339 páginasApo ThesisCauan Alves100% (1)
- Cartas Devolvidas - João RibeiroDocumento280 páginasCartas Devolvidas - João RibeiroGaio Catulo Heautontimoroumenos100% (1)
- Suplemento Pernambuco #194: Sylvia Plath, 90 anos, e os ecos de uma poeta do futuro.No EverandSuplemento Pernambuco #194: Sylvia Plath, 90 anos, e os ecos de uma poeta do futuro.Ainda não há avaliações
- Metáforas TerapeuticasDocumento17 páginasMetáforas TerapeuticasElizabeth ErdmannAinda não há avaliações
- O Soneto na Poesia de Vinícius de MoraesDocumento102 páginasO Soneto na Poesia de Vinícius de MoraesTaís AlvinoAinda não há avaliações
- Dois poemas inglesesDocumento97 páginasDois poemas inglesesDamasio Maria Soares0% (1)
- Um poeta à sombra da estante: Augusto Meyer e os Poemas de BiluDocumento72 páginasUm poeta à sombra da estante: Augusto Meyer e os Poemas de BiluaainstenAinda não há avaliações
- O Decodificador Estelar - O Método Energético de Ativação Da Glândula - PinealDocumento99 páginasO Decodificador Estelar - O Método Energético de Ativação Da Glândula - PinealAlexandre Da Silva LopesAinda não há avaliações
- Eugénio de Andrade e a busca do princípioDocumento13 páginasEugénio de Andrade e a busca do princípiorosangelacosta2120Ainda não há avaliações
- A NOVA POESIA BRASILEIRA VISTA POR SEUS POETASDocumento40 páginasA NOVA POESIA BRASILEIRA VISTA POR SEUS POETASSoutoAndersonAinda não há avaliações
- Carlos Alberto Nunes - Os Brasileidas PDFDocumento304 páginasCarlos Alberto Nunes - Os Brasileidas PDFAndre100% (1)
- 140 Questões Corpo e Movimento Aliny GuerreiroDocumento60 páginas140 Questões Corpo e Movimento Aliny Guerreirogeisiane fiorottiAinda não há avaliações
- Variações para silêncio e iluminaçãoDocumento171 páginasVariações para silêncio e iluminaçãoRoberta Gonçalves100% (1)
- Libertinagem - Manoel BandeiraDocumento9 páginasLibertinagem - Manoel Bandeiramentes50% (2)
- Glauco Mattoso - Poesia DigestaDocumento90 páginasGlauco Mattoso - Poesia Digestamaximus93Ainda não há avaliações
- Obrascompletas Teixeira de PascoaesDocumento338 páginasObrascompletas Teixeira de Pascoaesdiogovaladasponte771367% (3)
- MariaDocumento56 páginasMariaRui Sousa100% (1)
- Cancioneiro Popular - Jaime CortesãoDocumento196 páginasCancioneiro Popular - Jaime CortesãoAlexandre Silva100% (2)
- Modernismo e a Semana de 22Documento15 páginasModernismo e a Semana de 22Marcelo MendoncafilhoAinda não há avaliações
- O poeta Jorge de Sena e o diálogo entre a poesia e as artes visuaisDocumento229 páginasO poeta Jorge de Sena e o diálogo entre a poesia e as artes visuaisFelipe Castro100% (1)
- Transpaixão - A desnudada poesia de Waldo MottaDocumento5 páginasTranspaixão - A desnudada poesia de Waldo MottaernestoAinda não há avaliações
- E o Teu Nome É Liberdade!Documento3 páginasE o Teu Nome É Liberdade!Adriana Freire NogueiraAinda não há avaliações
- Usos em Ura Cinecura PDFDocumento60 páginasUsos em Ura Cinecura PDFFernanda DrummondAinda não há avaliações
- Exercícios de Literatura ParnasianismoDocumento7 páginasExercícios de Literatura ParnasianismoLaerteTarginoAinda não há avaliações
- Libertinagem-Manoel BandeiraDocumento5 páginasLibertinagem-Manoel BandeiraDri RochaAinda não há avaliações
- Zona de Sombra (GPELE)Documento6 páginasZona de Sombra (GPELE)gutoleiteAinda não há avaliações
- Uma poesia do cotidiano e do restoDocumento16 páginasUma poesia do cotidiano e do restoMarllon ValençaAinda não há avaliações
- Jeronimo Mendes-Historia Da Poesia UniversalDocumento115 páginasJeronimo Mendes-Historia Da Poesia UniversalGermano Kruse JuniorAinda não há avaliações
- O poeta sonhado de PinaDocumento8 páginasO poeta sonhado de PinapalomaAinda não há avaliações
- Ronaldo Cunha Lima - Cruz e SousaDocumento6 páginasRonaldo Cunha Lima - Cruz e SousaEsperidião AminAinda não há avaliações
- Glauco Mattoso - Apprendiz de CeremoniasDocumento15 páginasGlauco Mattoso - Apprendiz de Ceremoniasmaximus93Ainda não há avaliações
- Os Cem Sonetos (Com Prefácio de Mayer Garção)Documento144 páginasOs Cem Sonetos (Com Prefácio de Mayer Garção)Marcelo ToledoAinda não há avaliações
- As múltiplas relações do fado com as artes ao longo de mais de um séculoDocumento590 páginasAs múltiplas relações do fado com as artes ao longo de mais de um séculoAlexsandro CenteioAinda não há avaliações
- Salomão Rovedo-Farofa de CordelDocumento58 páginasSalomão Rovedo-Farofa de CordelSalomão RovedoAinda não há avaliações
- Poesia de Drummond - Na Trilha Dos EnigmasDocumento15 páginasPoesia de Drummond - Na Trilha Dos EnigmasmoyseshootsAinda não há avaliações
- Textos Apoio Modernismo e VanguardasDocumento13 páginasTextos Apoio Modernismo e VanguardasMargarida PintoAinda não há avaliações
- Tempo de Fantasmas (Alexandre ONeill)Documento40 páginasTempo de Fantasmas (Alexandre ONeill)Ianarah Lívia Braga LopesAinda não há avaliações
- Textos Da Oficina PoéticaDocumento55 páginasTextos Da Oficina Poéticaapi-3833129100% (2)
- A Poesia de Conceição Lima o Sentido Da História Das Ruminações Afetivas - Inocencia MataDocumento19 páginasA Poesia de Conceição Lima o Sentido Da História Das Ruminações Afetivas - Inocencia MataalineAinda não há avaliações
- Soares de PassosDocumento10 páginasSoares de PassosNanáPinheiroAinda não há avaliações
- O Romantismo no Brasil e na EuropaDocumento5 páginasO Romantismo no Brasil e na EuropaJULIO CEZAR FRANCISCO MARTINSAinda não há avaliações
- A crítica de Gombrowicz à poesia pura e ao mundo isolado dos poetasDocumento5 páginasA crítica de Gombrowicz à poesia pura e ao mundo isolado dos poetasRodrigo Lobo DamascenoAinda não há avaliações
- Apresentação Da ObraDocumento8 páginasApresentação Da ObraJosé Brissos-LinoAinda não há avaliações
- Libro 000010 PDFDocumento95 páginasLibro 000010 PDFKevin Roger Olazo ParedesAinda não há avaliações
- Nodari - Brasa EnganosaDocumento6 páginasNodari - Brasa EnganosaBernardoBrandaoAinda não há avaliações
- A poesia de Caetano da Costa Alegre entre o Romantismo e o interdito socialDocumento20 páginasA poesia de Caetano da Costa Alegre entre o Romantismo e o interdito socialBarbara DuarteAinda não há avaliações
- 05472#MeuPDF George Sand - ELA E ELEDocumento106 páginas05472#MeuPDF George Sand - ELA E ELEFausto MenezesAinda não há avaliações
- A crítica da linguagem na poesia de Adília LopesDocumento21 páginasA crítica da linguagem na poesia de Adília LopesAndré CapiléAinda não há avaliações
- O Episódio Da MadalenaDocumento10 páginasO Episódio Da MadalenaDario AndradeAinda não há avaliações
- Álvaro de CamposDocumento9 páginasÁlvaro de CamposFilipa LogosAinda não há avaliações
- Entrevista revela visão de Sophia Breyner sobre poesia, amor e santidadeDocumento12 páginasEntrevista revela visão de Sophia Breyner sobre poesia, amor e santidadeles_parolesAinda não há avaliações
- PARANHOS, M.C. Castro Alves e A Busca Da PoesiaDocumento15 páginasPARANHOS, M.C. Castro Alves e A Busca Da Poesiaplatiny8Ainda não há avaliações
- Alguns homens do meu tempo: impressões litterariasNo EverandAlguns homens do meu tempo: impressões litterariasAinda não há avaliações
- Alguma Poesia - SlidesDocumento42 páginasAlguma Poesia - SlidesGustavo BatistaAinda não há avaliações
- Walter Benjamin - A Imagem de ProustDocumento11 páginasWalter Benjamin - A Imagem de Prousttito_cps100% (2)
- André GideDocumento4 páginasAndré GideMaria ClaraAinda não há avaliações
- Foucault JornalDocumento4 páginasFoucault JornalMaria ClaraAinda não há avaliações
- Agamben ArendtDocumento4 páginasAgamben ArendtMaria ClaraAinda não há avaliações
- Amândio ReisDocumento6 páginasAmândio ReisMaria ClaraAinda não há avaliações
- Maria Filomena Molder analisa o livro bíblico Qohélet em mais de 200 páginasDocumento4 páginasMaria Filomena Molder analisa o livro bíblico Qohélet em mais de 200 páginasMaria ClaraAinda não há avaliações
- Crítica ao conceito de cânone literário em obra académica portuguesaDocumento4 páginasCrítica ao conceito de cânone literário em obra académica portuguesaMaria ClaraAinda não há avaliações
- João Pedro ValadocxDocumento4 páginasJoão Pedro ValadocxMaria ClaraAinda não há avaliações
- Alexandre AndradeDocumento4 páginasAlexandre AndradeMaria ClaraAinda não há avaliações
- O desejo e a violência na natureza humana primordialDocumento4 páginasO desejo e a violência na natureza humana primordialMaria Clara100% (1)
- Coração Lento: a autocomiseração da poesia tristonhaDocumento4 páginasCoração Lento: a autocomiseração da poesia tristonhaMaria ClaraAinda não há avaliações
- Hölderlin JornalDocumento4 páginasHölderlin JornalMaria ClaraAinda não há avaliações
- CorsoDocumento4 páginasCorsoMaria ClaraAinda não há avaliações
- BeckettDocumento4 páginasBeckettMaria ClaraAinda não há avaliações
- A paixão da literatura nos ensaios de Maurice BlanchotDocumento4 páginasA paixão da literatura nos ensaios de Maurice BlanchotMaria ClaraAinda não há avaliações
- Gonçalo Tavares. Diário Da PesteDocumento4 páginasGonçalo Tavares. Diário Da PesteMaria ClaraAinda não há avaliações
- A LITERATURA COMO DESEJODocumento3 páginasA LITERATURA COMO DESEJOMaria ClaraAinda não há avaliações
- O amor além da morteDocumento4 páginasO amor além da morteMaria ClaraAinda não há avaliações
- Glosas Sem PoemaDocumento4 páginasGlosas Sem PoemaMaria ClaraAinda não há avaliações
- 01 A Segunda Vinda de CristoDocumento9 páginas01 A Segunda Vinda de CristoBispo Paulo Cesar MachadoAinda não há avaliações
- Coração TransformadoDocumento10 páginasCoração Transformadofabio campeloAinda não há avaliações
- Ensinando a próxima geraçãoDocumento4 páginasEnsinando a próxima geraçãoIMW Segunda RegiãoAinda não há avaliações
- Facom F18Documento1.252 páginasFacom F18Pedro ChapadoAinda não há avaliações
- O Poder Da Acao Aluno 2 Dias de Curso 07-07-21 Atualizada FinalDocumento168 páginasO Poder Da Acao Aluno 2 Dias de Curso 07-07-21 Atualizada FinalWell TeixeiraAinda não há avaliações
- Origens da SociologiaDocumento3 páginasOrigens da SociologiaBreno MachadoAinda não há avaliações
- O Centauro GuardiãoDocumento29 páginasO Centauro GuardiãoEvelyn Azevedo RodriguesAinda não há avaliações
- Tentação É Pecado - AnisioDocumento57 páginasTentação É Pecado - AnisioSergio SchmidtAinda não há avaliações
- Jejum e Oração Uma Combinação PoderosaDocumento9 páginasJejum e Oração Uma Combinação PoderosaMoisés RibeiroAinda não há avaliações
- A Importancia Da BibliaDocumento104 páginasA Importancia Da BibliaRejane MalaguttiAinda não há avaliações
- Felipe Barros-Dissertação Geopolitica e ReligiaoDocumento71 páginasFelipe Barros-Dissertação Geopolitica e ReligiaoLetras ConvidaAinda não há avaliações
- Formação em PNL Practitioner - Do Básico Ao Avançado - ApostilaDocumento238 páginasFormação em PNL Practitioner - Do Básico Ao Avançado - ApostilapinheiromarcelinoAinda não há avaliações
- Tipologias e Generos Textuais E1686848751Documento224 páginasTipologias e Generos Textuais E1686848751Denise GuimarãesAinda não há avaliações
- POEMADocumento44 páginasPOEMAMarcos ViníciusAinda não há avaliações
- Descartes - e - Hume - Uma - Análise - Comparativa (Filosofia 11º Ano)Documento7 páginasDescartes - e - Hume - Uma - Análise - Comparativa (Filosofia 11º Ano)Beatriz CarvalhoAinda não há avaliações
- A Administracao Do Centro Espirita (Jose Queid Tufaile Huaixan)Documento56 páginasA Administracao Do Centro Espirita (Jose Queid Tufaile Huaixan)AndreAinda não há avaliações
- 2 - Weedwood - 2002 - A Linguística e Sua HistóriaDocumento80 páginas2 - Weedwood - 2002 - A Linguística e Sua Históriaaline.falcao23Ainda não há avaliações
- Acre, Formas de Olhar e de Narrar - Livro Completo BENTODocumento254 páginasAcre, Formas de Olhar e de Narrar - Livro Completo BENTOFrancisco Bento da SilvaAinda não há avaliações
- Teoria Do Desenvolvimento Humano - Ronald InglehartDocumento19 páginasTeoria Do Desenvolvimento Humano - Ronald InglehartjaoAinda não há avaliações
- O que ficará para a eternidadeDocumento19 páginasO que ficará para a eternidadeJoão Batista FilhoAinda não há avaliações
- Manual Do Sorei Saishi 2022Documento27 páginasManual Do Sorei Saishi 2022Victor MendoncaAinda não há avaliações
- A Pedagogização da Educação e o Saber-FazerDocumento18 páginasA Pedagogização da Educação e o Saber-FazerthalescariasAinda não há avaliações
- Institute Class Nov 20thDocumento86 páginasInstitute Class Nov 20thTales DmitriAinda não há avaliações
- Teoria Humanista 5grupoDocumento11 páginasTeoria Humanista 5grupoAbdul Marcelino Tha PpsAinda não há avaliações