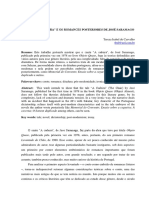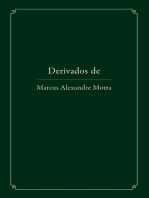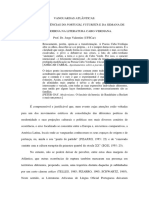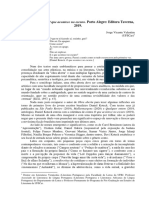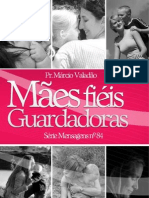Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Lugar Comum, de Maria Velho Da Costa
Enviado por
Jorge Vicente ValentimTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Lugar Comum, de Maria Velho Da Costa
Enviado por
Jorge Vicente ValentimDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Cadernos de Literatura Comparada
Jorge Vicente Valentim*
UFSCar/UNESP-FCLAr
O Lugar Comum (1966) ou a juvenília fic-
cional de Maria Velho da Costa1
Resumo:
Objetiva-se, no presente trabalho, apresentar algumas reflexões em torno de O Lugar Comum (1966), de
Maria Velho da Costa. Primeiro título publicado da autora homenageada, a coletânea reúne 5 contos (ou
ficções curtas) e com temas que já postulam o seu pensamento crítico e criador, consolidado em textos
posteriores. A partir da nomenclatura utilizada por Manuela Nogueira (1995) e Guido Battelli (2005) em
suas análises das obras inaugurais e de juventude de Mário de Sá-Carneiro e Florbela Espanca, respecti-
vamente, pretendemos, aqui, interrogar se O Lugar Comum (1966) também não poderia ser lido como uma
possível juvenília ficcional da autora, onde as suas principais idéias estéticas são colocadas em pauta.
Palavras-chave:
Juvenília ficcional, Ficção portuguesa, Autoria Feminina, Maria Velho da Costa
Abstract:
The aim of this paper is to present some reflections on Maria Velho da Costa’s O Lugar Comum (1966). First
published title of the honored author, the collection brings together 5 short stories (or short fictions) and
themes that already postulate her critical and creative thinking, consolidated in later texts. From the no-
menclature used by Manuela Nogueira (1995) and Guido Battelli (2005) in their analysis of the inaugural
and youth works of Mário de Sá-Carneiro and Florbela Espanca, respectively, we intend to ask if O Lugar
Comum (1966) could be read as a possible ficcional youth of the author, where her main aesthetic ideas are
put on the agenda.
Keywords:
Ficcional youth, Portuguese Fiction, Female Authorship, Maria Velho da Costa
N.o 42 – 06/ 2020 | 123-137 – ISSN 2183-2242 | http:/dx.doi.org/10.21747/21832242/litcomp42a8
123
Cadernos de Literatura Comparada
O Lugar Comum (1966) ou a juvenília ficcional de Maria Velho da Costa
Para Ana Luísa Amaral, que me lançou o desafio de sair dos meus lugares-comuns
e reescrever meus mapas, mesmo momentaneamente, entre cravos e cores de rosa.
Citá-la, aqui, é minha forma de agradecer o gesto de inquietação e generosidade.
Não tanto as palavras, mas a justa adequação delas a tudo o que escolhia, ou se
abandonava a considerar, ganhava uma qualidade de inteireza pesada, de revela-
ção, o que lhe parecia de importância maior não esquecer.
Maria Velho da Costa, O Lugar Comum
Na ficção de Maria Velho da Costa, os afectos oferecem-se como matéria e suporte
maior da sua atenção ao mundo social, instaurando um realismo íntimo onde per-
manentemente se equaciona o humano e os seus dramas de ser.
Maria José Carneiro Dias, Maria Velho da Costa: uma Poética da Au(c)toria
Numa breve visada a publicações destinadas à revisão das obras de escritores portugueses
do início do século XX, vindas a lume nos últimos 25 anos, é possível observar a utilização da
expressão “juvenília” para designar o conjunto de textos produzidos na fase inicial de produ-
ção desses autores, tal como algumas fortunas críticas evidenciam. É o que se pode constatar,
por exemplo, nas edições de títulos dramáticos e poéticos, respectivamente, de Mário de Sá-
-Carneiro (1995) e Florbela Espanca (2005).
Na concepção de Guido Batelli (2005), a partir dos estudos coligidos pelos responsáveis da
Colares Editora, a juvenília florbeliana surge composta por poemas escritos antes de 1916, por-
tanto, num contexto anterior ao da sua obra de estréia (Livro de Sóror Saudade, 1919) e no in-
tercurso da “pré-história da poética” (Dal Farra 1994: 14) da autora de Trocando Olhares (1915-
1917). De forma muito semelhante, também François Castex (1971) e, em seguida, Manuela
Nogueira (Sá-Carneiro 1995) e Maria Aliete Galhoz (Sá-Carneiro 1995) observam e enfatizam
os “trabalhos juvenis” de Mário de Sá-Carneiro, compostos em tenra idade e destinados ao
teatro, sublinhando, sobretudo, uma precoce tendência de “levantar psiquismos singulares”
(apud Sá-Carneiro 1995: 16).
Tanto num caso quanto no outro, vale frisar que, muitas vezes, as obras produzidas no
período inicial da trajetória de um(a) escritor(a) acabam sendo obnubiladas pelas de maturi-
dade, onde o estilo, as tendências, a poética e a sintaxe efabulatórias granjeiam mais atenção
da crítica especializada. Mas nem por isso os primeiros textos produzidos por um(a) autor(a)
perdem a sua relevância, posto que, neles, quase sempre, já podem ser observadas as sementes
que frutificarão ao longo do tempo.
Se os ensaios anteriormente citados corroboram esta propensão em Florbela Espanca e
Mário de Sá-Carneiro, gosto de pensar que tal exercício também poderá ser pensado como um
instrumento de leitura da juvenília de uma escritora da envergadura e da relevância de Maria
Velho da Costa, relevadas, é claro, as distâncias de tempo e contexto cultural que separam os
124 N.o 42 – 06/ 2020 | 123-137 – ISSN 2183-2242 | http:/dx.doi.org/10.21747/21832242/litcomp42a8
Cadernos de Literatura Comparada
Jorge Vicente Valentim
dois primeiros exemplos citados da autora aqui homenageada.
Publicada em 1966, portanto, quando Maria Velho da Costa tinha 28 anos, a coletânea de
contos O Lugar Comum poderia ser pensada como uma obra de juventude, ressaltando-se, no
entanto, que, quando assim me refiro, não a estou enclausurando numa jaula temporal, posto
que não se trata de uma produção da adolescência ou de faixa etária afim. Esclareço, portan-
to, de antemão, que a minha proposta de designar O Lugar Comum como uma composição de
“juvenília ficcional” da autora centra-se exclusivamente na percepção de um texto inaugural
de uma sólida e robusta trajetória literária, anunciador e disseminador de sementes cultivadas
em títulos posteriores.
Mas por que, então, trazer à tona uma obra de início de percurso, num evento que ho-
menageia os 80 anos da vencedora do Prêmio Camões 2002, dona de composições textuais
densas e complexas, como Maina Mendes (1969), Cravo (1976), Casas Pardas (1977) e Myra
(2008)? Primeiro, por uma questão pessoal, de pura inquietação diante da dificuldade em se
encontrar o próprio objeto de investigação. Fora de circulação comercial, O Lugar Comum só
conheceu a edição de 1966, sob a chancela da Livraria Morais Editora, podendo ser encontrado
apenas em bibliotecas e antiquários a valores nem sempre acessíveis. E, em segundo lugar,
pelo quase silenciamento da crítica atual sobre a obra, ainda que, na época do seu apare-
cimento, ela tenha angariado a atenção de nomes significativos do meio acadêmico. Basta
observar a fortuna crítica de Maria Velho da Costa e logo se poderá observar um número
reduzido daqueles que efetivamente se debruçaram sobre este primeiro título da autora.
Poder-se-ia, mesmo, falar de um quase silenciamento. Não total, claro está, em virtude
de nomes como Pinharanda Gomes (1969), João Maia (1966), Nelson de Matos (1967), Mário
Sacramento (1974), Arnaldo Saraiva (1980) e, mais recentemente, Maria José Carneiro Dias
(2018).2 Datado de 1966, vale lembrar que O Lugar Comum é composto por contos escritos en-
tre 1962 e 1965, portanto, num período político turbulento, onde a censura e o controle do
Estado Novo sobre as publicações constituem experiências comprovadas no contexto literário
português dessa época. Apesar disto, periódicos como Vértice e Colóquio – Revista de Artes e
Letras já se encontravam em franca proliferação, algumas, inclusive, com recensões e ensaios
sobre obras posteriores de Maria Velho da Costa.3
Seja em periódicos de longa trajetória, como Brotéria, Ocidente e O Tempo e o Modo, seja em
jornais cotidianos, fato é que a presença de Maria Velho da Costa foi conquistando espaço nes-
ses veículos e cedo angariou a atenção da crítica especializada que nela reconheceu uma voz
autónoma e autêntica na ficção portuguesa do século XX. Dentre os já citados acima, destaco
uma resenha assinada por Mário Sacramento, publicada no Diário de Lisboa, em 30 de março
de 1967, e depois recolhida em livro dedicado a análises literárias. Nela, o ensaísta, conhecido
por sua forte posição de apoio ao Neo-realismo, não deixa de celebrar as potencialidades de O
Lugar Comum e de prever a presença efetiva de sua autora no contexto de uma ficção reflexiva
sobre a própria condição humana:
Não é leitura comum o livrinho de Maria Velho da Costa. Mas merece uma atenção muito especial. É
N.o 42 – 06/ 2020 | 123-137 – ISSN 2183-2242 | http:/dx.doi.org/10.21747/21832242/litcomp42a8
125
Cadernos de Literatura Comparada
O Lugar Comum (1966) ou a juvenília ficcional de Maria Velho da Costa
fortemente individualizada a sua voz, mesmo quando nela perpassa o eco de outras. E se a sua abor-
dagem é íngreme, isso só significa que é um lugar de peregrino – o lugar-comum. A grande tragédia
da vida não é, realmente, a da falta de Deus ou da eternidade, como a apostrofou Unamuno, mas a da
incomunicabilidade, ao nível sequer do mais comezinho (Sacramento 1974: 171).
Apesar do título, como bem ressalta Mário Sacramento, nada de comum ou simples parece
habitar a escrita e o estilo da jovem escritora. Curioso notar que, somente em ensaios redigi-
dos no contexto do pós-25 de Abril de 1974, ou seja, num cenário onde Maria Velho da Costa
já tinha trazido à cena obras como Maina Mendes (1969), Novas Cartas Portuguesas (1972, em
co-autoria com Maria Isabel Barreno e Maria Teresa Horta) e Desescrita (1973), por exemplo,
O Lugar Comum surge com observações pontuais da crítica sobre sua importância na trajetória
literária de sua autora, diga-se, de passagem, quase sempre considerada como uma espécie de
herdeira dialogante de Agustina Bessa-Luís (Lourenço 1977; Seixo 1977 e 1986). No entanto,
se Mário Sacramento (1974) adverte sobre a autonomia da voz da autora estreante em 1966,
mesmo quando o eco intertextual de outras vozes nela ressoa, vale destacar que, anos depois,
Eduardo Lourenço (1977), no seu incontornável “Prefácio” à 2ª edição de Maina Mendes, cha-
ma a atenção para a autenticidade e a mesma autonomia narrativas de Maria Velho da Costa
em relação àquela “libertação suspensa e mesmo transviada que anos antes se inaugurara em
nossas letras e consciência com a prodigiosa tomada de palavra por graça e obra de Agustina
Bessa-Luís” (Lourenço 1977: 9-10). Na sua concepção, o caráter singular do projeto literário
da autora de Desescrita reside, exatamente, num momento em que o discurso feminino des-
ponta com uma potencialidade alicerçada sobre uma diferença, que se quer assumida na sua
condição de sujeito atuante na e da história. Por isso, a sua conclusão não poderia ser outra, a
não ser a de constatar uma linha de afastamento da grande figura que foi Agustina Bessa-Luís,
na medida em que as escritoras reiteram uma liberdade singular na arquitectura das suas res-
pectivas manifestações criadoras.
Desse modo, e nesse contexto, Maria Velho da Costa assume um lugar cimeiro entre os
principais nomes da ficção portuguesa, pois, ainda de acordo com Eduardo Lourenço,
Sujeito da história, da sua própria história e das “histórias” que consagraram essa conquista do seu
reino tão inacessível por tão próximo, o olhar feminino não podia deter-se nos limites de uma vitória
alcançada ainda em termos análogos aos do olhar que o não via. Era necessário escavar sob os muros
deste palácio da ficção análoga para tornar mais visível a ausência que a recente vitória de novo podia
mascarar. Esse contra-palácio, preciso e barroco como nenhum outro dos que se erguem acima da pla-
nície da nossa ficção, surgirá sob a invocação de Maina Mendes. (Lourenço 1977: 12-13)
Ora, se Maina Mendes (1969) aparece como uma obra certeira de maturidade singular, não
se pode negar que as germinações das idéias contidas em títulos posteriores têm em O Lugar
Comum o seu ponto de partida. Nesse sentido, vale relembrar que, depois das primeiras apa-
rições de uma fortuna crítica que logo se expandirá, já no cenário do século XXI, três atentos
126 N.o 42 – 06/ 2020 | 123-137 – ISSN 2183-2242 | http:/dx.doi.org/10.21747/21832242/litcomp42a8
Cadernos de Literatura Comparada
Jorge Vicente Valentim
leitores da obra de Maria Velho da Costa merecem destaque por defenderem a importância
dessa obra de juvenília da autora homenageada.
A primeira consideração é a de Isabel Allegro de Magalhães que, no capítulo intitulado
“Anos 60 – Ficção”, inserido no sétimo volume da História da Literatura Portuguesa, dirigido
por Óscar Lopes e Maria de Fátima Marinho (2002), sublinha a importância do livro aqui em
foco:
Maria Velho da Costa (1938) estreia-se com Lugar comum (1966), que é um conjunto de cinco con-
tos, com páginas de grande beleza, sem dúvida de antologia, que mostram desde já as qualidades de
linguagem e narrativas da autora: a espantosa criação de ambiente (como o do colégio das freiras em
“Exílio menor”), o ritmo e o sabor da prosa com o estilo muito seu (que parece enraizar-se em Agus-
tina), através de um trabalho quase artesanal sobre a palavra que irá marcar a obra sua posterior. [...].
Mostra-se aqui, como em livros seguintes, um conjunto de ambientes, de situações, que se criticam e
ironizam, contra os quais um intenso e contido protesto se anuncia. (Magalhães 2002: 383)
Ainda que a ensaísta aposte naquela herança agustiniana na escrita de Maria Velho da
Costa, não restam dúvidas de que, segundo sua análise, os contos de O Lugar Comum (1966)
têm um papel relevante na trajetória da autora, na medida em que prenunciam um grito, que,
anos mais tarde, como bem sublinhara Eduardo Lourenço (1977), será pressentido nas malhas
ficcionais de Maina Mendes (1969). Dentre as muitas “qualidades de linguagem e narrativas
da autora” (ibidem), Isabel Allegro de Magalhães assinala a capacidade de disposição das es-
feras espaciais e dos ambientes, o domínio sobre a articulação da linguagem na semântica
narrativa e a artesania da palavra poética na construção efabulatória. Certeiro, sem dúvida, é
o diagnóstico observado pela leitora dos contos, se levarmos em consideração que todos esses
detalhes não deixam de confirmar e configurar aquela condição autônoma de liberdade e de
ressonância do grito, que Eduardo Lourenço (1977) tão bem profetizara.
A segunda consideração crítica que merece destaque é a de Jorge Fernandes da Silveira,
reconhecido ensaísta e investigador da produção portuguesa de autoria feminina, que, já nos
anos de 1980 e 1990, dedicava boa parte de suas reflexões à produção ficcional de Maria Velho
da Costa. Em virtude disso, no seu “Prefácio” a Da Rosa Fixa, afirma de maneira incisiva:
Por meio de conto e conta, a totalidade através do fracionado é já, há muito, o modo de a autora de O
Lugar Comum (1966) trabalhar a sua produção literária: a contrapelo de formas aceitas como paradig-
máticas representações da realidade, contra manifestações e manifestos totalitários, escreve atenta às
contradi(c)ções entre a forma literária e o processo social. (Silveira 2014: 11)
Ou seja, na contramão dos lugares-comuns esperados pelo público geral, segundo
Jorge Fernandes da Silveira (2014), Maria Velho da Costa aposta num caminho diverso da-
queles já sedimentados por outros(as) seus(suas) contemporâneos(as), e tal investimento
proporciona-lhe uma condição de destaque, sobretudo, porque tem a coragem de não abrir
N.o 42 – 06/ 2020 | 123-137 – ISSN 2183-2242 | http:/dx.doi.org/10.21747/21832242/litcomp42a8
127
Cadernos de Literatura Comparada
O Lugar Comum (1966) ou a juvenília ficcional de Maria Velho da Costa
mão de pensar o “processo social” desvinculado do seu projeto inventivo. E vale lembrar que,
quando o seu primeiro título vem a lume, os gêneros ficcionais (romance, novela, conto, crô-
nica e narrativa infanto-juvenil) já tinham representantes de fôlego no cenário português, so-
bretudo, no tocante à presença de mulheres escritoras.
Neste sentido, basta lembrar Agustina Bessa-Luís (A Sibila, 1954; A Muralha, 1957; O Susto,
1958; Ternos Guerreiros, 1960; O Sermão de Fogo, 1962), Carmen de Figueiredo (Famintos, 1950;
Vinte Anos de Manicómio, 1951), Fernanda Botelho (Calendário Privado, 1957; O Ângulo Raso,
1958; Xerazade e os Outros, 1964), Isabel da Nóbrega (Os Anjos e os Homens, 1952; Viver com os
Outros, 1964), Judite Navarro (Esta é a minha história, 1947; Terra de Nod, 1961), Lília da Fonseca
(O Relógio Parado, 1961), Manuela Porto (Uma Ingénua: a História de Beatriz, 1948; Doze Histó-
rias sem Sentido, 1951), Maria Archer (Casa sem Pão, 1947; A Primeira Vítima do Diabo, 1954),
Maria Judite de Carvalho (As Palavras Poupadas, 1961; Paisagem sem Barcos, 1963), Natália Cor-
reia (Anoiteceu no Bairro, 1946), Natália Nunes (Autobiografia de Uma Mulher Romântica, 1954;
Regresso ao Caos, 1960; Assembléia de Mulheres, 1964), Natércia Freire (Anel de Sete Pedras,
1952; Liberta em Pedra, 1964), Sophia de Mello Breyner Andressen (A Fada Oriana, 1958; Contos
Exemplares, 1962) e Yvette K. Centeno (Quem se eu gritar, 1962), apenas para exemplificar, com
algumas de suas obras, aquelas autoras que surgiram a partir de 1946, ou seja, vinte anos antes
da estréia de Maria Velho da Costa.
Por fim, a terceira consideração encontra-se num dos grandes e incontornáveis trabalhos
de fôlego sobre a obra de Maria Velho da Costa e a relevância de O Lugar Comum na trajetória da
autora. Trata-se da tese de doutoramento de Maria José Carneiro Dias, publicada em livro, sob
o título Maria Velho da Costa: uma Poética da Au(c)toria (2018). De forma sensível e pontual, a
ensaísta destaca a coletânea de contos como um conjunto de textos onde é possível vislumbrar
um conjunto de “fiapos de vida” (Dias 2018: 290).
Ao afirmar que cada um dos contos de O Lugar Comum representa, erraticamente, “pe-
daços de uma realidade comezinha e sem heroicidade, relatados em sequências narrativas
abertas e difusas onde se privilegia o espaço do íntimo e da subjetivação” (ibidem), Maria José
Carneiro Dias reitera a condição de obra de juvenília, onde muitos desses temas servirão como
pontos germinais para aquilo que sua autora desenvolverá de forma mais espraiada em ro-
mances posteriores.
Depreende-se, portanto, das três linhas analíticas acima uma nítida preocupação em pôr
em relevo a importância da obra de 1966 para a consolidação do estilo e do projeto literários de
Maria Velho da Costa, apostando, inclusive, numa autonomia da escritora já no seu primeiro
título publicado.
Longe, portanto, de ser uma mera coletânea de estréia e do despontar de um percurso em
processo, quero crer que O Lugar Comum (1966) já delineia as nuances determinantes das es-
colhas e demandas temáticas e estéticas de Maria Velho da Costa. Se, como acertadamente su-
blinha Isabel Allegro de Magalhães (2002), o texto inaugural revela um ponto zero arquitetural
da autora em tecer uma voz crítica, onde a resistência e o protesto já se ensaiam, vale frisar, na
esteira do pensamento de Jorge Fernandes da Silveira (2014), a capacidade de se rebelar diante
128 N.o 42 – 06/ 2020 | 123-137 – ISSN 2183-2242 | http:/dx.doi.org/10.21747/21832242/litcomp42a8
Cadernos de Literatura Comparada
Jorge Vicente Valentim
de convenções preestabelecidas e modelos predeterminados por um status quo literário, que
não aceita outras articulações para além dos seus já estabelecidos paradigmas, já se faz pre-
maturamente presente.
Maria Velho da Costa surge como uma aposta evidente à rasura dos lugares comuns, ao
representar, ao longo dos seus contos, situações sociais diversas e, ao mesmo tempo, extre-
mamente conhecidas do público leitor. Da jovem rebelde que, gradativamente, vai desestabi-
lizando todos os alicerces de sua educação e encontra no exercício da escrita a sua maneira de
registrar o seu grito inconformado, em “Exílio menor”, à artista plástica madura, que sai em
busca de novas perspectivas tanto para as deixar com seu discípulo, quanto para as utilizar
como instrumentos de criação, como ocorre em “O lugar comum”; das dores do parto de uma
mulher inominada, em “O furto”, à reação dolorida do filho que põe em xeque a autoridade
do pai, quando se defronta com a morte de um animal na estrada, atropelado pela impru-
dência deste, em “A velada”; ou, ainda, nas intensas e líricas divagações e digressões de uma
voz narrativa, motivada pelo início deflagrado a partir dos versos de William Blake; gosto de
pensar que aquela “intencionalidade contemporânea” em expressar uma aguda agressividade
como “forma de protesto contra um ambiente (ou vários, constituindo afinal prolongamen-
tos do mesmo) caracterizado pelo abafamento, a sufocação, a soturnidade, a petrificação, a
ordem” (Seixo 1977: 124), tão presente em Maina Mendes, como ensina Maria Alzira Seixo, já
comparece ensaiada nas linhas desenvoltas de O Lugar Comum.
Dos espaços reclusos da casa e do colégio religioso (em “Exílio menor”) que despertam
aquela “inadaptação afectiva e social” (ibidem) de Lurdes, jovem escritora em processo de
descoberta, aos meandros sufocantes do hospital e do locus materno (em “O furto”), que des-
pertam a perspectiva do narrador a acompanhar todo o lento e doloroso processo do parto de
uma mulher; da ânsia de liberdade do filho, ora diante da imprudência e do descaso do pai,
ora diante do espectro de uma mãe ausente (em “A velada”) ao espírito inquieto e ao exercício
inquietante de criação de Luiza, a artista plástica de “O lugar comum”, que vai operando uma
recomposição dos meandros espaciais da cidade, com outras cores e perspectivas fora dos
padrões estabelecidos, e, ainda, no fluxo contínuo de uma escrita liberta de convenções nar-
rativas, tal como opera em “Thel”, Maria Velho da Costa vai tecendo e operando, em cada um
dos contos de O Lugar Comum, aquela mesma “irrupção de uma fala tacteante e truculenta”,
na feliz expressão de Manuel Gusmão em sua análise de Casas Pardas (1977), onde se eviden-
ciam “a libertação do contar, a profusão dos modos de narrar e das histórias, a proliferação
das escritas falantes e das falas individuando-se” (Gusmão 1996: 14).
Deste modo, lugares comuns socialmente definidos para as performances femininas
passam a ser questionados em cada um dos textos. Vejamos. Em “Exílio menor”, o lugar da
mulher-filha cordata e obediente vai sendo gradativamente corroído pelo fluxo contínuo do
desejo de criação de Lurdes. A jovem estudante desenvolve uma capacidade analítica que a faz
observar o mundo à sua volta em detalhes e com um poder de captação de minudências dentro
da própria casa:
N.o 42 – 06/ 2020 | 123-137 – ISSN 2183-2242 | http:/dx.doi.org/10.21747/21832242/litcomp42a8
129
Cadernos de Literatura Comparada
O Lugar Comum (1966) ou a juvenília ficcional de Maria Velho da Costa
A partir da primeira infância, as questões em casa, entre os pais, ou mesmo, por vezes, com ela, não
a impediam de se interessar por o que quer que fosse, brincadeira, estudo, leitura ou o seu parado e
mudo amadurecer num conhecimento outro. Os pratos quebravam-se perto dela, a voz da mãe fazia-
-se ouvir entrecortada por soluços e injúrias, os olhos do pai cobriam-se de sulcos avermelhados,
tornavam-se salientes enquanto fitava a mãe, de respiração rouquejante. Lurdes intervinha raramen-
te, aborrecida por a interrupção que lhe era o som dos próprios gritos. Se a sua intervenção não era
apoio da mãe, esta não lhe perdoava. Assim, quando estava realmente desinteressada, tomava o lado
da mãe, pois sabia ser o pai o mais fraco, sabia-o possuído do ódio dos solitários, que é ainda súplica.
(Costa 1966: 38-39)
Tal como o narrador revela, Lurdes está muito mais interessada em adquirir e acumu-
lar conhecimento, no entanto, isto não a impede de começar esse processo de aprendizado e
amadurecimento dentro do ambiente familiar, onde cedo percebe a fragilidade do pai militar
diante do posicionamento mais assertivo da mãe. As pequenas querelas e as mazelas cotidia-
nas acabam por proporcionar uma forma de Lurdes melhor se adequar dentro de situações
desconfortáveis e de conflitos entre os pais. E, nesse conjunto, a jovem vai desenvolvendo um
“mudo amadurecer num conhecimento outro” (idem: 38), tal como nos revela o narrador.
Já em “O furto”, é o papel da mulher-mãe parturiente submissa que vai sendo rasurado.
Numa narrativa forte e de impactante efeito, o leitor depara-se com as angústias, as ansieda-
des, os medos e as expectativas da protagonista, momentos antes de dar à luz:
O homem a seu lado havia perdido o rictus cheio de delicadeza polida. Sabia também já, e por isso
estava bem atento ao ponteiro que acompanhava o corpo dela, bem atento para avisá-la, sabia que
ali nascia e era a mesma sanha que levanta as represas, que se consuma em líquidos ardentes lá onde
começa o aço, a mesma seriedade suada que dilacera premindo um só botão a pedra onde a mina se
abre, o mesmo alargar de pupila que se debruça no laboratório sobre a outrora invisível partícula de
morte, a mesma surda paz do braço que se não move até que lhe seja reconhecida a dignidade do corpo
erecto a que pertence. (idem: 66)
Ao contrário do que se poderia esperar, não é a mitificação da maternidade que se vislum-
bra nas malhas desse conto, muito pelo contrário. São as dores lancinantes do parto que a co-
locam numa dimensão humana, corpórea e palpável, sem perder, no entanto, a sensibilidade
do gesto de dar à luz uma outra vida. Assim, antecedida pela percepção do rompimento da bol-
sa e da saída do líquido amniótico, a verdadeira “água que lhe descia com brandura do corpo”
(idem: 55), até o momento do primeiro contato entre mãe e filho, aquela imagem líquida pare-
ce mudar de local de aparição no corpo feminino e, com uma funcionalidade emotiva, ressurge
como lágrimas sensíveis, aquela “água [que] lhe vinha agora quente dos olhos” (idem: 77).
Não à toa, Urbano Tavares Rodrigues irá chamar “O Furto” de um “conto paradoxal”, em
que decorre “outro parto, bem diverso, acompanhado de raciocínios e sensações intelectuali-
zadas” (Rodrigues 1970: 219). Talvez, porque exatamente a maternidade não é compreendida
130 N.o 42 – 06/ 2020 | 123-137 – ISSN 2183-2242 | http:/dx.doi.org/10.21747/21832242/litcomp42a8
Cadernos de Literatura Comparada
Jorge Vicente Valentim
como um locus paradisíaco (o lugar-comum pré-concebido pela lógica patriarcal?), mas como
um corpo de mulher que se dilata e vivencia as dores do parto e, ao mesmo tempo, se solida-
riza com o ser que dá à luz.
Já em “Thel”, diferente do papel de um narrador preso a um fio narrativo diacrônico, o
terceiro conto assume também uma desobediência declarada, ao não compactuar com a pre-
missa narratológica consagrada a esse tipo de texto: “Não tenho nenhuma história sua para
contar. Nada que saiba que ela haja terminado, nem suponho que nada lhe possa acontecer
de definitivo” (Costa 1966: 82). No fundo, esse conto confirma-se como um texto onde “se-
quências narrativas abertas e difusas” (Dias 2018: 290), a respeito de uma certa personagem
feminina não nomeada, vão se acumulando, até o ápice de um suicídio anunciado, que, por
sua vez, também se dilui, em virtude de uma ênfase espraiada sobre “o espaço do íntimo e da
subjetivação” (ibidem).
Também o lugar-comum do filho à sombra do pai vai sendo destecido em “A velada”.
Se, como sugere Mário Sacramento (1974), a ausência da mãe durante toda a trama revela a
orfandade da criança, não se poderá negar que as carências afetivas são flagrantes a ponto de
o narrador focalizar mais enfaticamente a figura infantil, dando-lhe uma importância muito
maior que os adultos. Sobre estes, pesa mais a ausência e a indiferença, posto que o fato de ser
órfão de mãe não garantiria ao filho uma aproximação maior com o pai. Pelo contrário, este
parece muito mais uma sombra, um espectro, tal como a figura materna morta de quem não
se pode ouvir qualquer resposta aos apelos insistentes do menino:
Nunca estivera só com o pai, assim calados e indo ambos para longe na noite fechada. Inquieto, ora
se afundava no assento, ora se sentava sobre uma das pernas, esgaravatando no escuro arranhões dos
menos recentes, mudando a posição quando a coxa lhe picava surdamente de adormentada. As casas
poucas pareciam construções de papel pardo assentes na palma de uma tremenda mão sombria. [...]
Que aconteceria agora, se um pouco e sempre mais adiante, na cova funda de trevas onde o pai tinha
os olhos pregados, surgisse um tronco desses de floresta e o carro estalasse e ficasse mole e viscoso
como um insecto pisado com curiosa maldade rápida, e dele escorressem cremosos o corpo dele e do
pai? (Costa 1966: 94-95)
Na verdade, a abordagem do conto parece ser bem outra porque aposta numa representa-
ção de carências afetivas e afastamentos familiares, para além das ausências tanto da mãe fa-
lecida, quanto do pai que de presente tem apenas o corpo. Este, aliás, é facilmente vislumbra-
do numa situação mórbida pelo menino, mesmo os dois estando dentro do carro numa viagem
que não parece terminar nunca. Somente o atropelamento de um gato e a esperança de ainda
poder socorrê-lo com vida fazem com que a criança tenha um gesto de carinho para o animal
convalescente: “Velava o sono do gato que aconchegara em redondo no colo, de patas enco-
lhidas e cabeça tombada no arco do braço. Brandamente se entregava a tê-lo assim como uma
boneca para quem se vaia amornar leite num pequeno biberão de plástico roído” (idem: 102).
Tem razão, portanto, Maria José Carneiro Dias, ao afirmar que, em “A velada”, pode se
N.o 42 – 06/ 2020 | 123-137 – ISSN 2183-2242 | http:/dx.doi.org/10.21747/21832242/litcomp42a8
131
Cadernos de Literatura Comparada
O Lugar Comum (1966) ou a juvenília ficcional de Maria Velho da Costa
perceber “a carência afetiva de uma criança e a sua vontade de restaurar a autoridade perdida
do pai” (Dias 2018: 290). Seja porque a reação imediata da figura paterna tenha sido a de tentar
salvar o gato atropelado e, assim, mostrar um “máximo do pedido de perdão que lhe era pos-
sível” (Costa 1966: 103), seja porque somente a relativa presença do espectro da mãe poderia,
quem sabe, devolver a ele o seu papel principal na célula familiar. Não à toa, o desfecho per-
manece em aberto, na medida em que o leitor é surpreendido com uma pergunta inusitada da
criança, logo a sua entrada na casa: “Com a cabeça tombada desse sono de infância anulador
de ausências e em voz de segredo, arrastava os pés pela cozinha solitária e dizia: ‘Mãe, mãe,
a gente matou um gato na estrada’” (idem: 112). Afinal, estaria a mãe morta ou seria, apenas,
mais um preenchimento imaginário de uma criança carente de afeto e da presença do pai?
Por fim, o papel da mulher-artista destinada exclusivamente a um posto mediano surge
como último lugar-comum questionado em “O lugar comum”, conto homônimo ao título e
que encerra essa galeria de “momentos captados [...] erraticamente, na vida das personagens”
(Dias 2018: 290).
A pintora Luzia sai de um comodismo artístico, depois de executar nus masculinos e de
desenvolver diálogos fortuitos com outras personagens, e redescobre a vivacidade das cores e
a dinâmica das formas nos espaços dos bairros lisboetas. Da Lapa aos Restauradores, das feiras
até o Largo do Rossio, a trajetória de Luzia vai sendo desenhada como uma artista que redes-
cobre os meandros e as sutilezas estéticas que o espaço citadino lhe oferece em pujança e vigor:
O Rossio é bem a praça máxima da cidade, seus pombos, suas parcas árvores, suas flores e floristas sub-
jugadas, seus jugulados jorros de água e seu trânsito de homens e carros sempre em círculo. Ali Luzia,
contente um pouco, e temerosa, deixa suas malas no odor de açúcar e cremes macios da pastelaria onde
a conhecem. Dali caminha para buscar as suas novas tintas e materiais, outros rubros, outros verdes,
novas telas, novas massas. (Costa 1966: 149)
Longe, portanto, de ser uma pintora mediana e dona de obras comuns, Luzia surge como
uma mulher ativa no seu papel de artista, como sujeito em demanda num exercício inquieto de
quem não consegue atingir o sossego, porque a arte exige-lhe sempre um movimento contí-
nuo de busca por algo que sabe nunca conseguir atingir. Mal grado os seus objetos retratados
incidam sobre a banalidade de cenas cotidianas com figuras comuns e previsíveis dentro da
cena urbana, gosto de pensar que não poderia ser outro o espaço escolhido para as suas inter-
rogações, afinal, como bem adverte o narrador, logo no início do conto: “A gente da cidade não
parte da cidade com a determinação do definitivo” (idem: 115). Assim, na cidade, a percepção
de uma beleza sutil, prenhe de durezas, vai ampliando o horizonte criador da artista e possibi-
litando enxergar o mundo com olhos mais sensíveis e mais atentos.
Como se percebe, em cada um dos contos, Maria Velho da Costa vai recorrendo a uma de-
sobediência dos papéis e das performances sociais estabelecidas pelas convenções tradicio-
nais. Dispostas nesta ordem, fico a me interrogar se as tramas de cada um dos contos de O
Lugar Comum já não antecipam aquela “ordem feminina com a sua legalidade própria, a sua
132 N.o 42 – 06/ 2020 | 123-137 – ISSN 2183-2242 | http:/dx.doi.org/10.21747/21832242/litcomp42a8
Cadernos de Literatura Comparada
Jorge Vicente Valentim
audácia, os seus valores, a sua fala cada vez mais centrada na escuta de uma diferença assumida
como signo do mundo” (Lourenço 1977: 11-12), conforme alerta Eduardo Lourenço, a respeito
de Maina Mendes?
Ora, não gratuitamente, o primeiro conto, “Exílio menor”, exatamente o que abre a se-
quência da obra, destila nuances autobiográficas, posto que a experiência educacional num
colégio religioso, o impacto diante da presença de um pai militar, as dissonâncias com as
perspectivas da mãe, o enfrentamento com os discursos das freiras e as suas articulações
sócio-afetivas com as companheiras de classe surgem também ao longo da composição
efabulatória, num sugestivo exercício especular. Nesse sentido, como não pensar no gesto
sintomático da protagonista Lurdes, quando encontra efetivamente no exercício da escrita a
sua forma de abranger as realidades sufocantes à sua volta “pelo poder miraculoso do verbo”
(Costa 1966: 19-20)?
Aliás, o narrador destaca a singularidade da personagem na medida em que deixa rever-
berar aquele “prazer da desobediência” (Seixo 1977: 131), tão característico também do estilo
de Maria Velho da Costa:
Se tudo aquilo era a sério, porque lhes havia nos olhos aquele desconforto, aquele pequeno terror es-
trangulado de a não convencer? [...] Mas sabia, Lurdes tinha toda a sabedoria que se pode ter na sua
idade, suspeitava. E a sua suspeita, por um raio de sol, por um calor bom, por um tempo morno, numa
morna capela, levava-a ao reino sem fronteiras do exigir saber parado, exílio dos frágeis, pátria de bem
poucos. (Costa 1966: 27-28)
Toda essa rasura desobediente, seja diante de comportamentos previstos, seja diante de
um espírito inquieto e em estado de ebulição criadora, desencadeia, na minha perspectiva, um
salutar exercício metatextual, evidenciado já neste primeiro conto de O Lugar Comum, para
além das possibilidades autobiográficas ali encontradas. Não à toa, no final de “Exílio Menor”,
Lurdes, entre os seus estudos de Física, abre a janela e passa a perceber a realidade do seu
bairro com outros olhos, movida por um “desejo de dissolução na alegria e na permanência
[que] rasgava-lhe aqui e ali palavras certas” (idem: 51). E, por fim, no desfecho, ficamos com
a sensação de que o narrador persegue pistas de uma possível metatextualidade: “Adormeceu
pouco depois de tentar entender exactamente o reino a vir” (Costa 1966: 52; grifos meus).
Não me parece gratuito, portanto, que aquelas personagens e situações dos 4 contos se-
guintes surjam exatamente depois deste texto, onde a sua protagonista, escritora em processo
de nascimento e consolidação, vislumbra uma continuidade pelo exercício da criação escri-
ta. Neste sentido, se “umas escolhas puxam outras” (Costa 2013), como afirma Maria Velho
da Costa, em entrevista ao jornal Público, não seria possível entender O Lugar Comum como
o espaço nascente de escolhas definidas e seguras no caminho de outras obras por vir? Não
seriam as escolhas de Lurdes um reflexo daquilo que a própria autora projetaria nos contos
seguintes de sua coletânea? Não poderiam estar as projeções da criatura Lurdes, escritora em
devir, numa relação direta e metatextual com a arquitetura temática e estética de sua criadora?
N.o 42 – 06/ 2020 | 123-137 – ISSN 2183-2242 | http:/dx.doi.org/10.21747/21832242/litcomp42a8
133
Cadernos de Literatura Comparada
O Lugar Comum (1966) ou a juvenília ficcional de Maria Velho da Costa
De minha parte, gosto de pensar que todo esse conjunto de laços dialogantes compõe aquele
“realismo do íntimo” (Dias 2018: 347), na feliz expressão de Maria José Carneiro Dias, onde os
dramas do ser da efabulação se entrelaçam com os projetos de criação autoral, equacionando
o humano do criador com o reflexo da criatura. Trata-se, a meu ver, de uma aposta muito
feliz da autora em fazer O Lugar Comum o lugar singular de sua juvenília ficcional, onde cuida-
dosamente o “inesperado fio de todas as histórias” (Costa 1966: 88) surge tecido numa bem
sucedida trama metatextual.
Olhadas em conjunto, as personagens femininas que compõem o elenco de O Lugar Comum
(1966) constituem as primeiras inventivas de Maria Velho da Costa sobre as possibilidades
representacionais do universo multifacetado das mulheres portuguesas. Nesse sentido, a jo-
vem escritora Lurdes, a parturiente inominada, a personagem feminina com quem o narrador
parece estabelecer contato, a mãe espectral e a artista plástica Luzia não deixam de reverberar
aquela “pedrada no charco português machista e conservador” (Dias 2018: 29), pondo a nu um
posicionamento assertivo de sua autora, qual seja, o de “enveredar agora pelos caminhos de
uma liberdade total da criação estética [...] sem preconceitos nem entraves” (ibidem).
À guisa de conclusão, deixo com duas confissões. A primeira delas: não sou um especialista
da obra de Maria Velho da Costa. Perdoem-me os organizadores dessa coletânea de ensaios e
o leitor. Ouvi falar do nome da autora e de dois dos seus livros, Cravo (1976) e O Mapa Cor de
Rosa (1984), numa palestra de Jorge Fernandes da Silveira, num Congresso na UERJ, em 1989,
intitulada “Dos Cravos às Rosas, os mapas de Maria Velho da Costa”. A partir daquela fala,
fiquei obcecado pelos seus textos, mas nunca tive a coragem de encará-los para um exercício
analítico efetivo, fato comprovado nessa minha modesta contribuição. No entanto, diante do
momento em que passamos no Brasil, entendo que recuperar vozes que articulam uma dic-
ção resistente a discursos autoritários e dizimadores da diferença tornou-se uma necessidade
emergente. Neste sentido, a jovem protagonista Lurdes muito tem a ensinar aos leitores (bra-
sileiros, mas não só), afinal,
Combatia por aqueles de cujos movimentos se apiedava com a sua ingênua crença na omnipotência do
saber causas. Quando o real lhe surgia vivo, independente da camada de compreensibilidade em que
o envolvera, impenetrável, nem sequer o constatava, inabalada. Doía-lhe sim, de forma vaga, que a
interferência não fosse facto, logo ali. Porque a sua sabedoria era o que tinha para dar, a partilha da sua
liberdade [...]. (Costa 1966: 22)
A segunda confissão dirige-se exclusivamente à autora homenageada. Ela não irá lem-
brar, mas tive a oportunidade de vê-la e ouvi-la em 1991. Portugal era o país homenageado
na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro naquele ano. A Faculdade de Letras da UFRJ
recebeu uma comitiva de escritores para uma mesa-redonda, composta por Almeida Faria,
João Aguiar, João de Melo, José Cardoso Pires, Maria Velho da Costa, Teolinda Gersão e Natália
Correia. Na ocasião, depois de ouvirmos a voz contundente da autora de A Madona (1968), no
momento de abertura para a plateia, atrevi-me a fazer uma pergunta absolutamente ingênua,
134 N.o 42 – 06/ 2020 | 123-137 – ISSN 2183-2242 | http:/dx.doi.org/10.21747/21832242/litcomp42a8
Cadernos de Literatura Comparada
Jorge Vicente Valentim
típica de um aluno do curso de graduação, movido muito mais pela emoção por estar diante
de um elenco privilegiadíssimo: “como é escrever num Portugal pós-1974, no momento de
redemocratização do país?”.
Percebi, nitidamente, um misto de reações: espanto, surpresa, previsibilidade e curiosi-
dade. E foi Maria Velho da Costa quem, de forma muito pontual, encerrou a sequência de res-
postas. Na ocasião, citou um trecho de Cartas a um Jovem Poeta (1929), de Rainer Maria Rilke e
concluiu, mais ou menos assim: “Você pergunta ao Pelé porque ele joga bola? Certamente não.
Ele é um futebolista porque, talvez, não conseguiria fazer outra coisa, e o faz como se fosse
uma obra de arte, que definitivamente é. Nós somos um pouco como Pelé. Alguns driblam com
mais facilidade do que outros. Escrevo porque não me vejo em outro ofício que não seja este”.
Desde então, a sua obra sempre me pareceu um terreno especial e de difícil acesso, que
merecia uma bússola muito precisa e específica para aventurar-se nele. Não sei se consegui,
mas penso e acredito que O Lugar Comum seja, talvez, a etapa inicial para compreender, na feliz
expressão de Maria Velho Costa, as possibilidades da criação literária, que ela própria defende-
ria, uma década depois, em Cravo (1976). É com suas palavras que encerro minha intervenção:
Do ler histórias ao contá-las há um passo que ratifica para sempre uma convicção perigosíssima – a
realidade que nos dizem pode ser falseada. É preciso estar atento. Pela prática da leitura e escrita sem
suportes sociais imediatos ratificadores, eu soube então, definitiva embora informemente, que a reali-
dade dada se pode modificar. Isto é, tendo como firme posição infantil a perplexidade perante códigos
dissonantes, suspeitei de vez que não só havia de haver outros, como que era possível criá-los. (Costa
1994: 80)
Que assim seja. Bem haja.
N.o 42 – 06/ 2020 | 123-137 – ISSN 2183-2242 | http:/dx.doi.org/10.21747/21832242/litcomp42a8
135
Cadernos de Literatura Comparada
O Lugar Comum (1966) ou a juvenília ficcional de Maria Velho da Costa
NOTAS
* Jorge Vicente Valentim é Mestre e Doutor em Letras Vernáculas (Literatura Portuguesa) pela Faculdade de Letras da UFRJ.
Professor Associado de Literaturas de Língua Portuguesa (Subáreas: Literatura Portuguesa e Literaturas Africanas de Língua
Portuguesa) do Departamento de Letras e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da
UFSCar. Coordenador do Grupo de Estudos Literários Portugueses e Africanos (GELPA) da UFSCar. Autor de ensaios e estudos
críticos, publicou em 2016, “Corpo no outro corpo”: homoerotismo na narrativa portuguesa contemporânea (fruto do seu Estágio
de Pós-Doutoramento, na FLUP, sob a supervisão da Profa. Dra. Isabel Pires de Lima), sob a chancela da EdUFSCar, obra com a
qual foi finalista do Prêmio Jabuti 2017. Atualmente, vem se dedicando à investigação de temas ligados às questões de gênero,
às dissidências e subjetividades sexuais, com especial interesse na ficção portuguesa de autoria feminina e nas narrativas de
temática homoerótica.
1
Texto resultante de pesquisa realizada na Biblioteca Pública Municipal do Porto e na Biblioteca Nacional (Lisboa) com auxílio
FAPESP (Processo 2018/02250-8).
2
Cabe-me frisar que não se trata de mencionar, aqui, toda a fortuna crítica de Maria Velho da Costa, e nem é esta a finalidade
do presente estudo. Mas é preciso destacar aqueles que se debruçaram especificamente sobre a primeira obra publicada da
autora, ainda que essas reflexões tenham vindo a lume anos depois de sua edição, em 1966.
3 Vale recuperar, em termos de exemplificação, a recensão crítica de Maria Alzira Seixo sobre Desescrita (1973), publicada na
revista Colóquio / Letras, em maio de 1974. Poucos anos depois, a mesma resenha irá compor um dos tópicos de sua recolha de
ensaios, em Discursos do texto (1977).
136 N.o 42 – 06/ 2020 | 123-137 – ISSN 2183-2242 | http:/dx.doi.org/10.21747/21832242/litcomp42a8
Cadernos de Literatura Comparada
Jorge Vicente Valentim
Bibliografia
Battelli, Guido (2005), “Estudo Crítico”, in Espanca, Florbela, Juvenília, Sintra, Colares Edito-
ra: 9-57.
Costa, Maria Velho da (1994), Cravo, 2ª edição, Lisboa, Publicações Dom Quixote.
-- (1966), O Lugar Comum, Lisboa, Livraria Morais Editora.
-- (2014), Da Rosa Fixa, 3ª edição, Lisboa, Assírio & Alvim.
Costa, Tiago Bartolomeu (2013), “Entrevista a Maria Velho da Costa: Uma flor no deserto”,
in Público, 13 de janeiro de 2013, disponível em https://www.publico.pt/2013/01/13/jornal/
maria-velho-da-costa-25865926 (Consulta em 17 de outubro de 2018).
Dal Farra, Maria Lúcia (1994), “A Pré-história da Poética de Florbela Espanca”, in Espanca,
Florbela, Trocando Olhares. Estudo introdutório, estabelecimento do texto e notas de Maria
Lúcia Dal Farra, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda: 9-14.
Dias, Maria José Carneiro (2018), Maria Velho da Costa: uma Poética da Au(c)toria, Lisboa, Im-
prensa Nacional – Casa da Moeda.
Gomes, Pinharanda (1969), O Lugar Comum, in Ocidente, volume 77, no. 379: 245-246.
Gusmão, Manuel (1996), “Casas Pardas – a arte da polifonia e o rigor da paixão: uma poética
da individuação histórica”, in Costa, Maria Velho da, Casas Pardas, 4ª. edição, Lisboa, Pu-
blicações Dom Quixote: 9-57.
Lourenço, Eduardo (1977), “Prefácio”, in Costa, Maria Velho da, Maina Mendes, 2ª. edição, Lis-
boa, Moraes Editores: 7-17.
Magalhães, Isabel Allegro de (2002), “Anos 60 – Ficção”, in Lopes, Óscar/ Marinho, Maria de
Fátima (2002), História da Literatura Portuguesa. As Correntes Contemporâneas, Volume 7,
Lisboa, Publicações Alpha: 365-416.
Maia, João (1966), O Lugar Comum (Recensão) in Brotéria, no. 83, p. 706-707.
Matos, Nelson de (1967), O Lugar Comum, in O Tempo e o Modo (Revista de Pensamento e Ac-
ção), no. 46: 233-234.
Sá-Carneiro, Mário de Sá (1995), Juvenília Dramática. Introdução de Manuela Nogueira e Nota
de Maria Aliete Galhoz, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda.
Sacramento, Mário (1974), Ensaios de Domingo II. Interpretação literária, Porto, Inova.
Saraiva, Arnaldo (1975), Literatura Marginalizada – Novos Ensaios, Porto, Rocha/Artes Gráficas.
Seixo, Maria Alzira (1986), A Palavra do Romance. Ensaios de Genologia e Análise, Lisboa, Livros
Horizonte.
-- (1977), Discursos do Texto, Amadora, Bertrand.
Silveira, Jorge Fernandes da (2014), “Sobre a fragmentária rosa cravada”, in Costa, Maria
Velho da, Da Rosa Fixa, Lisboa, Assírio & Alvim: 9-23.
N.o 42 – 06/ 2020 | 123-137 – ISSN 2183-2242 | http:/dx.doi.org/10.21747/21832242/litcomp42a8
137
Você também pode gostar
- SIMON, Iumna. Revelação e DesencantoDocumento25 páginasSIMON, Iumna. Revelação e DesencantosamuelrezendeAinda não há avaliações
- O fauno nos trópicos: Um panorama da poesia decadente e simbolista em PernambucoNo EverandO fauno nos trópicos: Um panorama da poesia decadente e simbolista em PernambucoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A Referência Desdobrada - COMBEDocumento18 páginasA Referência Desdobrada - COMBEJamesson BuarqueAinda não há avaliações
- Mulheres Na História Da Literatura Brasileira, Por Raimunda Alvim Lopes BessaDocumento11 páginasMulheres Na História Da Literatura Brasileira, Por Raimunda Alvim Lopes BessaVander ResendeAinda não há avaliações
- Orpheu Ao Neo-RealismoDocumento132 páginasOrpheu Ao Neo-RealismoRodrigoAinda não há avaliações
- O Narrador Invisível - Maicon TenfenDocumento4 páginasO Narrador Invisível - Maicon TenfenAyumi TeruyaAinda não há avaliações
- A infância como fonte de sabedoria em Manoel de BarrosDocumento23 páginasA infância como fonte de sabedoria em Manoel de BarrosJamesson BuarqueAinda não há avaliações
- Análise da Poética de Aristóteles e suas traduçõesDocumento23 páginasAnálise da Poética de Aristóteles e suas traduçõesMaria De Fatima RodriguesAinda não há avaliações
- Grafias da cidade na poesia contemporânea (Brasil-Portugal)No EverandGrafias da cidade na poesia contemporânea (Brasil-Portugal)Ainda não há avaliações
- A influência de Laforgue na poesia modernista hispano-americanaDocumento8 páginasA influência de Laforgue na poesia modernista hispano-americanaybériasAinda não há avaliações
- Literatura de Gênero e IdentidadeDocumento5 páginasLiteratura de Gênero e IdentidadeTelma Regina VenturaAinda não há avaliações
- A alteridade poética na imanênciaDocumento10 páginasA alteridade poética na imanênciaAugusto DardeAinda não há avaliações
- KLINGER, Diana - Escrita de Si Como PerformanceDocumento11 páginasKLINGER, Diana - Escrita de Si Como PerformancerodrigoielpoAinda não há avaliações
- Suely RolnikDocumento11 páginasSuely RolnikTarcisio GreggioAinda não há avaliações
- 45e6bf8b15a27 PDFDocumento6 páginas45e6bf8b15a27 PDFLouise CruzAinda não há avaliações
- Agamben-Fim Do PoemaDocumento6 páginasAgamben-Fim Do PoemaDanielle MagalhãesAinda não há avaliações
- Casas Pardas - Maria Velho Da Costa - TeatroDocumento372 páginasCasas Pardas - Maria Velho Da Costa - Teatrosara leiteAinda não há avaliações
- Encontro entre Glissant e Guimarães RosaDocumento28 páginasEncontro entre Glissant e Guimarães RosaEdilane CardosoAinda não há avaliações
- Figuras LusofoniaDocumento245 páginasFiguras LusofoniaIsaac E Janaina BenavidesAinda não há avaliações
- A literariedade e os estudos literáriosDocumento9 páginasA literariedade e os estudos literáriosQuezia SantosAinda não há avaliações
- Sônia Régis - Aproximações, Ensaios Sobre LiteraturaDocumento94 páginasSônia Régis - Aproximações, Ensaios Sobre LiteraturapoetonhoAinda não há avaliações
- O sujeito lírico fora de si: uma nova abordagemDocumento17 páginasO sujeito lírico fora de si: uma nova abordagemMisty ColemanAinda não há avaliações
- A Literatura Feminina No Brasil ContemporâneoDocumento11 páginasA Literatura Feminina No Brasil ContemporâneoMarilu XavierAinda não há avaliações
- Filipa LealDocumento4 páginasFilipa LealDiogo Vaz PintoAinda não há avaliações
- Poesia em Citação PDFDocumento80 páginasPoesia em Citação PDFValdeciOliveiraAinda não há avaliações
- Arte e ResponsabilidadeDocumento1 páginaArte e ResponsabilidadeVanessa Pansani VianaAinda não há avaliações
- Tese Sobre Perec A Vida Modo de UsarDocumento137 páginasTese Sobre Perec A Vida Modo de UsarJúlio MartinsAinda não há avaliações
- O AMOR BATE NA AORTA - Carlos Drummond de Andrade (Impressão)Documento1 páginaO AMOR BATE NA AORTA - Carlos Drummond de Andrade (Impressão)rolycasiAinda não há avaliações
- Os Vastos Espaços, Paulo RónaiDocumento29 páginasOs Vastos Espaços, Paulo RónaiDanielleAinda não há avaliações
- Ana Cristina Cesar: o outro e a poesia fingidaDocumento22 páginasAna Cristina Cesar: o outro e a poesia fingidaAna Carolina CernicchiaroAinda não há avaliações
- Pessoa e A Moderna Poesia Portuguesa - Do Orpheu A 1960 PDFDocumento180 páginasPessoa e A Moderna Poesia Portuguesa - Do Orpheu A 1960 PDFMarcos LemosAinda não há avaliações
- A estética da recepção de Wolfgang Iser e as questões de Costa LimaDocumento2 páginasA estética da recepção de Wolfgang Iser e as questões de Costa LimaBorges_andersonAinda não há avaliações
- Antonio CiceroDocumento21 páginasAntonio CiceroThiago LessaAinda não há avaliações
- Minha Vida Daria Um Romancen Maria Rita KehlDocumento32 páginasMinha Vida Daria Um Romancen Maria Rita KehlJuliana LoureiroAinda não há avaliações
- Santos, Etelvina - Como Uma Pedra-Pássaro Que Voa OCRDocumento137 páginasSantos, Etelvina - Como Uma Pedra-Pássaro Que Voa OCRAna Rita ReisAinda não há avaliações
- Cantiga de D. Dinis sobre pureza e sensualidadeDocumento3 páginasCantiga de D. Dinis sobre pureza e sensualidadeomanuel1980100% (1)
- Anco Marcio Tenorio VieiraDocumento39 páginasAnco Marcio Tenorio Vieiraflavio benitesAinda não há avaliações
- Spinoza e a reforma do conhecimentoDocumento48 páginasSpinoza e a reforma do conhecimentoBernardo Rb100% (1)
- Poemas OndjakiDocumento3 páginasPoemas OndjakiThamires AragãoAinda não há avaliações
- Alcmeno Bastos - Estilos de ÉpocaDocumento21 páginasAlcmeno Bastos - Estilos de ÉpocaFrancisco Souza Nunes Filho100% (1)
- Atonement MetaficcionalidadeDocumento321 páginasAtonement MetaficcionalidadeJosé Ricardo Carvalho100% (1)
- A crítica literária de Ana Cristina Cesar desde seus primeiros textos até estudos contemporâneosDocumento4 páginasA crítica literária de Ana Cristina Cesar desde seus primeiros textos até estudos contemporâneosTalesMoreiradeCarvalhoAinda não há avaliações
- De Madame Bovary Ao Primo BasílioDocumento7 páginasDe Madame Bovary Ao Primo BasílioJeanGalocioRoseFinattiAinda não há avaliações
- Associação Robert Walser para sósias anônimos - 2º Prêmio Pernambuco de LiteraturaNo EverandAssociação Robert Walser para sósias anônimos - 2º Prêmio Pernambuco de LiteraturaAinda não há avaliações
- O Fogo e o Relato (Giorgio Agamben) PDFDocumento9 páginasO Fogo e o Relato (Giorgio Agamben) PDFcarla100% (1)
- Gregório de Matos: tradução ou plágioDocumento14 páginasGregório de Matos: tradução ou plágioAlessandra BertazzoAinda não há avaliações
- Artigo Sobre o Conto Cadeira de Jose Saramago 09 - Artigo - Tereza - Isabel - de - Carvalho PDFDocumento8 páginasArtigo Sobre o Conto Cadeira de Jose Saramago 09 - Artigo - Tereza - Isabel - de - Carvalho PDFLemuel DinizAinda não há avaliações
- MB4. Gilda Mello e Souza Antonio Candido - Introdução A Manuel Bandeira, Estrela Da Vida InteiraDocumento19 páginasMB4. Gilda Mello e Souza Antonio Candido - Introdução A Manuel Bandeira, Estrela Da Vida InteiraBeatriz Ribeiro Faria RigueiraAinda não há avaliações
- A relação entre Metalinguagem e Modernidade na poesia de DrummondDocumento54 páginasA relação entre Metalinguagem e Modernidade na poesia de DrummondFabiano BinhoAinda não há avaliações
- Galileu Edições Gerald Thomas Escritos Haroldo de CamposDocumento44 páginasGalileu Edições Gerald Thomas Escritos Haroldo de CamposJardel Dias CavalcantiAinda não há avaliações
- Teles - Vanguarda ModernismoDocumento40 páginasTeles - Vanguarda ModernismoLucas AgostinhoAinda não há avaliações
- Novas Leituras Do Mundo WEBDocumento288 páginasNovas Leituras Do Mundo WEBCaio MirandaAinda não há avaliações
- Poesia Portuguesa e Outros - PDFDocumento662 páginasPoesia Portuguesa e Outros - PDFhugh1979100% (1)
- Simbolismo - A Poesia de Eugénio de CastroDocumento92 páginasSimbolismo - A Poesia de Eugénio de CastroSarah Lewis100% (1)
- Poesia erótica feminina brasileira nos inícios do século XXDocumento19 páginasPoesia erótica feminina brasileira nos inícios do século XXJúlia MelloAinda não há avaliações
- A Boa Nova Anunciada Natureza PDFDocumento155 páginasA Boa Nova Anunciada Natureza PDFmaria carolina100% (2)
- O Ser da escrita no texto llansolianoDocumento11 páginasO Ser da escrita no texto llansolianoNaiade Daniel RodriguesAinda não há avaliações
- Evolução Crítica LiteráriaDocumento13 páginasEvolução Crítica LiteráriaelementhusAinda não há avaliações
- Resenha Grande TurismoDocumento5 páginasResenha Grande TurismoJorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- Olhares Sobre As Tintas Da PoesiaDocumento10 páginasOlhares Sobre As Tintas Da PoesiaJorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- Cadernos ILCM 43Documento2 páginasCadernos ILCM 43Jorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- RESENHA ANDRE BALBO PernambucoDocumento11 páginasRESENHA ANDRE BALBO PernambucoJorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- Edição completa celebra obra poética de Albano MartinsDocumento6 páginasEdição completa celebra obra poética de Albano MartinsJorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- Sexo em Camões: Resposta à crônica de Renato LemosDocumento1 páginaSexo em Camões: Resposta à crônica de Renato LemosJorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- Corpos OlímpicosDocumento14 páginasCorpos OlímpicosJorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- Fracturas em Tempos de GuerraDocumento22 páginasFracturas em Tempos de GuerraJorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- Artigo Abril Nepa UFF 2023Documento26 páginasArtigo Abril Nepa UFF 2023Jorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- O Retrato de CamõesDocumento12 páginasO Retrato de CamõesJorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- Da Ficção Como Espaço de Credibilidades (Im) Possíveis Ou Sobre A Zoopoética de André Balbo, em Agora Posso Acreditar em Unicórnios (2021)Documento18 páginasDa Ficção Como Espaço de Credibilidades (Im) Possíveis Ou Sobre A Zoopoética de André Balbo, em Agora Posso Acreditar em Unicórnios (2021)Jorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- A releitura de D. João VI em Helder CostaDocumento14 páginasA releitura de D. João VI em Helder CostaJorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- Quanto mais histórias, mais novelosDocumento18 páginasQuanto mais histórias, mais novelosJorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- Pandemia e resistência na ficção de Paulo FariaDocumento30 páginasPandemia e resistência na ficção de Paulo FariaJorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- O Magriço, de Tiago SalazarDocumento18 páginasO Magriço, de Tiago SalazarJorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- Por Uma Imaginária Lisboa NeorrealistaDocumento20 páginasPor Uma Imaginária Lisboa NeorrealistaJorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- Vanguardas Atlânticas: Portugal Futurista, Semana de 1922 e ClaridadeDocumento15 páginasVanguardas Atlânticas: Portugal Futurista, Semana de 1922 e ClaridadeJorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- Entrevista Hugo GonçalvesDocumento21 páginasEntrevista Hugo GonçalvesJorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- Ensaios Com o "Máximo Sabor Possível": As Formas de Ler, de Teresa Cristina CerdeiraDocumento7 páginasEnsaios Com o "Máximo Sabor Possível": As Formas de Ler, de Teresa Cristina CerdeiraJorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- História Dum Palhaço - Capítulo de LivroDocumento2 páginasHistória Dum Palhaço - Capítulo de LivroJorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- Dizer o Amor Homorerotico - Capítulo de LivroDocumento2 páginasDizer o Amor Homorerotico - Capítulo de LivroJorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- Resenha "O Que Acontece No Escuro", de Davi KoteckDocumento5 páginasResenha "O Que Acontece No Escuro", de Davi KoteckJorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- Reflexões sobre gênero e sexualidades na literatura portuguesa pós-1974Documento18 páginasReflexões sobre gênero e sexualidades na literatura portuguesa pós-1974Jorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- “Talvez um dos Doze de Inglaterra (treze, na verdade, se a história estiver bem contada)” ou de como revisitar o cânone para reinventar outra narrativa: reflexões em torno de O Magriço, de Tiago Salazar.Documento22 páginas“Talvez um dos Doze de Inglaterra (treze, na verdade, se a história estiver bem contada)” ou de como revisitar o cânone para reinventar outra narrativa: reflexões em torno de O Magriço, de Tiago Salazar.Jorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- A Corporeidade em 1 Coríntios. o Embate Entre As Culturas Semítica e HelênicaDocumento15 páginasA Corporeidade em 1 Coríntios. o Embate Entre As Culturas Semítica e HelênicaJorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- Aula04 EAD PDFDocumento24 páginasAula04 EAD PDFRayron RibeiroAinda não há avaliações
- Considerações Preliminares Sobre o Que É o Terceiro Estado - ResumoDocumento6 páginasConsiderações Preliminares Sobre o Que É o Terceiro Estado - ResumoEzekyel FernandesAinda não há avaliações
- Java BásicoDocumento199 páginasJava BásicobsbwesleyAinda não há avaliações
- Boleto 1Documento1 páginaBoleto 1Guilherme Souza BritoAinda não há avaliações
- Como ganhar dinheiro com educação digitalDocumento42 páginasComo ganhar dinheiro com educação digitalNicolau AraújoAinda não há avaliações
- APS 8º Semestre DPDocumento53 páginasAPS 8º Semestre DPGabriella LopesAinda não há avaliações
- Publicidade: um discurso de seduçãoDocumento18 páginasPublicidade: um discurso de seduçãosadoveiro100% (1)
- BRF S.A.: Companhia Aberta CNPJ 01.838.723/0001-27 NIRE 42.300.034.240 CVM 16269-2Documento2 páginasBRF S.A.: Companhia Aberta CNPJ 01.838.723/0001-27 NIRE 42.300.034.240 CVM 16269-2Bruno EnriqueAinda não há avaliações
- Descolonização, necropolítica e o futuro com Achille MbembeDocumento27 páginasDescolonização, necropolítica e o futuro com Achille MbembeClayton Moura100% (2)
- Marcelobernardo Fevereiro 2010 Gramaticaportugues 102 PDFDocumento3 páginasMarcelobernardo Fevereiro 2010 Gramaticaportugues 102 PDFMarco GuimarãesAinda não há avaliações
- OfícioeLaudes Sábado Santo Guião21Documento16 páginasOfícioeLaudes Sábado Santo Guião21Jesus SantosAinda não há avaliações
- 01 Exp9 Teste3 Movimentos Forcas Jan2019Documento4 páginas01 Exp9 Teste3 Movimentos Forcas Jan2019Vera Ferreira100% (3)
- A EstéticaDocumento4 páginasA EstéticaHenriques LucasAinda não há avaliações
- A origem da língua faladaDocumento8 páginasA origem da língua faladaFrancisco Junior100% (1)
- Oração para proteger criança no ventreDocumento1 páginaOração para proteger criança no ventreGeici Moreira MartinsAinda não há avaliações
- Perfil Comportamental e Preferencia Cerebral em ExcelDocumento13 páginasPerfil Comportamental e Preferencia Cerebral em Excelblay212Ainda não há avaliações
- Regime Jurídico Do MPTDocumento79 páginasRegime Jurídico Do MPTMurilo Henrique BedoreAinda não há avaliações
- Tratamento Gráfico - ApostilaDocumento20 páginasTratamento Gráfico - ApostilaKamillaMeirelesAinda não há avaliações
- Como ter Fé GenuínaDocumento2 páginasComo ter Fé GenuínaWellington Marques Da SilvaAinda não há avaliações
- O guarda das fontesDocumento52 páginasO guarda das fontesgiovani-maiaAinda não há avaliações
- Plano de Aula ÁguaDocumento8 páginasPlano de Aula ÁguaDalila VieiraAinda não há avaliações
- História da Enfermagem emDocumento18 páginasHistória da Enfermagem emGUADALUPE SENA67% (3)
- Manual Ar Condicionado PortátilDocumento32 páginasManual Ar Condicionado PortátilSelenita VoshinAinda não há avaliações
- Tese Antonio Gilberto Abreu de Souza PDFDocumento376 páginasTese Antonio Gilberto Abreu de Souza PDFJaqueline VieiraAinda não há avaliações
- 17 - Norma Portuguesa - Ética Nas Organizações - Parte IIDocumento59 páginas17 - Norma Portuguesa - Ética Nas Organizações - Parte IIDavid Salomão Pinto Castanho Bizarro100% (1)
- Manual Lavadora Eletronica Bwt08cDocumento22 páginasManual Lavadora Eletronica Bwt08cRogério Augusto PérisséAinda não há avaliações
- Supressão de Sibipiruna morta em canteiro de AraguariDocumento10 páginasSupressão de Sibipiruna morta em canteiro de AraguariCarlos Rodrigues do Amaral NetoAinda não há avaliações
- Memórias de um cavalinho de pauDocumento8 páginasMemórias de um cavalinho de pauceuvazAinda não há avaliações
- Questões Comentadas de Concursos - MineraçãoDocumento28 páginasQuestões Comentadas de Concursos - MineraçãoFabio CruzAinda não há avaliações
- Estudando - Digitação - Cursos Online Grátis - Prime Cursos 1Documento11 páginasEstudando - Digitação - Cursos Online Grátis - Prime Cursos 1ccostaAinda não há avaliações