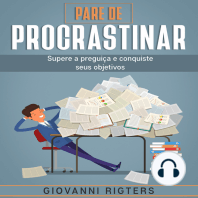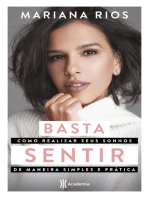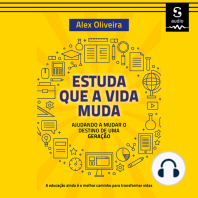Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A evolução do conceito de humanidade ao longo da história
Enviado por
Maria auxiliadora FerreiraDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A evolução do conceito de humanidade ao longo da história
Enviado por
Maria auxiliadora FerreiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
PERSPECTIVA DIACRÔNICA: A PESSOA NA HISTÓRIA OCIDENTAL
O que significa ser humano (ser um homem ou uma mulher)? É possível definir o ser humano?
Além dos aspectos físicos, o que permite identificar um ser humano? Quais comportamentos, ideias e
valores você considera humanos e definem a sua existência?
Tais perguntas não são fáceis de se responder. Por isso, é fundamental definir claramente o
contexto para que se ofereça respostas, precipitando-nos a uma perspectiva histórica de análise do
fenômeno humano, da existência humana.
O existir se mostra, em sua constituição, como fluxo significativo de eventos – é a condição
humana histórica – do mesmo modo a reflexão é um processo de reapropriação e de reavaliação
interpretativa contínuas abrindo sempre novas possibilidades de compreensão. Como enigma prático o
existir vai, em sua dinâmica própria, revelando-se sob novos aspectos, buscando para si sempre novas
conformações. A historicidade é, assim, constitutiva tanto do existir quanto da elucidação interpretativa
desse existir (VON ZUBEN, 2016, p. 14).
Uma vez que “humano” e “humanidade” têm sua significação definida por estudos e experiências
imersos em seus períodos históricos, podemos considerar que, ao longo da história ocidental, foram
estabelecidas distinções sobre o que é ou não humano, sobre o que deve ser valorizado e aquilo que deve
ser repreendido nos comportamentos.
Assim, temos um percurso de busca, no qual o pressuposto era a mudança de acordo com padrões
mais elevados de humanidade. A vida moderna é, seguramente, um produto disso:
O mundo europeu estava em expansão, graças às novas tecnologias de navegação e ao espírito
empreendedor ou aventureiro dos conquistadores espanhóis e portugueses. Uma filosofia natural,
baseada na observação empírica do mundo e no uso do raciocínio matemático para interpretá-la, estava
substituindo as tradições religiosas e especulativas, que tinham base na leitura ritual de velhos livros e na
autoridade estabelecida dos padres. A crença geral era de que essas mudanças eram para o bem, e eram
descritas em termos de “progresso” e “evolução”. Mais tarde, economistas começaram a falar de
“desenvolvimento econômico”. Muito mais recentemente, cientistas sociais adotaram o termo
“modernização” (SCHWARTZMAN, 2004, p. 12).
Procurou-se desenvolver um modo de vida, um modelo de civilização e padrões culturais mais
racionais, que pudessem tornar a humanidade mais elevada, superando velhas crendices, num processo
de modernização constante. Era preciso cultivar o que fosse no sentido do “progresso” almejado para que
toda a sociedade “evoluísse”.
Todavia, do ponto de vista da convivência, é importante considerar a elaboração de entendimentos
discriminatórios, subdividindo a humanidade em categorias, variando de acordo com o grau de adaptação
ao sistema dominante.
A situação de interesses político-comerciais e político-sociais costuma então determinar a “visão de
mundo”. Aquele que em sua conduta de vida não se adapta às condições do sucesso capitalista, ou
afunda ou não sobe (WEBER, 2004, p. 64).
Essa imposição de adaptação às premissas de entendimento do mundo moderno no âmbito político
e econômico acabou resultando em diversos conflitos humanos, além de muitos desafios preexistentes
que também permaneceram (Quadro 1).
Quadro 1 Os custos dos conflitos em vidas humanas crescem constantemente.
*Nota: os valores da população mundial são estimativas referentes ao meio do século.
Considerando as informações do Quadro 1, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD-ONU) em 2005, podemos constatar que a estimativa da população mundial
morta em conflitos subiu de menos de meio por cento (0,32%) no século 16 para mais de quatro por cento
(4,35%) no século 20. Ou seja: o número de mortes em conflitos aumentou mais de 13 vezes.
Nesse ínterim, a era moderna teve como resultantes alguns paradoxos: as pessoas vivem mais,
porém também morrem mais em conflitos; a tecnologia permite maior conforto e plenitude, mas também é
eficiente na fabricação de armas de destruição em massa.
A idade moderna e contemporânea também é marcada por muitas mudanças no cerne da
humanidade, promovendo maior autonomia e abrindo inúmeras possibilidades para a população mundial.
Nas sociedades antigas, as pessoas viviam de acordo com suas tradições, em um mundo
dominado por poderes transcendentais, e eram limitadas por um destino definido desde seu nascimento.
Com a modernidade, o mundo passou a ser visto como aberto à compreensão graças ao uso da ciência e
da racionalidade, e seus recursos e poderes passaram a ser postos a serviço da humanidade. Ao mesmo
tempo, o nascimento deixou de ser a fonte do destino. Por meio do trabalho, da dedicação e do uso da
inteligência é possível transcender as próprias condições e responsabilizar-se pela própria vida
(SCHWARTZMAN, 1997, p. 11).
Portanto, relacionando os números do relatório e as análises sociais/históricas elencadas, podemos
dizer que, num período em que o uso da razão abriu espaço para que o esforço de cada um fosse
valorizado e permitisse melhorar as suas condições de vida – livrando as pessoas da prevalência das
condições de nascimento –, permaneceu crescente um dos grandes desafios históricos da humanidade:
aprender a conviver pacificamente.
Seguindo adiante, verificamos que os conflitos no início do século 21 são diferentes daqueles
ocorridos durante o século 20. De acordo com o mesmo relatório:
As instituições internacionais de segurança de hoje foram criadas como resposta às duas grandes
guerras da primeira metade do século XX e às ameaças colocadas pela guerra fria. O mundo de hoje
enfrenta novos desafios. A natureza e a geografia do conflito mudaram. Há sessenta anos, uma geração
visionária de líderes do pós-guerra procurou resolver as ameaças colocadas pelos conflitos entre Estados.
As Nações Unidas foram um produto dos seus esforços. No início do século XXI, a maior parte dos
conflitos são dentro de Estados e a maioria das vítimas é civil. Os desafios de hoje não são menos
profundos do que os desafios enfrentados há sessenta anos (PNUD, 2005, p. 153).
Assim, os desafios de convivência entre as potências econômicas nacionais do eixo socialista e as
do eixo capitalista que marcaram o período da Guerra Fria (1945-1989) não são mais o grande dilema.
Com o fim da predominância flagrante da luta entre comunismo e liberalismo na conjuntura internacional,
as dificuldades de convivência e as lutas por poder manifestam-se principalmente no interior das nações,
diante de processos de exclusão de grupos sociais, lutas políticas, crescimento dos movimentos
fundamentalistas, conflitos religiosos e ideológicos endógenos.
O genocídio do Ruanda, em 1994, matou quase 1 milhão de pessoas. A guerra civil na República
Democrática do Congo matou 7% da população. No Sudão, uma longa guerra civil de duas décadas entre
o Norte e o Sul custou mais de 2 milhões de vidas e desalojou 6 milhões de pessoas. Quando o conflito
terminou, irrompeu uma nova crise humanitária patrocinada pelo Estado na região ocidental de Darfur.
Hoje, estima-se que 2,3 milhões estejam desalojados e outros 200.000, ou mais, fugiram para o vizinho
Chade. A década de 1990 também assistiu à limpeza étnica no coração da Europa, quando violentos
conflitos civis varreram os Balcãs (PNUD, 2005, p. 153-154).
Todavia, se incluirmos nessa lista a violência urbana e os conflitos na Europa e Oriente Médio
posteriores ao ataque ao World Trade Center (EUA) em 11 de setembro de 2001, teremos um diagnóstico
ainda mais preocupante de nossa falta de habilidade para resolver pacificamente nossos conflitos com o
“outro”, seja ele (o outro) oriundo do outro lado do mundo, seja do mesmo país e região.
Retomando o início de nossa reflexão, temos, na base constitutiva de todos esses conflitos, a
sobreposição de diferentes concepções sobre o que significa ser humano (ser um homem ou uma mulher),
sobre os comportamentos, ideias e valores que devem ser cultivados pelos seres humanos e quais devem
ser combatidos ou mesmo exterminados.
Analisando de maneira mais objetiva, longe de ser uma luta determinada por forças “do bem”
contra as forças “do mal”, todos os lados em conflito se propõem a ser ícones de algo melhor e correto
para toda a humanidade, impondo como adequadas compreensões que não são consensuais para todas
as culturas. O esgotamento das negociações das divergências ou mesmo a indisposição para o diálogo
leva ao fim do sufrágio, do qual emergem os conflitos.
Isso não significa dizer que não existam pessoas mal-intencionadas no mundo, que desejam impor
à força seus interesses, mas leva-nos a reconhecer que mesmo elas acreditam na validade de suas
intenções, de modo a defendê-las sem dimensionar os altos custos humanos. A destrutividade das ações
parece justificada, por mais irracional que seja.
As pessoas costumam considerar a guerra como uma “tempestade social”. Afirma-se que a guerra
“purifica” a atmosfera, que tem grandes vantagens — ela “fortalece a juventude”, tornando-a corajosa. E
acredita-se, de maneira geral, que sempre houve e sempre haverá guerras. As guerras são motivadas
biologicamente. Segundo Darwin, a “luta pela existência” é a lei da vida (REICH, 1972, p. 244).
Wilhelm Reich (1972), em sua análise psicossocial, considera absurdo defender a necessidade do
conflito e propõe repensar a questão, encarar o que nos leva à guerra considerando a forma como
organizamos a civilização e como nos organizamos pessoalmente.
[...] por algum motivo os homens evitam conhecer as causas profundas da guerra. Além disso, há,
sem dúvida, melhores meios do que a guerra para tornar a juventude forte e sadia, ou seja, uma vida
amorosa feliz, um trabalho agradável e seguro, esportes em geral e liberdade em relação às intrigas
maldosas. Tais argumentos são, portanto, vazios de significado (REICH, 1972, p. 244).
Qual será, então, a causa das guerras? De maneira breve, o autor considera a atitude do “cidadão
comum”, ou das “massas”, lembrando que: “Os ditadores construíram o seu poder sobre a
irresponsabilidade social das massas humanas. Utilizaram-na conscientemente e nem sequer procuraram
encobrir esse fato” (REICH, 1972, p. 245). Assim, cabe a cada um de nós, membros anônimos da massa
popular, assumir a própria responsabilidade diante dos grandes problemas da humanidade.
O próprio Reich (1972, p. 245) elucida que:
Quem leva a sério as massas humanas, exige delas plena responsabilidade, pois só elas são
essencialmente pacíficas. A responsabilidade e a capacidade de ser livre devem ser acrescentadas agora
ao amor pela paz.
Portanto, a segurança e a liberdade de ação devem superar os conflitos e incluir a prática da paz
entre pessoas e nações.
Isso nos remete aos desafios que temos mais do que a um entendimento pessimista em relação à
civilização, pois ainda estamos trilhando um caminho enleado por um processo muito mais abrangente, de
longa duração:
As primeiras civilizações surgiram há cerca de cinco mil anos, nos vales da Mesopotâmia e do
Egito. Ali, os seres humanos estabeleceram cidades e estados, inventaram a escrita, desenvolveram
religiões organizadas e construíram grandes edifícios e monumentos – tudo o que caracteriza a vida
civilizada. A ascensão do homem à civilização foi longa e penosa. Cerca de 99% da história humana se
desenrolou antes do surgimento da civilização, ao longo das extensas eras pré-históricas (PERRY, 1999,
p. 4).
Considerando as grandes transformações da humanidade em cerca de 1% de sua história,
construindo-se nesse período de acordo com diferentes modelos de civilização, talvez seja possível dirimir
o custo humano durante os próximos passos a serem dados.
Socialmente, a modernidade trata de padrões, esperança e culpa. Padrões – que acenam,
fascinam ou incitam, mas sempre se estendendo, sempre um ou dois passos à frente dos perseguidores,
sempre avançando adiante apenas um pouquinho mais rápido do que os que lhe vão no encalço. [...] E
sempre mesclando a esperança de alcançar a terra prometida com a culpa de não caminhar
suficientemente depressa (BAUMAN, 1998, p. 91).
Falando de outra maneira, de acordo com o sociólogo Zygmunt Bauman (1998), na modernidade,
estamos sempre buscando atender a padrões de vida com suas exigências: outro curso, novo emprego,
entender novas tecnologias etc., na esperança de melhorar sempre nossas condições de vida e sempre
alertas, com a sensação de que estamos atrasados, de que já deveríamos ter o dinheiro, o conhecimento
ou as atitudes que ainda não pudemos. Superar o passado em busca de um futuro melhor tornou-se a
prerrogativa deste momento.
Não obstante, vamos nos empenhar em entender um pouco mais sobre como as concepções de
humano dentro da civilização ocidental se transformaram desde o mundo antigo até a atualidade, como foi
defendida a dignidade humana e quem foram os que mais desfrutaram dessa dignidade.
A história da dignidade, para o direito, pode ser sintetizada nas seguintes fases: 1) apenas o
serviço ao Estado gera dignidade, de forma diretamente proporcional à posição hierárquica; 2) reconhece-
se uma dignidade mínima comum a todo ser humano, mas, acima disso, permanece o escalonamento; 3)
a dignidade propriamente dita é igual para todos os seres humanos (CORREA, 2013, p. 1).
Considerando tal perspectiva de construção da dignidade humana ao longo da história ocidental,
trataremos dos desafios a serem enfrentados, daqueles que foram excluídos e das possibilidades que
foram abertas. Mas longe de estabelecer julgamentos, vamos tratar com respeito àquilo que passou, para
que possamos atender às necessidades do presente, construindo um futuro melhor. Vejamos o Quadro 2.
Quadro 2.
Fonte: acervo pessoal do autor Everton Luís Sanches.
Alteridade significa o lado do outro e é um tema recorrente nesta disciplina. De acordo com o
dicionário Michaelis Online (2019), “característica, estado ou qualidade de ser distinto e diferente, de ser
outro”. Está diretamente relacionado com a individualidade ou a identidade.
Identidade, no mesmo dicionário, é traduzida como: “série de características próprias de uma
pessoa ou coisa por meio das quais podemos distingui-las”. Assim, reconhecer a alteridade (o lado do
outro) é também uma defesa de que seja preservada a própria identidade (eu sou o outro para alguém).
Importante ainda esclarecer que não é almejado dar a última palavra a respeito do assunto. Pelo
contrário, é um início de conversa, com indicações para o aprimoramento constante das conclusões.
Analisando atentamente o Quadro 2, podemos perceber que o que definia o lugar de cada um na
sociedade foi mudando ao longo do tempo, até chegarmos ao momento atual, em que precisamos rever
nossas posições e aceitar que vivemos uma crise de entendimentos a respeito do ser humano.
Por um lado, temos atualmente a compreensão de pessoa humana, em que “pessoa” se refere ao
indivíduo singular e único, enquanto “humana” se refere ao ser coletivo, ao conjunto da humanidade que
cada um de nós representa. A implicação de tal compreensão, amplamente defendida pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos (1948) e pelos documentos que a sucederam, é de que determinadas
coisas, ao serem feitas contra uma pessoa, constituem um crime contra toda a humanidade na medida em
que a destitui de sua condição de “ser humano”. É o caso da tortura, por exemplo.
Importante: Existem versões em português da DUDH que trazem a expressão “ser humano” ao
invés de “pessoa humana”. Contudo, a versão original da Declaração, em inglês, usa a expressão human
person, aproximando-se mais da tradução escolhida e permitindo, assim, os comentários sobre sua
significância.
Tal proposta exige das lideranças e das pessoas do mundo todo um acordo sobre a universalidade
do humano, assim como quanto à necessidade de respeitarmos mesmo aquilo que não concordamos ou
entendemos.
Mas alcançar tal objetivo não é nada fácil. Mesmo a compreensão do mundo material tem sido
submetida ao crivo das crenças, desacreditando pesquisas científicas e leis estabelecidas nacional e
internacionalmente. Esse fenômeno tem sido chamado de “pós-verdade”.
Pós-verdade, do inglês post-truth, foi considerada a palavra do ano pelo dicionário Oxford em 2016.
De acordo com Zarzalejos (2017, p. 11):
A pós-verdade não é sinônimo de mentira, mas “descreve uma situação na qual, durante a criação
e a formação da opinião pública, os fatos objetivos têm menos influência do que os apelos às emoções e
às crenças pessoais”. A pós-verdade consiste na relativização da verdade, na banalização da objetividade
dos dados e na supremacia do discurso emocional.
A palavra já havia sido usada anteriormente, na década de 2000, com o intuito de discutir a
manipulação política com o uso de “[...] técnicas para suavizar emotivamente as mensagens, com o
propósito de causar uma espécie de curto-circuito no senso crítico e analítico dos cidadãos”
(ZARZALEJOS, 2017, p. 11).
Desse modo, a verdade, traduzida como pós-verdade, é apresentada não mais como o
esclarecimento e aprofundamento do conhecimento de acontecimentos – políticos, econômicos, sociais
etc. –, mas é identificada como um diálogo o mais direto possível entre crenças infundadas, subjetividades
irrefletidas e interesse político-econômico de grandes núcleos de poder.
[...] a verdade não tem êxito e as descrições que não se ajustam a ela – ou mesmo que nem se
aproximam – sim, vencem, e além disso, terminam impunes. Como afirma o escritor Adolfo Muñoz (El
País, de 02 de fevereiro de 2017) “a mentira política ganha porque tem as qualidades necessárias para
triunfar, convertendo-se no que Richard Dawkins chamou de “meme”. O meme é uma unidade de
conhecimento viral, na visão deste autor, que se dispersa à margem de seus atributos de veracidade.
Vivemos no universo dos memes e necessitamos de critérios para distinguir o verdadeiro do falso, o
seguro do provável, o certo sobre o duvidoso. E nos fazemos perguntas cada vez mais angustiantes: seria
o Photoshop, por exemplo, uma técnica da pós-verdade? Seria a contextualização de um recurso
falsificador? O insulto poderia ser considerado uma mera descrição? Os efeitos especiais no cinema ou as
experiências de realidade virtual, por exemplo, são um atentado à integridade da verdade, tal como a
temos entendido até agora? (ZARZALEJOS, 2017, p. 12).
Diante de tantas variantes a serem consideradas antes de chegar a um veredito (verdadeiro
ou fake?), a necessidade de entendimento mistura-se com o desejo de ter razão; nesse emaranhado de
notícias e informações que invadem o cotidiano do indivíduo via redes sociais e toda forma de tecnologia
de informação e comunicação, a vontade de lidar com a verdade cada vez mais intangível e inacessível
faz com que os sujeitos se apressem em acreditar numa inverdade tangível.
As subjetividades (recheadas de crenças pessoais irrefletidas) de pessoas superestimuladas por
informações que se apresentam nas formas mais variadas (vídeos, imagens, piadas, textos jornalísticos,
memes, gifs etc.) se sobrepõem à objetividade (acontecimentos e análise de seus desdobramentos e
diversos significados).
Assim, a descrição mais objetiva e cuidadosa, cheia de senões, talvez, de acordo com referência
tal e que aponta possibilidades de entendimento, aparece como um rascunho malfeito de uma verdade
inacessível, enquanto a afirmação jocosa, preconceituosa e taxativa se apresenta como verdade que
querem esconder.
Em meio à dificuldade para trazer à tona o que seja verdadeiro e honesto, é aberto um espaço de
confusão entre aquilo que seja verdadeiro e aquilo que um indivíduo ou grupo social gostaria que fosse
verdadeiro. Nesse cenário, a célebre frase de René Descartes, considerado ícone da ciência moderna,
“Penso, logo existo”, pode ser trocada pela atitude traduzida em “Acredito, logo é verdade”.
Vamos investigar os caminhos possíveis para a superação dos conflitos?
Você também pode gostar
- Como as relações humanas foram afetadas pelo desenvolvimento tecnológicoDocumento3 páginasComo as relações humanas foram afetadas pelo desenvolvimento tecnológicoPaulo MenezesAinda não há avaliações
- Decolonialidade a partir do Brasil - Volume IVNo EverandDecolonialidade a partir do Brasil - Volume IVAinda não há avaliações
- Uma Visao Multicultural Dos Direitos Humanos Boaventura de Souza SantosDocumento21 páginasUma Visao Multicultural Dos Direitos Humanos Boaventura de Souza SantosGeziela IensueAinda não há avaliações
- Tempos de reinvenção: Ordens antigas na desordem do mundo presenteNo EverandTempos de reinvenção: Ordens antigas na desordem do mundo presenteAinda não há avaliações
- Claretiano - Centro Universitário Filosofia - 2º Semestre: Jordan Dutra Dos Santos, Ra: 8150826Documento7 páginasClaretiano - Centro Universitário Filosofia - 2º Semestre: Jordan Dutra Dos Santos, Ra: 8150826SantossAinda não há avaliações
- Os desafios da modernidadeDocumento24 páginasOs desafios da modernidadeLucas LeiteAinda não há avaliações
- Modernidade e as transformações humanasDocumento4 páginasModernidade e as transformações humanasTatiane MariguelaAinda não há avaliações
- Crise Civilizacional e Pensamento Decolonial: Puxando Conversa em Tempos de PandemiaNo EverandCrise Civilizacional e Pensamento Decolonial: Puxando Conversa em Tempos de PandemiaAinda não há avaliações
- 10973-Texto Del Artículo-38524-1-10-20181001Documento14 páginas10973-Texto Del Artículo-38524-1-10-20181001manuelAinda não há avaliações
- Globalização rumo a um governo mundialDocumento20 páginasGlobalização rumo a um governo mundialhistoriagusAinda não há avaliações
- O Novo Humanismo: Paradigmas Civilizatórios Para o Século XXI a Partir do Papa FranciscoNo EverandO Novo Humanismo: Paradigmas Civilizatórios Para o Século XXI a Partir do Papa FranciscoAinda não há avaliações
- RedaçãoDocumento7 páginasRedaçãoHebny Louyze Moreira MeirelesAinda não há avaliações
- Utopia, ética, religião: A construção de um novo mundoNo EverandUtopia, ética, religião: A construção de um novo mundoAinda não há avaliações
- Globalização: debates sobre desigualdades e identidadesDocumento6 páginasGlobalização: debates sobre desigualdades e identidadesVerônica LaizaAinda não há avaliações
- Acelerando a pesquisa mundialDocumento19 páginasAcelerando a pesquisa mundialSheila FerreiraAinda não há avaliações
- Globalização e Cultura - Artigo de Felipe M. MuryDocumento26 páginasGlobalização e Cultura - Artigo de Felipe M. MuryFelipe Marendaz MuryAinda não há avaliações
- IMPERATORI Thaís Et Al - Considerações Críticas A Respeito Da Pandemia Incertezas e Desafios (2021)Documento8 páginasIMPERATORI Thaís Et Al - Considerações Críticas A Respeito Da Pandemia Incertezas e Desafios (2021)Thaís ImperatoriAinda não há avaliações
- Relações entre economia, tecnologia e humanidade na Idade Moderna e ContemporâneaDocumento4 páginasRelações entre economia, tecnologia e humanidade na Idade Moderna e ContemporâneaAntonio Carlos Peixe75% (4)
- FONSECA, CLAUDIA - Direitos Humanos, Diversidade e Diálogo, 1999Documento21 páginasFONSECA, CLAUDIA - Direitos Humanos, Diversidade e Diálogo, 1999Ane BrisckeAinda não há avaliações
- Cultura Global e Identidades LocaisDocumento22 páginasCultura Global e Identidades LocaisCapbmAinda não há avaliações
- Colonialidade, descolonialidade e perspectiva eco-relacionalDocumento25 páginasColonialidade, descolonialidade e perspectiva eco-relacionalMaria MAinda não há avaliações
- Cotidiano e Pandemia No Brasil - Mauro G. P. kOURYDocumento224 páginasCotidiano e Pandemia No Brasil - Mauro G. P. kOURYJosé Victor da Silva FrançaAinda não há avaliações
- Face oculta da ONU reveladaDocumento4 páginasFace oculta da ONU reveladaFepa8100% (2)
- O Choque de Civilizações de Huntington e a geopolítica contemporâneaDocumento20 páginasO Choque de Civilizações de Huntington e a geopolítica contemporâneaSérgio Lino MarquesAinda não há avaliações
- Globalização, Cidadania e IdentidadeDocumento5 páginasGlobalização, Cidadania e Identidadescarvalho_271524100% (1)
- Eduardo Tadeu Pereira - Boaventura Dos Santos e A Sociedade CivilDocumento14 páginasEduardo Tadeu Pereira - Boaventura Dos Santos e A Sociedade CivilsenhordocasteloAinda não há avaliações
- Direitos humanos, educação e tensões entre igualdade e diferençaDocumento13 páginasDireitos humanos, educação e tensões entre igualdade e diferençamachado1135Ainda não há avaliações
- Esperanças do passado e desafios do presenteDocumento9 páginasEsperanças do passado e desafios do presentemarceloscarvalhoAinda não há avaliações
- Textos de Leonardo Boff Sobre CulturaDocumento14 páginasTextos de Leonardo Boff Sobre CulturaGuilherme AugustoAinda não há avaliações
- Resenha sobre um mundo sem finalidade e moralDocumento5 páginasResenha sobre um mundo sem finalidade e moralJess WagnerAinda não há avaliações
- A Política Dos MuitosDocumento19 páginasA Política Dos MuitosDaniel de MendonçaAinda não há avaliações
- Direitos humanos e interculturalidadeDocumento13 páginasDireitos humanos e interculturalidadeGabriel HaddadAinda não há avaliações
- Globalização, pós-moderno e filosofia da práxisDocumento8 páginasGlobalização, pós-moderno e filosofia da práxisJoão Saraiva Leão NetoAinda não há avaliações
- Direitos e cidadaniaDocumento16 páginasDireitos e cidadaniaAlex QuintãoAinda não há avaliações
- Risco Global DiálogoDocumento12 páginasRisco Global DiálogoLara Sanábria VianaAinda não há avaliações
- ONU e A Globalização - Michael Schooyans (Artigo)Documento8 páginasONU e A Globalização - Michael Schooyans (Artigo)Quixote VerdeAinda não há avaliações
- Em Que Mundo VivemosDocumento138 páginasEm Que Mundo VivemosMarleide HatschbachAinda não há avaliações
- A Declaração Dos D.H No Seu Sexagésimo Aniversário PDFDocumento26 páginasA Declaração Dos D.H No Seu Sexagésimo Aniversário PDFcrisforoniAinda não há avaliações
- O Problema Da Cultura Na Igreja - PAULA MONTERODocumento20 páginasO Problema Da Cultura Na Igreja - PAULA MONTEROMRCALAinda não há avaliações
- Ficahemnto de HistóriaDocumento2 páginasFicahemnto de Históriaanaf14518Ainda não há avaliações
- Direitos Humanos na era da globalizaçãoDocumento10 páginasDireitos Humanos na era da globalizaçãoanon_985414821Ainda não há avaliações
- Ciclo 3 - Dualidades Existenciais - Imanência e Transcendência Condicionamento e Liberdade - Antropologia, Ética e CulturaDocumento10 páginasCiclo 3 - Dualidades Existenciais - Imanência e Transcendência Condicionamento e Liberdade - Antropologia, Ética e CulturaFernando AlmeidaAinda não há avaliações
- A globalização e seus processos contraditóriosDocumento6 páginasA globalização e seus processos contraditóriosRafael Iwamoto TosiAinda não há avaliações
- A Prosperidade da HumanidadeDocumento21 páginasA Prosperidade da HumanidadeElaine LimaAinda não há avaliações
- O CHOQUE DAS CIVILIZAÇÕES - As Consequências Desta Ideologia Nas Disputas de Poder No Séc. XXI (2001)Documento15 páginasO CHOQUE DAS CIVILIZAÇÕES - As Consequências Desta Ideologia Nas Disputas de Poder No Séc. XXI (2001)nelson duringAinda não há avaliações
- Portfólio Antropologia Ética e CulturaDocumento3 páginasPortfólio Antropologia Ética e CulturaFernanda AlvesAinda não há avaliações
- Sujeito moderno e mídia na Modernidade e pós-modernidadeDocumento6 páginasSujeito moderno e mídia na Modernidade e pós-modernidadePedro Cherulli MarinhoAinda não há avaliações
- Estudos sobre a Paz e a Cultura da PazDocumento9 páginasEstudos sobre a Paz e a Cultura da PazComunicador Waldir JúniorAinda não há avaliações
- 1c Lindgren Alves ONU Desrazao Pos ModernaDocumento17 páginas1c Lindgren Alves ONU Desrazao Pos ModernaSulamita AlbuquerqueAinda não há avaliações
- IluminismoDocumento2 páginasIluminismoPedro Juan Dos SantosAinda não há avaliações
- A Conspiração Aberta de H G Wells em Ação no Brazil ConferenceDocumento13 páginasA Conspiração Aberta de H G Wells em Ação no Brazil ConferenceAlexandreAinda não há avaliações
- CORPO E CULTURA Cartografias Da ContemporaneidadeDocumento16 páginasCORPO E CULTURA Cartografias Da ContemporaneidadeFernanda Oliveira100% (1)
- 3 - ABREU, Marcelo e RANGEL, MArcelo - Memória, Cultura Histórica e Ensino de História No Mundo Contemporâneo PDFDocumento18 páginas3 - ABREU, Marcelo e RANGEL, MArcelo - Memória, Cultura Histórica e Ensino de História No Mundo Contemporâneo PDFJade NoronhaAinda não há avaliações
- Boaventura de Sousa Santos - Os Processo Da GlobalizaçãoDocumento34 páginasBoaventura de Sousa Santos - Os Processo Da GlobalizaçãoJoão Henrique MartinsAinda não há avaliações
- Impactos GlobaisDocumento5 páginasImpactos GlobaisMargaridaSilvaAinda não há avaliações
- Relatório sobre inovação e competitividadeDocumento10 páginasRelatório sobre inovação e competitividadeThiago ValienteAinda não há avaliações
- CEPS PedreiraDocumento12 páginasCEPS PedreiracheganzarolliAinda não há avaliações
- ARTIÉRES, Philippe - Arquivar A Própria Vida - FichamentoDocumento5 páginasARTIÉRES, Philippe - Arquivar A Própria Vida - Fichamentom.platini100% (2)
- Traços apocalípticos em EzequielDocumento16 páginasTraços apocalípticos em EzequielMarcos MachadoAinda não há avaliações
- Plano de Camper e OrtodontiaDocumento9 páginasPlano de Camper e OrtodontiaMarcos Antonio de Lima0% (1)
- RedaçãoDocumento6 páginasRedaçãoValdonei Dos SantosAinda não há avaliações
- Renúncia à gerência e registo nuloDocumento29 páginasRenúncia à gerência e registo nulobrunoAinda não há avaliações
- Implementação FMEA caldeira químicaDocumento40 páginasImplementação FMEA caldeira químicaatanaeln751100% (1)
- Como Usar o PênduloDocumento4 páginasComo Usar o PênduloLeandro Silva100% (1)
- Provas CFO de 2012-2017 PDFDocumento165 páginasProvas CFO de 2012-2017 PDFVinicius Luiz de SouzaAinda não há avaliações
- Método Científico - Atualizado-1Documento9 páginasMétodo Científico - Atualizado-1Renato MartinsAinda não há avaliações
- EAP em Projetos - A Regra Dos 100% - EuaxDocumento2 páginasEAP em Projetos - A Regra Dos 100% - EuaxFrederico DrumondAinda não há avaliações
- GPE - Reestruturação Dos Cadastros e Cálculos Dos Planos de SaúdeDocumento86 páginasGPE - Reestruturação Dos Cadastros e Cálculos Dos Planos de SaúdeDervelly AndersonAinda não há avaliações
- Introdução à anatomia e histologia do sistema nervosoDocumento6 páginasIntrodução à anatomia e histologia do sistema nervosogelu1999Ainda não há avaliações
- Melhoria da Qualidade do Leite de BúfalaDocumento3 páginasMelhoria da Qualidade do Leite de BúfalaKislla NayallaAinda não há avaliações
- A Didática e Organização Do EnsinoDocumento4 páginasA Didática e Organização Do EnsinoEdson Pereira de MattosAinda não há avaliações
- Estatística 2 ResumidosDocumento13 páginasEstatística 2 ResumidosBackup HannaAinda não há avaliações
- Contra CulturaDocumento18 páginasContra CulturadarlanetAinda não há avaliações
- Políticas Segurança Informação antes Perigo IminenteDocumento2 páginasPolíticas Segurança Informação antes Perigo IminenteJoão Victor GiuzeppeAinda não há avaliações
- 3° Ano - Revolução MexicanaDocumento13 páginas3° Ano - Revolução MexicanaIgor SpalaAinda não há avaliações
- A Espanha e Miguel Torga PDFDocumento70 páginasA Espanha e Miguel Torga PDFTania MartinezAinda não há avaliações
- Atualização em Fluidoterapia No Paciente Grave - SecadDocumento12 páginasAtualização em Fluidoterapia No Paciente Grave - SecadSimone AquinoAinda não há avaliações
- 16 Frases para Aumentar A Autoestima Do Seu FilhoDocumento2 páginas16 Frases para Aumentar A Autoestima Do Seu FilhoMarinice Cavalcanti JeronymoAinda não há avaliações
- Os Piratas PDFDocumento24 páginasOs Piratas PDFMilena CarvalhaisAinda não há avaliações
- Psicologia B 12Documento50 páginasPsicologia B 12helenabrayAinda não há avaliações
- Teste Hipótese Média População Variância ConhecidaDocumento8 páginasTeste Hipótese Média População Variância ConhecidaMelo JoseAinda não há avaliações
- Introdução à EletrotermofototerapiaDocumento13 páginasIntrodução à Eletrotermofototerapiawidy100% (1)
- Curso Pregação Transformadora 71 aulasDocumento4 páginasCurso Pregação Transformadora 71 aulasAlisson Barbosa0% (1)
- Smart ClassDocumento8 páginasSmart ClassArthur De Freitas LealAinda não há avaliações
- Sinais VitaisDocumento48 páginasSinais VitaisVovote MomadeAinda não há avaliações
- Hábitos de felicidade: Cinco coisas que você pode fazer em sua vida cotidiana para construir uma felicidade duradouraNo EverandHábitos de felicidade: Cinco coisas que você pode fazer em sua vida cotidiana para construir uma felicidade duradouraNota: 5 de 5 estrelas5/5 (9)
- Encontre seu propósito: Como traçar um caminho em direção às suas paixões, fortalezas e autodescobertaNo EverandEncontre seu propósito: Como traçar um caminho em direção às suas paixões, fortalezas e autodescobertaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (7)
- Comunicação eficaz no trabalho: Como lidar com comunicação ineficaz e políticas corporativasNo EverandComunicação eficaz no trabalho: Como lidar com comunicação ineficaz e políticas corporativasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Propósito: Encontre paz, sentido e felicidade no seu dia a dia com a filosofia japonesa do IKIGAINo EverandPropósito: Encontre paz, sentido e felicidade no seu dia a dia com a filosofia japonesa do IKIGAINota: 5 de 5 estrelas5/5 (4)
- 21 dias para curar sua vida: Amando a si mesmo trabalhando com o espelhoNo Everand21 dias para curar sua vida: Amando a si mesmo trabalhando com o espelhoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (49)
- Pare de Procrastinar: Supere a preguiça e conquiste seus objetivosNo EverandPare de Procrastinar: Supere a preguiça e conquiste seus objetivosNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (58)
- Pense positivo: 50 frases que vão transformar a sua vidaNo EverandPense positivo: 50 frases que vão transformar a sua vidaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (4)
- As 10 Leis Secretas da Visualização: Como Aplicar a Arte da Projeção Mental Para Obter SucessoNo EverandAs 10 Leis Secretas da Visualização: Como Aplicar a Arte da Projeção Mental Para Obter SucessoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (5)
- A Matriz do Sucesso: Conquiste a vida que sempre desejouNo EverandA Matriz do Sucesso: Conquiste a vida que sempre desejouNota: 5 de 5 estrelas5/5 (4)
- Kaizen Filosofia Japonesa de Mudança: Melhore sua Vida e Alcance o Sucesso um Passo de Cada Vez Seguindo o Método Japonês de Crescimento PessoalNo EverandKaizen Filosofia Japonesa de Mudança: Melhore sua Vida e Alcance o Sucesso um Passo de Cada Vez Seguindo o Método Japonês de Crescimento PessoalNota: 4 de 5 estrelas4/5 (18)
- O Poder da Mente: A chave para o desenvolvimento das potencialidades do ser humanoNo EverandO Poder da Mente: A chave para o desenvolvimento das potencialidades do ser humanoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (72)
- Sem Limites para o Dinheiro: Aprenda a Atrair Prosperidade FinanceiraNo EverandSem Limites para o Dinheiro: Aprenda a Atrair Prosperidade FinanceiraNota: 5 de 5 estrelas5/5 (5)
- São Cipriano - O Livro Da Capa De AçoNo EverandSão Cipriano - O Livro Da Capa De AçoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (3)
- Estuda Que a Vida Muda: Ajudando a Mudar o Destino de Uma GeraçãoNo EverandEstuda Que a Vida Muda: Ajudando a Mudar o Destino de Uma GeraçãoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (37)
- Seja suficiente: Cultive a sua mentalidade para conseguir o que deseja na vidaNo EverandSeja suficiente: Cultive a sua mentalidade para conseguir o que deseja na vidaNota: 4 de 5 estrelas4/5 (5)
- A arte da persuasão: Um guia rápido para influenciar as pessoas de maneira ética e eficazNo EverandA arte da persuasão: Um guia rápido para influenciar as pessoas de maneira ética e eficazNota: 5 de 5 estrelas5/5 (5)
- O poder da intuição: Aprenda a tomar decisõesNo EverandO poder da intuição: Aprenda a tomar decisõesNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (6)
- Análise do Comportamento Aplicada ao Transtorno do Espectro AutistaNo EverandAnálise do Comportamento Aplicada ao Transtorno do Espectro AutistaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (13)
- Contos que curam: Oficinas de educação emocional por meio de contosNo EverandContos que curam: Oficinas de educação emocional por meio de contosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (8)