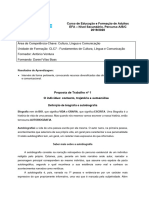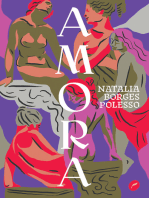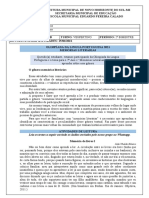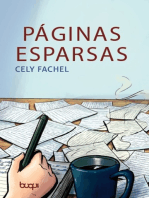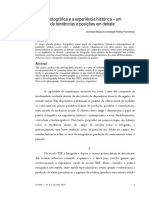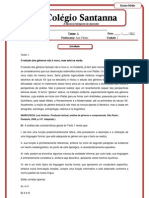Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Henighan, Stephen - Uma Entrevista Com Ondjaki
Enviado por
francesca0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
13 visualizações7 páginasTítulo original
Henighan, Stephen - Uma entrevista com Ondjaki
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
13 visualizações7 páginasHenighan, Stephen - Uma Entrevista Com Ondjaki
Enviado por
francescaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 7
Hispanic Research Journal, Vol. 7, No.
4, December 2006, 365–371
FEATURE
This section is devoted to writing that does not fall within the strict definition of
‘research’ but that is, nevertheless, of special interest to researchers. It enables us to
publish a wide variety of material on many aspects of hispanism: opinion, discussion,
interviews, revaluations, arguments, anecdotes and memoirs, and impassioned calls to
arms. It also offers us the opportunity of publishing our readers’ responses to them.
Contributions are invited, and may be of any length from a paragraph to 7,000 words.
Uma entrevista com Ondjaki
Stephen Henighan
University of Guelph, Ontario
O escritor Ondjaki (Ndalu de Almeida) nasceu em Luanda, Angola, em 1977. Cresceu em
Luanda, fez estudos em Lisboa e Nova Iorque e vive hoje entre Luanda e Lisboa. Entre
outros livros, é autor dos romances Bom dia camaradas (2001), O Assobiador (2003) e
Quantas madrugadas tem a noite (2004). Os seus romances foram traduzidos para o francês,
o inglês, o italiano, o espanhol e o alemão. Também é autor dos livros de contos Momentos
de aqui (2001) e E se amanhã o medo (2005), dos livros de poesia Actu sanguíneu (2000) e Há
prendisajens com o Xão (2003) e do livro de literatura infantil Ynari, a menina das cinco
tranças (2004). Em 2005 foi galardoado em Angola com o Prémio Sagrada Esperança.
Ondjaki interessa-se também pelo teatro, pela pintura e pela cinema. Actualmente,
prepara um documentário sobre a cidade de Luanda, onde decorreu esta entrevista a 6
de julho de 2005.
SH: Como você fez para começar fazer carreira, quando se deu conta de que era escritor?
O: Eu já escrevia a partir de 1994 ou 1995. Mas foi no ano de 2000 que eu juntei uns
poemas e fiz a tentativa de publicar. Mandei para o concurso literário ‘António Jacinto’,
que era precisamente para escritores inéditos, e o meu livro Actu sanguíneu ganhou uma
menção honrosa: não tinha direito a dinheiro mas à publicação. Foi assim que o meu
primeiro livro foi publicado. Acho que a partir daí eu aceitei a ideia que era possível ser
escritor. Acho que era isso que eu queria. Logo a seguir falei com o Jacques dos Santos
que era editor da Chá de Caxinde; ele disse que estava a fazer uma colecção sobre a
independência e perguntou se eu tinha algo dentro dessa temática. Não tinha nada, mas
menti, disse que sim, que tinha uma história pensada que já estava adiantada. Ele
perguntou-me quando é que lhe poderia entregar o livro e eu falei-lhe em dois meses. Na
Address correspondence to Stephen Henighan, University of Guelph, College of Arts, School of
Languages and Literatures, Spanish Studies, Guelph, Ontario, Canada N1G 2W1.
© Queen Mary, University of London, 2006 DOI: 10.1179/174582006X150984
366 HISPANIC RESEARCH JOURNAL, 7.4, DECEMBER 2006
altura eu estava em Portugal, isto foi em maio, ele falou comigo e pediu-me então que
entregasse o livro em julho ou agosto. Portanto tinha dois meses para escrever o livro. E
escrevi.
SH: Quê livro foi?
O: Bom dia camaradas. Depois publiquei-o em Portugal em 2003, mas já tinha saído aqui
em 2001. Foi assim que comecei.
SH: Você escreve poesia, contos e romances. Como vê a relação, no seu desenvolvimento como
escritor, entre a poesia e a narrativa?
O: Na realidade eu sempre escrevi poesia. Aquilo que eu escrevia desde os catorze anos
eram poemas. O que se passa é que, à medida que fui publicando, senti-me mais
confortável com o resultado da prosa. É muito mais fácil transmitir a prosa; é simples,
porque é ficção, é inventada. A poesia tem uma relação mais intimista comigo mesmo.
Então tenho alguma dificuldade em decidir qual é o momento certo para publicar um
livro de poemas. Neste momento estou a rever um livro de poemas que está pronto. Quer
dizer, no fundo estou a habituar-me à ideia de que quero publicá-lo. Porque é, outra vez,
um livro intimista demais, com coisas muito de dentro. A minha poesia não vai muito
para fora. A prosa vai; vai para outros mundos. E a relação entre a prosa e a poesia passa
pela postura que o autor vai tendo relativamente aos seus livros… e à sua maturidade.
Eu deixo que uma coisa influencie a outra. Até gosto que isso aconteça.
SH: Você fez faculdade em Lisboa. Como foi recebida a sua identidade como angolano pelos
estudantes portugueses?
O: Eu estudei dois anos em Portugal, antes da universidade. Esses dois anos não foram
muito fáceis. Portugal tinha uma particularidade nessa altura: a fraca tolerância à
diferença. A pior coisa não era o facto de ser angolano, mas sim a cor da pele. Quanto
mais escura fosse uma pessoa, pior era. Havia discriminação e, mais ainda, uma menor
aceitação da diferença. Pessoalmente, o que mais senti, o que lhes fazia mais confusão,
era a maneira de eu falar, era o sotaque. Se eu dissesse alguma coisa, eles calavam-se
para ouvir o que eu estava a dizer. Havia uns que estavam curiosos, outros achavam
piada ao sotaque diferente e outros faziam que era quase ridículo. Quando entrei na
universidade, encontrei outro tipo de pessoas, com outra educação, com outra abertura.
Mas esses dois primeiros anos foram difíceis porque era tudo diferente, a maneira de
vestir, a maneira de falar. Agora não. Portugal já tem muito mais misturas do que
naquela época e, portanto, já tolera muito melhor as diferenças culturais.
SH: Porque escolheu estudar sociologia em vez de uma matéria mais ligada à literatura, ao teatro
ou à pintura?
O: Na realidade eu não escolhi; acabou por acontecer. Acabei o décimo segundo e
consegui uma bolsa de estudo. O curso que eu queria ter feito naquela altura era Línguas
e Literaturas Modernas, porque o português e o inglês sempre foram as minhas
disciplinas preferidas. Descobri que, por motivos curriculares, não era possível fazer esse
curso e tinha quatro ou cinco dias para tomar a decisão. Então pensei, bom, faço
Sociologia, porque sempre é uma disciplina onde se escreve bastante e é um curso onde
se aprender algo sobre pessoas. Gostava dessa peculiaridade de poder conhecer melhor
as pessoas enquanto seres sociais. Detestei o curso no princípio, sim, mas acho que foi
HENIGHAN: UMA ENTREVISTA COM ONDJAKI 367
muito bom para minha escrita ter feito Sociologia, porque a Sociologia fornece
instrumentos de análise social que outros cursos não me dariam.
SH: Nos contos de Momentos de aqui convivem os mortos e os vivos. Uma personagem, a
falecida Avó Catarina ‘contou-nos (em directo) estórias magníficas de um mundo que está tão
perto de nós no dia-a-dia, que nem chegamos a vê-lo’. Esta proximidade entre os vivos e os mortos
provém da tradição oral africana?
O: Penso que aquilo que chamamos ‘tradição oral africana’ encontra-se em meios mais
rurais. Não no meu caso. Eu cresci num ambiente urbano. Cresci em Luanda, sempre na
cidade. Frequentei poucos ambientes rurais. Agora, eu tive, sim, um contacto muito forte
e directo com muitas estórias da minha avó. Muitas das estórias que eu sei, foi a minha
avó que me contou. Mas a minha avó é uma pessoa da cidade, uma pessoa que sabe ler
e escrever, e é alguém que viajava muito em Angola devido à profissão do marido.
Portanto, a transmissão do conhecimento dela é oral. Mas não é a representação daquilo
que estamos habituados a ouvir como a ‘tradição oral africana’, do mais velho da aldeia
que conta estórias. Nesse sentido não. Essa noção de proximidade entre os mortos e os
vivos vem também da minha imaginação, misturada com as muitas estórias da minha
avó Agnette. Provém de um imaginário particular, meu e da minha família, misturado
com o imaginário colectivo, quotidiano, da cidade de Luanda, onde sim, os mortos são
referidos com muita frequência.
SH: A acção de sua novela O assobiador decorre numa aldeia perto de um lago. O mundo da
aldeia recorre a traços que poderiam provir do mundo tradicional da Ilha de Luanda. Que modelos
inspiraram O assobiador?
O: Na origem de uma obra estão factores conscientes e factores inconscientes. Os
inconscientes desconheço-os, são uma mistura de tudo o que lemos e tudo que já
vivemos. Os conscientes vêm muito da minha imaginação. Vêm muito de dentro, do meu
mundo. A história de O assobiador é muito simples. O primeiro capítulo era para ser um
conto: um senhor chega cansado a uma aldeia, senta-se à porta da igreja; a igreja está
fechada; começa a chover e é estranho porque é uma chuva que não faz barulho. E o
conto era só isso. De repente comecei a inventar o resto da história, e queria completar.
Que aldeia era esta? Quem é que vive nessa aldeia? Comecei a imaginar o resto. Compus
o livro como se fosse uma peça de teatro. Pus no Assobiador coisas que eu gosto de
encontrar: o lago, os burros, um padre — os padres eu não gosto de encontrar na vida
real, mas gosto de padres enquanto personagens —, uma moça que vive ali mas que vem
de um lugar perto do mar, um maluco que é o Kalua, o Coveiro; eu adoro a personagem
do Coveiro. Foi um pouco uma peça que eu montei para mim próprio, e depois o ro-
mance começou a ganhar uma vida própria. Quando o livro foi apresentado cá em
Luanda, o Pepetela disse que era curioso que todas as personagens eram ‘boas pessoas’.
Eu só reparei nisso quando ele me disse. Quer dizer que não há muita ligação com o real,
porque na vida real há pessoas más. Mas o livro tem pouca ligação com o real, vem
muito da minha imaginação ... É sobre uma aldeia que eu gostaria que existisse.
SH: No romance Bom dia camaradas a relação entre o jovem narrador e a sua Tia Dadá
desmascara o facto de que, apesar de ser da mesma família, as duas gerações têm conhecimentos
completamente diferentes da história de Angola. Foi uma maneira de salientar a consciência
angolana dos que ficaram em África depois da independência?
O: No caso de Bom dia camaradas trata-se justamente do contrário. Tudo o que está em
Bom dia camaradas, todas as pessoas, todas as situações, são verdadeiras. A única coisa
368 HISPANIC RESEARCH JOURNAL, 7.4, DECEMBER 2006
que não é extremamente verdadeira é a sequência dos acontecimentos. Ou seja, a minha
tia tem esse nome. Nesse sentido, sim, é usada uma personagem que não é portuguesa,
é uma pessoa angolana que saiu e que volta cá de férias encontrando uma outra Angola.
Eu quis retratar um pouco essa visão de fora. Não foi para salientar a consciência
angolana dos que decidiram ficar. Foi para tentar abordar, um pouco, a diferença de
visões, a diferença de percepções políticas em torno de uma nação que tinha acabado de
nascer com autonomia política. Era o meu mundo comparado com o dela. Usei a ficção
para falar de uma série de coisas que se passaram cá naquela altura. Eu quis caracterizar
Luanda dos anos 80 que não estava muito presente na literatura; há um bocadinho no
Quem me dera ser onda, que é um livro do Manuel Rui. Quis falar da presença dos cubanos
aqui, que não estava muito trabalhada na ficção angolana. Alguém poderia escrever
sobre os cubanos na frente de combate, pois isso é outra dimensão da presença deles
aqui. Portanto, tudo isso é um bocado usado por mim. Para caracterizar uma época,
aquele livro é feito com os afectos de uma criança, toda a família, todos os amigos, o
cozinheiro, etc., mas é também um livro sobre a situação política de um país que é, ele
mesmo, uma criança; um livro que diz como é que as crianças viam e viviam a situação
político-social da Angola nos anos 80.
SH: Quem é o narrador do romance Quantas madrugadas tem a noite e de onde provém a sua
linguagem literária?
O: O narrador, Adolfo Dido, é uma mescla; é uma personagem inventada. Dificilmente
haverá um cidadão comum em Luanda com aquele tipo de conhecimentos, com aquela
linguagem. A pessoa que eu descrevo é uma pessoa muito viajada. Depois, encontramo-
lo num momento de alguma pobreza: está num bar, a beber, sempre a beber. É uma
personagem que terá feito um curso e, por uma razão qualquer, está ali naquele bar,
desempregado. Ele é uma mistura de várias realidades pois eu quis simbolizar, con-
densar nele, uma série de ‘Luandas’. Pus nesse personagem o sotaque de algumas
pessoas que estão em Luanda, mas também o conhecimento e a vivência de muitas
outras pessoas de Luanda. É uma personagem enriquecida demais. Algumas das
características da maneira de ser, da maneira de viver dele, sim, existem. Mas ele, como
é descrito, dificilmente existiria em carne e osso em Luanda. Ele é muito inventado. Aliás,
todo o livro é um meio caminho entre aquilo que é a verdade concreta de Luanda e tudo
que me apeteceu imaginar para uma certa Luanda. A linguagem literária do personagem
Adolfo Dido virá, talvez, das suas leituras, das suas viagens e da sua vivência em
Luanda. Talvez.
SH: Em Bom dia camaradas há mostras do autoritarismo do estado revolucionário angolano
mas também se vê um carinho muito forte pelos professores cubanos, os heróis da revolução e até
os comícios. Em Quantas madrugadas tem a noite a desilusão parece ser mais forte. Fala-se de
um personagem ‘ele me falou, antigas coerências dele dos camaradismos, deve ser ele um desses
poucos que levaram aquela merda a sério’. Qual é a visão de sua geração da herança dos anos do
estado revolucionário?
O: É natural que, sendo o Bom dia camaradas um livro que descreve uma geração, que
é a minha, que na altura vivia um momento quase de nascimento do país, havia uma
certa esperança e crença. Eu acho que nós, os miúdos que estavam na escola e que
participavam nos comícios, nas actividades políticas, ouvíamos certas coisas em que
acreditávamos e que as pessoas que nos diziam já não acreditavam .... Em Quantas
madrugadas ..., que é um livro passado nos anos 2000–2002, todas as pessoas já
HENIGHAN: UMA ENTREVISTA COM ONDJAKI 369
descobriram que muita coisa não é verdade. E aí há uma espécie de desilusão. Ou, não
tanto uma desilusão mas uma espécie de incerteza. O que isto vai dar? O que vamos nós
fazer com o nosso futuro? É um misto de incerteza que encontro aqui nas pessoas com
a minha própria incerteza que, como escritor, não posso deixar de transmitir. Mas eu
não falo em nome de uma geração. Primeiro, porque ainda sou jovem e sou um jovem
atípico. Por muitas razões, não sou o típico jovem luandense. Pelo meu percurso literário,
pelo meu percurso pessoal, enfim. Mas penso que em alguns aspectos, como a incerteza
em relação ao nosso futuro, a incerteza em relação ao desenvolvimento do país, o estado
em que vemos as coisas sociais deste país, penso que sim, são preocupações que todos
nós partilhamos. É uma geração que está preocupada com o futuro da Angola, mas que
ainda acredita e que tem muita força. Precisamos de oportunidades, de um certo espaço
para mostrarmos que culturalmente somos muito capazes e isso também é uma coisa
geracional. Há aqui, nas novas gerações, muita capacidade, um potencial muito forte.
Muitos dos que estudam cá, muitos que cantam aqui, que fazem teatro em Angola são
pessoas com muita capacidade.
SH: Os escritores angolanos da geração que fez a independência falavam muito da procura da
‘angolanidade’. Esta ideia de ‘angolanidade’ tem algum significado para você?
O: Para mim, a ideia de ‘angolanidade’ tem significado, obviamente. Mas é muito difícil
falar objectivamente disso. Na ‘angolanidade’ de Pepetela, eles estavam a descobrir ou a
inventar uma ‘angolanidade’. Para mim ela foi natural. Eu cresci aqui. Quando nasci,
Angola era um país independente. Portanto penso que nós, esta geração em Luanda,
mostra a sua Angola que é esta, a que nós temos e que na minha perspectiva já engloba
uma série de coisas. Ser angolano já não é só comer funje ou dançar kizomba. Porque
Angola é um país não só com 18 províncias, mas com muitas tendências étnicas, desde as
tendências gastronómicas, a maneira de vestir, a maneira de caçar, a maneira de comer,
a maneira de sobreviver, as províncias mais atingidas pela guerra, as províncias menos
atingidas pela guerra. Tudo isso faz com que, enfim, existam ‘muitas Angolas’ e
que fique difícil dizer quem é ‘o típico’ homem angolano ou quem é ‘a típica’ mulher
angolana. Como no resto dos outros países. Angola, como qualquer outro país no
mundo, sofre os efeitos da globalização. Qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo,
já sofre as influências culturais de outros países. Aqui há gente que adora a América e
que só ouve música americana. E há gente que detesta música estrangeira e que só ouve
música nacional. E quem sou eu para dizer quem é o mais angolano? Para comentar a
‘angolanidade’, eu remeto para uma perspectiva de diversidade. A título pessoal, a
angolanidade que eu persigo é a angolanidade da ajuda, de interajuda, da solidariedade,
do desenvolvimento, da liderança competente, do activismo cultural e sobretudo da
modernidade africana. É preciso que os africanos se permitam viver a modernidade; que
saibam englobar o seu lado tradicional mas não esquecendo que África também é um
continente moderno, com tendências culturais ultramodernas. E isso é incontornável, está
em toda a produção africana, desde a sociologia, a literatura ou as artes plásticas. Está a
acontecer. Sempre esteve.
SH: Você quando escreve, sente que fala desde uma tradição literária já consagrada de abordar a
realidade africana em língua portuguesa?
O: Claro. Até porque, eu não falo nenhuma língua tradicional angolana. Aprendi
bom inglês nas escolas angolanas e boa língua portuguesa. Portanto a minha língua
instrumental de pensar é a língua portuguesa. Expresso-me na língua portuguesa falada
370 HISPANIC RESEARCH JOURNAL, 7.4, DECEMBER 2006
em Angola. É esta minha expressão; e eu gosto muito desta língua. Sou seguidor das
regras da língua portuguesa. Por que? Porque para fazer o jogo, para se quebrar, é
preciso conhecer as regras. Quando estou a falar português correcto, estou a falar
correctamente. Se estou a fazer um exercício literário, estou a fazer um exercício literário.
São duas coisas distintas. Agora: quantas influências? Já não leio tanto, e já não busco
tanto. Busco aquilo que me agrada e especialmente na poesia leio muita literatura
europeia. Mas em prosa o que me agrada é o universo todo da América Latina. Claro, de
África também, mas isso é evidente. Aqui há muita gente que eu aprecio. Mas tirando os
materiais de África, o que realmente me faz crescer é a literatura da América Latina. E
não é só o caso do realismo mágico. É a qualidade da escrita deles, a inventividade. Por
exemplo, uma autora como a Clarice Lispector, brasileira, que não é uma autora que faz
muita ‘brincadeira’, como Guimarães Rosa, como Mia Couto de Moçambique ao nível da
língua. No caso dela, é a abordagem que me interessa, o tipo de assunto. Eles estão
sempre em busca do lado humano das coisas. É isso que me fascina na América Latina.
SH: Foi importante para você a literatura africana anterior em língua portuguesa?
O: Foi muito importante. Não só as obras mais antigas como O segredo da morta [de
António de Assis Júnior] ou os livros do Castro Soromenho, que eram produções feitas
muito antes da independência. Já o José Luandino Vieira escreveu na cadeia, e numa
perspectiva de que tudo ia mudar, estava muita coisa a acontecer. A independência
era uma questão de anos e as literaturas dessa época denunciam muita coisa e fazem
do português uma literatura mais típica de Angola e até uma recusa dessa língua
portuguesa mais clássica. Para o Luandino, já era necessário outro formato, com outra
história e outro conteúdo, também. O Pepetela rompe pouco com o formato, mas rompe
com os conteúdos. O Boaventura Cardoso, mais tarde, também. O Manuel Rui rompe
com o formato e com os conteúdos. Portanto sim, essas leituras foram muito importantes,
também porque cresci num ambiente sempre próximo desses autores. É como sentir uma
certa segurança; como sentir-me acompanhado. Eu cresci fisicamente perto deles,
conheci-os a todos ... O Pepetela e Henrique Abranches, Ndunduma, o Luandino nem
tanto. Ter crescido com tantos escritores por perto pode ter influenciado um pouco.
Ainda hoje, sou amigo deles. Agora também, como colega, como escritor. Devo dizer
também que a leitura de Mia Couto e Luandino foram muito importantes. Não tanto pelo
estilo, mas pelo que me transmitiam: tudo é possível, mas tem que ser bem feito, não se
pode chegar aqui e dizer que uma casa levantou voo e esperar que todos acreditem. Mas
se tu acreditares, dentro da tua lógica literária e puseres bem a coisa, a casa pode voar.
Foi isso que eu aprendi com eles: a ser livre na escrita, a escrever como me apetecia. Fui
descobrindo regras minhas e é isso que persigo até hoje. Cada um escreve como escreve.
Mas poder compartilhar um pouco da sensibilidade destas pessoas, que são pessoas de
sensibilidade muito ousada, é uma boa influência, claro.
SH: Os leitores da produção literária lusoafricana encontram-se principalmente em Portugal.
Você acha que a natureza da literatura vai mudar quando houver mais leitores em Angola,
Moçambique e Cabo Verde?
O: Eu não escrevo a pensar num público português ou num público angolano. Eu
escrevo a pensar no meu esforço e no projecto que quero viver. São momentos distintos,
o da escrita e o da distribuição do livro, é preciso salvaguardar esses dois mundos,
separá-los mesmo. Eu tinha receio deste livro Quantas madrugadas tem a noite, de como
seria aceito em Portugal. Mas o receio de como ele seria recebido em Portugal não me fez
HENIGHAN: UMA ENTREVISTA COM ONDJAKI 371
escrever mais brando ou mais fácil para os portugueses lerem. Os meus leitores, a grande
parte, são portugueses. Eu vendo em Portugal. Aqui quase ninguém vende. Mas, se
houvesse mais leitores em África, o que certamente se alteraria era a nossa relação com o
público africano. Tendo mais leitores, eventualmente haveria um nível de exigência mais
elevado. Agora se isso ia alterar a natureza da literatura, os seus conteúdos e formatos,
não sei dizer. Quando há muitos leitores, surgem, isso sim, novos fenómenos, e há
autores que vão inventando coisas porque o público ‘quer ler’. Passa-se isso em todo o
lado.
Você também pode gostar
- Biografia - Autobiografia - EntrevistaDocumento5 páginasBiografia - Autobiografia - EntrevistaFernanda LopesAinda não há avaliações
- ONDJAKIDocumento17 páginasONDJAKIbibliotecasvsAinda não há avaliações
- Ondjaki, um apanhador de memóriasDocumento7 páginasOndjaki, um apanhador de memóriasAnonymous Kral6J3Ainda não há avaliações
- A Escrita e o Reino Do EntusiasmoDocumento4 páginasA Escrita e o Reino Do EntusiasmokerolzinhaAinda não há avaliações
- Afonso CruzDocumento2 páginasAfonso CruzBibliotecasAearsAinda não há avaliações
- CLC 7 Ficha de Trabalho #2Documento8 páginasCLC 7 Ficha de Trabalho #2Dora Vilas BoasAinda não há avaliações
- KaReal Número3Documento60 páginasKaReal Número3jlopez766Ainda não há avaliações
- Movimento de Recuperação Poética do MundoDocumento4 páginasMovimento de Recuperação Poética do MundoEduardo SilvaAinda não há avaliações
- Memória e Loucura em A Louca de SerranoDocumento94 páginasMemória e Loucura em A Louca de SerranoFabiana FranciscoAinda não há avaliações
- BIOGRAFIADocumento3 páginasBIOGRAFIADinis AlmeidaAinda não há avaliações
- Afonso Cruz EntrevistaDocumento5 páginasAfonso Cruz Entrevistabiblioteca.abrantesAinda não há avaliações
- Literatura, Memória e Identidade - Entrevista Com OndjakiDocumento10 páginasLiteratura, Memória e Identidade - Entrevista Com OndjakiRoberta MirandaAinda não há avaliações
- Críticas - Fábio Andrade e Daniel LimaDocumento9 páginasCríticas - Fábio Andrade e Daniel LimaconradofalboAinda não há avaliações
- Hans Ulrich Obrist Entrevista Jota Mombaça - ZUMDocumento17 páginasHans Ulrich Obrist Entrevista Jota Mombaça - ZUMVictor MartinsAinda não há avaliações
- Recortes para álbum de fotografia sem genteNo EverandRecortes para álbum de fotografia sem genteNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (2)
- Biografia Sophia BreynerDocumento10 páginasBiografia Sophia BreynercarlasofiaAinda não há avaliações
- A Cidade e A InfânciaDocumento19 páginasA Cidade e A InfânciaAnonymous T9zF0wF1Ainda não há avaliações
- Modos de narrar: a arte da conversaçãoDocumento9 páginasModos de narrar: a arte da conversaçãoAdriana Nunes da CostaAinda não há avaliações
- Escritas do vento sul: entrevista revela pensamento de Vilma ArêasDocumento4 páginasEscritas do vento sul: entrevista revela pensamento de Vilma ArêasElson De OliveiraAinda não há avaliações
- Ana Cristina LuzDocumento2 páginasAna Cristina LuzsfrikhAinda não há avaliações
- Vo Alice Vieira DDocumento42 páginasVo Alice Vieira Daida.abreuAinda não há avaliações
- Autor Mistério 2017Documento21 páginasAutor Mistério 2017Mariana NovoAinda não há avaliações
- Onde é que eu estou?: Heloisa Buarque de Hollanda 8.0No EverandOnde é que eu estou?: Heloisa Buarque de Hollanda 8.0Ainda não há avaliações
- Cronicas NellyDocumento224 páginasCronicas NellyasspferreiraAinda não há avaliações
- Fragmentos Do Sensivel em Odete SemedoDocumento124 páginasFragmentos Do Sensivel em Odete SemedoJohn Jefferson AlvesAinda não há avaliações
- CLC7-1 TrabDocumento3 páginasCLC7-1 TrabMarta Artilheiro100% (1)
- O Modernismo em Portugal: A Geração de Orpheu e o Início do MovimentoDocumento64 páginasO Modernismo em Portugal: A Geração de Orpheu e o Início do MovimentoGabrielAinda não há avaliações
- #3 Conversas Com Nossos Poetas - Bernardo SoutoDocumento10 páginas#3 Conversas Com Nossos Poetas - Bernardo SoutoCaleb OliveiraAinda não há avaliações
- Entrvista Usp Com LidiaDocumento16 páginasEntrvista Usp Com Lidialilianavf_034802Ainda não há avaliações
- Ensinamentos de Michèle Petit sobre a leitura literáriaDocumento39 páginasEnsinamentos de Michèle Petit sobre a leitura literáriaMarcelo Del'AnholAinda não há avaliações
- Viagem pelas obras e vida de Cristina CarvalhoDocumento4 páginasViagem pelas obras e vida de Cristina CarvalhoAna Cristina SilvaAinda não há avaliações
- UntitledDocumento226 páginasUntitledMarcia Valeria Lorenzoni DominguesAinda não há avaliações
- Análise da obra Aparição de Vergílio FerreiraDocumento15 páginasAnálise da obra Aparição de Vergílio FerreiraPBALTAAinda não há avaliações
- Cof 286Documento17 páginasCof 286DGAG AHAFHAinda não há avaliações
- Tartufo - O Pato SelvagemDocumento247 páginasTartufo - O Pato SelvagemLincolnAinda não há avaliações
- Contar HistóriasDocumento7 páginasContar HistóriasManuela Pereira ManelaAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento10 páginas1 PBCamila MatosAinda não há avaliações
- Entrevista Evandro Affonso OroboroDocumento4 páginasEntrevista Evandro Affonso OroborodavidlopesdasilvaAinda não há avaliações
- Análise crítica de matéria jornalística sobre ciganosDocumento12 páginasAnálise crítica de matéria jornalística sobre ciganosHéber SeneAinda não há avaliações
- Lygia Fagundes Telles, escritora brasileiraDocumento14 páginasLygia Fagundes Telles, escritora brasileiraRAFAELAinda não há avaliações
- Atividade 7B 01-15 06 21Documento3 páginasAtividade 7B 01-15 06 21Davi Nilo De Jesus100% (1)
- Textos Literários No EnemDocumento13 páginasTextos Literários No EnemLuna LaswickAinda não há avaliações
- Apostila Complementar IDocumento8 páginasApostila Complementar IVonAinda não há avaliações
- Otelo e O Idiota: expedição pela literatura clássicaDocumento209 páginasOtelo e O Idiota: expedição pela literatura clássicaFrancisco VieiraAinda não há avaliações
- Apresentaç de Port-Tiagoapresentação-leituraDocumento11 páginasApresentaç de Port-Tiagoapresentação-leituramcarmorf5725Ainda não há avaliações
- Entrevista À Escritora Idália FarinhoDocumento23 páginasEntrevista À Escritora Idália FarinhomargaridaguerreiroAinda não há avaliações
- 6° Ano Seqüência Didática - Gênero Textual AutobiografiaDocumento14 páginas6° Ano Seqüência Didática - Gênero Textual AutobiografiaRosianneLopes100% (1)
- Manual A Fabulosa Morte Do Professor de PortuguesDocumento14 páginasManual A Fabulosa Morte Do Professor de PortuguesLuana SilvaAinda não há avaliações
- Maria Gabriela AntunesDocumento5 páginasMaria Gabriela AntunesJoao Portelinha da SilvaAinda não há avaliações
- Justo TempoDocumento4 páginasJusto Tempojoaoleitegabriel1808Ainda não há avaliações
- Biografia de Sophia de Mello Breyner AndresenDocumento9 páginasBiografia de Sophia de Mello Breyner AndresenCarla SantosAinda não há avaliações
- Identidade Angolana na ficção de PepetelaDocumento252 páginasIdentidade Angolana na ficção de PepetelaEdson Cruz100% (1)
- Guia Fortificações - 2 Edição - FinalDocumento121 páginasGuia Fortificações - 2 Edição - Finalcarlos corteAinda não há avaliações
- Literatura Portuguesa I - 1 Parte PDFDocumento181 páginasLiteratura Portuguesa I - 1 Parte PDFJosimar Tomaz de BarrosAinda não há avaliações
- Acordes de Violão - Guia para Melhorar Os AcordesDocumento14 páginasAcordes de Violão - Guia para Melhorar Os AcordesUbiratanAinda não há avaliações
- Emili-Fichamento-Teoria Da ArteDocumento4 páginasEmili-Fichamento-Teoria Da ArteEmili KrügelAinda não há avaliações
- Texto 1 Paulo Rónai - Como Aprendi o PortuguêsDocumento5 páginasTexto 1 Paulo Rónai - Como Aprendi o Português10041989Ainda não há avaliações
- Mayra Andrade: Nova voz da música cabo-verdianaDocumento9 páginasMayra Andrade: Nova voz da música cabo-verdianaMILA FERNANDESAinda não há avaliações
- A mélica grega arcaicaDocumento4 páginasA mélica grega arcaicaLucas MendesAinda não há avaliações
- Dimensões lavadoraDocumento1 páginaDimensões lavadoraAdemir Nascimento Gessica RaquelAinda não há avaliações
- O Realismo como nova expressão da arteDocumento5 páginasO Realismo como nova expressão da arteLéoAinda não há avaliações
- Garri Potter I KDocumento39 páginasGarri Potter I KAlejandra Moreno100% (26)
- Arte Na Infância - Construindo Novas Memórias. Edmundo CezarDocumento5 páginasArte Na Infância - Construindo Novas Memórias. Edmundo CezarClaudiaReginaSFaria100% (1)
- Heitor Villa Lobos PDFDocumento318 páginasHeitor Villa Lobos PDFMAYAAinda não há avaliações
- Licenciado para Bárbara - Imperatriz LeopoldinaDocumento16 páginasLicenciado para Bárbara - Imperatriz LeopoldinaBárbara ConsanAinda não há avaliações
- InfantilDocumento9 páginasInfantilFERNANDA MARAAinda não há avaliações
- Ebook - Amigurumi Coelho FloquinhoDocumento17 páginasEbook - Amigurumi Coelho FloquinhoCristiane PinheiroAinda não há avaliações
- O Romantismo e o Palácio Da PenaDocumento16 páginasO Romantismo e o Palácio Da PenaMiriam AzevedoAinda não há avaliações
- O que é Motion DesignDocumento128 páginasO que é Motion DesignVinicius Martins100% (1)
- (Resenha) A Ilha Do Tesouro - Robert Louis Stevenson by Sabryna Rosa MediumDocumento1 página(Resenha) A Ilha Do Tesouro - Robert Louis Stevenson by Sabryna Rosa Mediumjuarezmmb13Ainda não há avaliações
- Artigo Acadêmico Final - 2021Documento19 páginasArtigo Acadêmico Final - 2021Dulce BarcelosAinda não há avaliações
- Fiódor Dostoiévski Gente Pobre E A AnfitriãDocumento164 páginasFiódor Dostoiévski Gente Pobre E A AnfitriãJoe RadixAinda não há avaliações
- O Regadinho - Uma dança tradicional portuguesaDocumento4 páginasO Regadinho - Uma dança tradicional portuguesaMiguel SantosAinda não há avaliações
- Mídia, Estereótipo e Representação Das MinoriasDocumento27 páginasMídia, Estereótipo e Representação Das MinoriaslewidakAinda não há avaliações
- Tradução Da Apostilha de Rock ExrcíciosDocumento162 páginasTradução Da Apostilha de Rock ExrcíciosAri NetoAinda não há avaliações
- Ana Maria Mauad - Prática Fotográfica e A Experiência Histórica Um Balanço de Tendências e Posições em DebateDocumento12 páginasAna Maria Mauad - Prática Fotográfica e A Experiência Histórica Um Balanço de Tendências e Posições em DebateRenato FreireAinda não há avaliações
- The Summer of 42 Omp - PianoDocumento2 páginasThe Summer of 42 Omp - PianoEmanuel FurlanetiAinda não há avaliações
- aARTE E COMUNICAÇÃODocumento17 páginasaARTE E COMUNICAÇÃOJay Klender Worses80% (5)
- Ensino Médio: Gêneros TextuaisDocumento6 páginasEnsino Médio: Gêneros TextuaisAnderson Kleber100% (1)
- Dança moderna influenciada por NijinskyDocumento23 páginasDança moderna influenciada por NijinskyFabiana AvançoAinda não há avaliações
- Um Roteiro de Leitura para A Antropologia - Ensaios e Notas PDFDocumento15 páginasUm Roteiro de Leitura para A Antropologia - Ensaios e Notas PDFLuan SantosAinda não há avaliações
- Inventário - Cidades Mineiras - Parte 3Documento3 páginasInventário - Cidades Mineiras - Parte 3Camila100% (1)