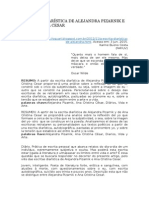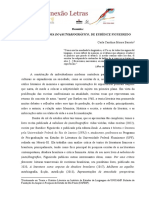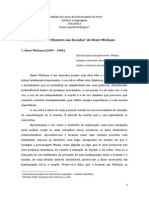Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Morrer, Pensar, Escrever
Enviado por
Manuela BarretoDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Morrer, Pensar, Escrever
Enviado por
Manuela BarretoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
http://dx.doi.org/10.
22409/abriluff2019n22a557
Morrer, pensar, escrever:
pactos do eu autoral
To die, to think, to write: covenants
of the authorial self
Maria Lúcia Wiltshire de Oliveira1
Resumo
O poeta pensa na palavra e nela morre. O poeta “morre de pensar” (Quig-
nard) e morre de escrita. Pensar, morrer, escrever são atos em simultâneo
ao efeito da escrita e a qualquer distância da morte. Por vezes uma forte
experiência de desamparo pode iluminar a vertigem deste encontro que
permite ao autor encenar-se como “morto”. É o que ocorre com Blanchot
num texto curto e híbrido entre ficção e escrita de si – O instante da minha
morte -, que motivou Derrida a escrever um longo ensaio. Morto desde que
enunciado, o autor se dobra a serviço do que lhe advém: um novo eu e um
novo real que o pensamento permite pela escrita. Ceder ao incognoscível é
desaparecer e deixar que corpo e ideias façam o seu trabalho na encenação
de uma “inconcreta” morte. Assim como o sonho, o pensamento se pro-
duz a partir de conceitos/palavras que inventam liames e sentidos entre as
imagens dispersas, lugar onde somos/estamos desde sempre perdidos. Em
torno do exposto, o artigo pretende refletir sobre a escrita em conexão
com a morte, a partir do pensamento de Blanchot e alguns antecessores
(Hegel, Valéry), com o objetivo de abordar, não só a especificidade do li-
terário, mas ainda algum aspecto não-literário da linguagem, catalogado
como testemunhal, de modo a encontrar a indecidibilidade. No lugar de li-
mites, acena-se ao conceito de limiares para investigar alguns pactos do eu
autoral, em Herberto Helder, Gonçalo M. Tavares e no próprio Blanchot.
Palavras-chave: autor; escrita; morte; ficção; testemunho
ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.11, n.22, p. 39-50, jan.-jun. 2019 39
Abstract
The poet thinks of the word and dies in it. The poet “dies of think” (Quig-
nard) and dies of write. To thinking, to die, to write are simultaneous acts
to the effect of the writing and any distance from death. Sometimes a strong
experience of helplessness can illuminate the vertigo of this encounter that
allows the author to act as “dead.” This is what happens to Blanchot in a
short, hybrid text between fiction and self-writing - the moment of my
death - that motivated Derrida to write a long essay. Dead from the mo-
ment he is uttered, the author double himself in the service of what comes
to him: a new self and a new real that thought allows by writing. To yield
to the unknowable is to disappear and let your body and ideas do their
work in the staging of an “imaterial” death. Like the dream, the thought is
produced from concepts / words that invent liames and senses between the
scattered images, where we are / have always been lost. Around the above
the article intends to reflect on the writing in connection with the death,
from the thought of Blanchot and some predecessors (Hegel, Valéry), with
the objective to approach not only the specificity of the literary, but still
some common language, named as testimony , in order to find the undeci-
dability. In place of limits, the concept of thresholds is suggested to investi-
gate some covenants of the authorial self, in Herberto Helder, Gonçalo M.
Tavares and in Blanchot himself.
Keywords: author; writing; death; fiction; testimony
Et, ici, nous évoquerons l’éternel tourment de notre lan-
gage, quand sa nostalgie se retourne vers ce qu’il man-
que toujours, par la nécessité où il est d’en être le manque
pour le dire. (Blanchot, 1969, p. 50)2
Linguagem e morte
O instante da minha morte é um opúsculo publicado em 1974,
onde Blanchot narra uma experiência de quase-morte, acontecida 30 anos
antes (1944), durante a segunda grande guerra na França ainda ocupada
por nazistas. Impactado e seduzido pela contensão e qualidade do texto, o
leitor corre o risco de recepcioná-lo de modo ingênuo se não passar pela
análise um tanto impiedosa que lhe deu Derrida no volume Morada, pu-
blicado 24 anos depois (1998). Sem entrar por ora no mérito da questão,
é possível pensar que este duo (texto de Blanchot & crítica de Derrida)
constitui uma enorme contribuição ao estudo dos limites entre ficção e
testemunho ou arte e realidade.
Sem levar em conta as ambiguidades do relato, é possível falar
de um inconcreto3 morto que o então jovem Maurice protagonizou aos 37
anos numa situação extrema em que sua vida esteve à beira da morte, sob
a mira de fuzis nazistas, o que deve ter marcado a sua obra para sempre.
A partir desse agudo instante de desamparo, o rapaz teria mudado a sua
40 ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.11, n.22, p. 39-50, jan.-jun. 2019
forma de enfrentar a vida, tal como expressa sob a máscara daquele eu am-
bíguo entre a 1ª e a 3ª pessoa do relato – “ Sei, imagino que este sentimento
inanalisável mudou o que lhe restava de existência” (Blanchot, 2003, p. 21)
– em eco ao que dissera antes sobre o resultado da experiência: “Doravan-
te ficou ligado à morte por uma amizade sub-reptícia.” (Blanchot, 2003,
p. 13). No entanto, como afirmou Claudine Hunault, “La mort si présente
dans son œuvre ne relève pas d’un intérêt morbide, elle est le lieu inoublia-
ble où se forma son regard.”4
Para além de narrativas ficcionais que questionam a representa-
ção, Blanchot mergulhou numa incessante reflexão sobre as relações entre
a literatura e a morte em ensaios teórico-críticos, inspirados em Hegel, a
quem atribuiu a sabedoria de distinguir o empírico e o essencial (Blanchot,
2003, p. 19):
A linguagem é de natureza divina, não porque nomeando
ela eternize, mas porque, diz Hegel, “ela inverte imediata-
mente o que nomeia, para transformá-lo numa outra coisa”,
não dizendo aquilo que não é, mas falando precisamente em
nome deste nada que dissolve tudo, sendo o devir falante
da própria morte e, no entanto, interiorizando esta morte,
purificando-a talvez, para reduzi-la ao duro trabalho do ne-
gativo, pelo qual, num combate incessante, o sentido vem a
nós e nós a ele. (Blanchot, 1969, p. 49)
A morte pode aparecer na literatura de duas formas, ambas pra-
ticadas por Banchot: a primeira, quando serve de motivo ou tema da obra,
como no opúsculo citado; a segunda forma, não explícita, nem dita, é a
morte como condição de realização da própria obra, independentemente
do assunto ou tema. A combinação das duas formas não é rara e permite
entrever um questionamento da representação, como enuncia Agamben ao
tratar da “matéria da palavra”:
É como o caso daqueles que regressaram à vida depois de
uma morte aparente: na verdade, de modo nenhum mor-
reram (senão não teriam regressado), nem se libertaram
da necessidade de ter de morrer um dia; libertaram-se, isso
sim, da representação da morte. Por isso, interrogados so-
bre aquilo que lhes aconteceu, não têm nada a dizer sobre a
morte, mas encontram matéria para muitas histórias e para
muitas belas fábulas sobre a sua vida. (Agamben, 1999, p.
25, grifos nossos)
O caso de Blanchot não é apenas o daqueles que compõem “his-
tórias” e “belas fábulas” depois da vivência de uma “morte aparente”, mas
também dos que produzem uma farta teoria sobre o tema, investigando a
morte ou o nada sob o manto falacioso da representação. O negativo do
eu sob a forma de impessoalização do ato poético se reporta a Mallarmé,
Rilke, Rimbaud, todos eles herdeiros de uma concepção antieufórica da
poesia praticada no século XIX. Blanchot é um dos teóricos que mais se de-
dicaram ao assunto no século passado, embora Valéry dele tenha se aproxi-
ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.11, n.22, p. 39-50, jan.-jun. 2019 41
mado no famoso “Discurso sobre a poética” (1937), onde considera o lugar
do artista sob “o imprevisto e o indeterminado” do “drama da criação” que
“o introduzem no domínio das coisas, onde ele se faz coisa” (apud Lima,
1983, p.18). Tornar-se coisa parece significar o abandono do ethos domi-
nador do objeto, identificando-se com o próprio objeto e funcionando sob
regras desconhecidas. No entanto, para Valéry, sem o controle absoluto da
Razão, nem por isso o artista está no caos e, pelo contrário, desaparece para
seguir as razões da arte que o faz viver “na intimidade de seu arbitrário e
na expectativa de sua necessidade” (apud Lima, 1983, p. 20). O resultado
deste processo é aquele que ocorre, e exatamente aquele, pois o “artista
espera uma resposta absolutamente precisa a uma questão essencialmente
incompleta: deseja o efeito que será produzido nele por aquilo que dele
pode nascer” (apud Lima, 1983, p. 20). Em outras palavras, o poeta não
desaparece em vão, já que desta morte de si ele retira o suplemento que o
realiza por ter dado à luz a uma expressão de Arte.
O assunto foi tratado por Blanchot em vários textos, a partir pro-
vavelmente do mais antigo – “A literatura e o direito à morte” – publicado
na coletânea La part du feu (1949), onde defende a ideia de que obra e
autor nascem juntos. Ao contrário daquele para quem “a posse das pala-
vras lhe dá o domínio das coisas” (Blanchot, 1977, p. 310), diz Blanchot,
na esteira de Hölderlin e Mallarmé, que “a palavra (...) [nos] dá o que ela
significa, mas primeiro o suprime” (Blanchot, 1977, p. 310). Retoma He-
gel quando se refere ao ato senhorial de nomeação dos animais feito por
Adão, que na verdade significou “aniquilá-los na existência” (Blanchot,
1977, p. 311), reportando-se à origem mítica do “assassinato diferido”
(Blanchot, 1977, p. 312) que é a linguagem, ao instalar a morte do real
pela representação da palavra. Aplica este mesmo raciocínio ao sujeito5
ao problematizar a função autor: “(...) quando falo: a morte fala em mim”
(Blanchot, 1977, p. 312). Se na linguagem comum esta morte ocorre, mas
é esquecida, na literatura ela é a senha de entrada para a criação de mun-
dos, o que a torna o limiar da arte: “Na palavra, morre o que dá vida à
palavra: a palavra é a vida dessa morte: ‘é a vida que carrega a morte e se
mantém nela’”(Blanchot, 1977, p. 314-5).
Ao dizer que a literatura é naturalmente irrealista, ainda que haja
o realismo em arte, como, por exemplo, a vertente da “prosa significati-
va”, Blanchot aponta para os poetas, porque eles se interessam, não pelo
mundo, “mas pelo que seriam as coisas e os seres se não existisse mundo;
porque se entregam à literatura como um poder impessoal que só bus-
ca tragar-se, submergir-se” (Blanchot, 1977, p. 320). A obra literária seria,
portanto, nada mais senão “palavras reais e uma história imaginária [?]
(...) um puro nada?” (Blanchot, 1977, p. 326). “Onde está então o poder da
literatura”? (327) – indaga Blanchot ao encaminhar seu pensamento para a
ambiguidade, na medida em que fazemos “da palavra um monstro de duas
faces, realidade que é presença material, e sentido que é ausência ideal. ”
(Blanchot, 1977, p. 327).
42 ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.11, n.22, p. 39-50, jan.-jun. 2019
Anos mais tarde o crítico ensaiou uma discussão em que o tor-
nar-se coisa se aproxima da noção de neutro que, por sua vez, recobre a sua
noção de voz narrativa, correlata em parte à formulação barthesiana de
scriptor no texto “A morte do autor” (1968). Sob o título “La Voix narrative
(Le “il”, Le neutre) ”, capítulo XV do volume L´entretien infini (1969) que
reúne trabalhos produzidos entre 1953-1965, o objeto de atenção de Blan-
chot é a figura daquele que sustenta o discurso literário, lugar ocupado no
passado por musas ou por um “ele” misterioso de onde decorria o canto
dos poetas. O conceito blanchotiano de “voz narrativa” se refere a este
“ele” na forma de “neutro” que se torna “ la cohérence impersonelle d’une
histoire” (Blanchot, 1969, p. 558). Este ele fala ao neutro, pois a palavra da
narrativa nos deixa sempre desconfiar que isto que é contado não é conta-
do por ninguém. É uma voz fantasmática, não que venha de outro mundo,
mas que tende sempre a se ausentar naquele que a porta. Ela fala à distân-
cia, sendo pura impessoalidade dentro da narrativa porque está de fora, ou
seja, seu centro é fora, atuando dentro pela força da sua ausência.
Já em O espaço literário, Blanchot retoma a imagem como uni-
dade mínima do discurso de arte, associando-a ao cadáver, uma represen-
tação corporal alterada do sujeito, como se a “estranheza cadavérica fosse
também a da imagem” (Blanchot, 1987, p. 257). Ele traça alguma analogia
entre ambos, primeiro porque o que está ali que não é bem o vivo em si,
numa situação em que “A morte suspende a relação com o lugar” (Blan-
chot, 1987, p.258); segundo porque “a presença cadavérica é diante de nós
a do desconhecido” (Blanchot, 1987, p. 259) quando o morto deixa de se
assemelhar ao vivo e “começa a assemelhar-se a si mesmo” (Blanchot, 1987,
p. 259) emergindo algo novo e desconhecido. O estado “impessoal, dis-
tanciado e inacessível” (Blanchot, 1987, p. 259) do cadáver se aproxima da
imagem que “está originalmente ligada à estranheza elementar e ao peso
informal do ser presente na ausência” (Blanchot, 1987, p. 259). A imagem
não permanece, seu lugar é a falta, lugar do impessoal e do anônimo, daí a
relação de ambos com a morte, pois tanto a palavra quanto o cadáver são
coisas que existem na semelhança consigo mesmas ou ao nada, nunca com
o objeto que pretende representar. Diante disso para o crítico restam duas
alternativas igualmente inviáveis – representar a morte ou viver o horror
desta impossibilidade – ou uma terceira via de acolhimento e prazer, a de
viver um evento como imagem, o que significa “entregar-nos profunda-
mente a nós mesmos” (Blanchot, 1987, p. 263):
Íntima é a imagem porque ela faz da nossa intimidade uma
potência exterior a que nos submetemos passivamente: fora de
nós, no recuo do mundo que ela provoca, situa-se, desgarra-
da e brilhante, a profundidade de nossas paixões. (Blanchot,
1987, p. 263)
“Neste êxtase que é a imagem” (Blanchot (1987, p. 263), o real
desaparece e a consciência se deixa encher de “uma plenitude anônima”
(Blanchot, 1987, p. 264). Viver um evento como imagem, “mantém-nos
ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.11, n.22, p. 39-50, jan.-jun. 2019 43
de fora, faz desse exterior uma presença em que o ‘Eu’ não ‘se’ reconhece”
(Blanchot, 1987, p. 264), levando-nos a duas versões do imaginário que
podem: a) “recuperar idealmente a coisa”; ou b)“nos devolver, não mais à
coisa ausente, mas à ausência como presença, ao duplo neutro do objeto
em que a pertença ao mundo se dissipou” (Blanchot, 1987, p. 264). Esta du-
plicidade reinstala a ambiguidade, não só pelo seu duplo sentido perpétuo,
mas também por nos remeter ao outro de todos os sentidos. Também para
Agamben, a experiência interior é um eterno estar fora de si, uma vez que
“aquele que faz a experiência não está mais no instante em que a experi-
menta, deve faltar a si no momento mesmo em que deveria estar presente
para fazer a experiência” (Agamben, 2005, p. 92).
Em sua crítica à representação, Blanchot se refere à palavra como
exterminadora do objeto e não apenas como seu substituto, quando diz,
por exemplo, que ao enunciarmos a palavra “gato” já cometemos um assas-
sinato diferido do animal. Apesar desta inevitável “presença da ausência”
do objeto em qualquer tipo de signo, Blanchot faz uma diferença entre a
linguagem literária e a linguagem comum, como se depreende em sua dis-
cussão sobre o diário íntimo, de intenção testemunhal, e a narrativa, de
propósito ficcional ou literário. Naquela modalidade o calendário mantém
a escrita sob a proteção dos dias e o eu autoral se protege da escrita vertigi-
nosa, ao se amparar numa suposta realidade de si fornecida pela escrita. Na
narrativa, ao contrário, a escrita “expulsa as horas e dissipa o mundo”, num
pacto de verdade abismal em que o autor se rende ao fascínio da “sombra”
que o habita e que o dilui no espaço da imantação, da paixão e da noite.
Em outras formas da escrita de si, como a autobiografia e subgêneros as-
semelhados, o aspecto testemunhal responde pela suposição de verdade,
ao contrário da ficção, cujo compromisso nulo com o real não a submete à
prova da verdade, ainda que exija coerência e verossimilhança.
A partir deste arcabouço teórico, examinamos a seguir alguns
pactos autorais em que o eu circunda as ações de morrer, pensar e escrever,
extraindo daí as qualidades que aproximam a escrita de Herberto Helder,
Gonçalo M. Tavares e do próprio Maurice Blanchot.
Iminência da morte
Na obra de Herberto Helder detecta-se uma intimidade com a
morte desde Os passos em volta que transita no “pressentido segredo das
coisas” (Helder, 1985, p. 155). Mas é aos 80 anos que o poeta enfrenta a
morte diretamente no poema incontornável que abre o volume Servidões6:
saio hoje ao mundo,
cordão de sangue à volta do pescoço,
e tão sôfrego e delicado e furioso,
de um lado ou de outro para sempre num sufôco,
iminente para sempre.
23.XI.2010:80 anos (Helder, 2013, p. 20)
44 ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.11, n.22, p. 39-50, jan.-jun. 2019
De modo abrupto no primeiro verso emerge um sujeito que não
sai simplesmente à rua, mas “ao mundo”. Para além do local (a rua) ou do
particular (sua rua), ele vai em direção a algo inominado num trajeto epi-
fânico em que se impessoaliza ou se alteriza num relato que é a viagem de
todo homem. Que “real” esta linguagem busca captar? Certamente não se
trata da representação de uma ação habitual e previsível, mas da emergên-
cia de algo novo na forma de imagem literária que, apesar de ser “realidade
objetiva” (Paz, 1972, p. 45), não se encontra na realidade, não substitui
o objeto (Bachelard, s/d, p.7), “explica-se a si mesma” (Paz, 1972, p. 47)
e “tem a sua própria lógica”(Paz, 1972, p. 45). Trata-se de uma metáfora
porque estabelece uma sutil comparação entre uma atitude rotineira (sair à
rua) e a atitude espiritual de alta complexidade e potência (sair ao mundo).
No segundo verso – “cordão de sangue à volta do pescoço” – to-
das as palavras são comuns à exceção de uma – “sangue” – que responde
pela “qualidade” visual (cor) e tátil (liquosidade) do poema. Signo insubs-
tituível, é a imagem-rainha que comanda todo o poema, sendo responsável
pelo tom trágico em vista do risco de um derramamento. O conjunto induz
à associação natural ao cordão umbilical abastecido de sangue materno,
sob o risco de bloqueio súbito, estancando a vida. Mas não se trata aqui
de qualquer nascituro, mas de homens que saem ao mundo, não no modo
“como se”, mas com a morte à espreita no pescoço, ou mais diretamente na
garganta, de onde sai a voz, a palavra, a imagem, o sentido, enfim, o próprio
verso a cantar o fim de tudo. Como imagem-matriz, o verso estabelece três
níveis de relação com a morte: primeiro, pela imagética metafórica (sim-
bólica) contida na ideia de um cordão a estrangular um homem; segun-
do, pela expressão metonímica (ou indicial) de derramamento de sangue
como indício da morte; terceiro, pelo advento de um sentido inesperado
que inventa uma profunda semelhança entre a imagem (quase-ícone) e os
múltiplos aspectos que tomam a morte, tais como: a convivência diuturna
com a morte do nascimento ao fim da vida; o transcurso do tempo, rou-
bando-nos a vida; e por fim, a expectativa da morte, iminente a qualquer
tempo, hoje e sempre, quando saímos à rua ou ao mundo.
No terceiro verso – “e tão sôfrego e delicado e furioso” – a enu-
meração auto-qualificante do sujeito traz à tona a angústia apenas indi-
retamente anunciada que agora se presentifica iconicamente sob a forma
de estados desencontrados, disparatados, mas não caóticos e não opostos.
Novamente aqui a imagem não se concretiza nos adjetivos per si, mas na
relação entre eles, apontando para um fenômeno novo, um sentimento
mesclado que une todos os descompassos dissonantes.
No quarto verso – “de um lado ou de outro para sempre num
sufoco” –, o sujeito não apenas sente, mas se põe a agir (andar?) em mo-
vimento alternado e sempiterno, assemelhado ao pêndulo de um relógio,
ícone da irreversível e trágica passagem do tempo. Ele não parece estar à
procura de algo, antes se vê irremediavelmente preso numa situação sem
saída, que é o tempo a sufocar seus filhos. A imagem dominante está na
ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.11, n.22, p. 39-50, jan.-jun. 2019 45
locução adverbial – “para sempre” – que modula tanto a incontornável
finitude do homem, quanto a sempiterna angústia que o acompanha no
tempo finito de vida.
O quinto e último verso - “iminente para sempre”- tem a função
de uma medieval atá-fiinda que confirma as ideias já trazidas antes. Desde
o segundo verso a imagem do sangue evoca ambiguamente vida e morte e
nos dois casos marca o ponto voraz do poema. Tal qualidade sígnica nos
chega de forma indiscernível, misteriosa, intraduzível. Embora fortemen-
te ligada à coisa em si que pretende representar, dela exalam vestígios de
um mundo não-codificado, de fora (cf. Blanchot), ou do exterior (cf. Fou-
cault) que não acedemos pela linguagem comum. Somente por efeito do
estranhamento as imagens dão luz ao texto, sem, contudo, desprezar a sua
arquitetura linguística. Da conjugação de várias imagens evolam associa-
ções que se referem a qualidades, confrontos e leis gerais. Curiosamente a
palavra “morte” não aparece no texto, mas dança nas entrelinhas; é elidida,
mas refulge na obscuridade de uma lei da vida que a reencena para sempre.
Morte e cotidiano
De Gonçalo M. Tavares, recuperamos a reflexão7 sobre um mi-
croconto onde a palavra-chave é o Nada, grande objeto que circula entre os
personagens e as palavras do texto. O seu título – “Sobre as origens (quase
invisíveis) de um suicídio” (Tavares, 2010, p.168) – pode ser reescrito num
sentido mais largo – “as origens pouco visíveis da Arte” –, na tentativa de
ler aqui a alegoria da articulação necessária entre arte e morte. A preocu-
pação de Mallarmé com a obra de arte o levou a “confundir-se com a afir-
mação do suicídio” (Blanchot, 1987, p. 105) dizendo que ao aprofundar o
verso em Igitur encontrou dois abismos: “Um [foi] o Nada… O outro vazio
[foi](…) o do [seu] peito” (Blanchot, 1987, p. 105). Após a escrita desse
poema, de resto abandonado, disse ele que se tornara impessoal e não era
mais Stéphane.
Ao suicídio diferido do autor e ao vazio que ele deixa aberto, não
cabe ao leitor somente “preencher lacunas”, mas aceitar o convite para en-
trar na morte de si no texto, estabelecendo um pacto de compreensão e
aliança com o Nada do autor. Ao fazer a obra, o autor vive uma experiência
de morte, e não somente de Graça, fingindo que existe. A sua inspiração é
a abdicação de si ou a entrada de Genius, aquele tipo de ser que, segundo
Agamben (cf. 2007b), carregamos como um anjo dentro de nós, mas que
não se confunde conosco.
A primeira cena do conto é conduzida por um narrador de 3ª
pessoa, a falar de dois homens, em um diálogo imaginário. Um não aceita
o nada, ao contrário do outro que só consegue perceber o nada dentro de
si. Este último suplica ao primeiro que lhe convença da crença que o man-
tém afastado do nada e da morte (do sentimento de morte). A esta altura
do conto, o ponto de vista de 3ª pessoa desaparece e se acopla ao homem
obcecado por encontrar aquilo (talvez a paz) que o outro teria encontrado.
46 ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.11, n.22, p. 39-50, jan.-jun. 2019
Diz ele: “Tomo banho, escovo-me bem, ensaboo-me da ponta dos pés à ca-
beça, passando pelos órgãos mais íntimos. Seco-me com uma toalha e mes-
mo assim não consigo”. O que ele não consegue? Evitar a dor de conviver
com o nada alojado algures dentro de si na suspeita que está a roer o seu
corpo e a marcar sua alma como se a ruína e a morte o habitassem, numa
espécie de suicídio lento. Ao lembrar uma cena do filme Beleza Americana,
diz o homem: “Faço ainda como vi em filmes: sento-me num banco do
jardim, isolado (…) e tiro – do bolso de uma camisa – um saco de plástico
que nada guarda dentro de si. ” O saco vazio é como “um veado cego pelo
jardim da cidade, batendo imprudentemente contra árvores, caixotes do
lixo e outros obstáculos.” A imagem do saco plástico vazio é um símile do
seu nada do qual pretende se desvencilhar, atirando-o “borda fora como se
o corpo fosse um navio e o mundo alto mar, e o saco vazio a parte que” nele
não o deixa “ter um sentido para todas as coisas”. Finalmente e por comple-
to, ele reconhece que dentro de si há essa ponta do nada em que começou
a sua depressão, embora ninguém mais a encontre por mais que vasculhe.
No centro dela, sintoma inerente ao ser homem ou ser mortal, ele afirma
uma soberania estranha que lhe sobra, qual seja, a sua “firme vontade de
morrer” que se vai “construindo, sólida e tranquila, como a construção sem
pressas de uma casa”.
A metáfora do saco plástico lhe serviu em alguma medida para
tocar as fronteiras da arte moderna como alegoria da ruína. Mas a arte não
eliminará esse nada e, pelo contrário, será no seu acesso que encontrará a
possibilidade de uma soberania secreta, inconfessada, talvez a “margem
soberanamente silenciosa da linguagem” (Nancy, 2005, p. 40), “um ser si-
lencioso” ou “um silêncio do ser” (Nancy, 2005, p. 41), enfim, algo elevado
que pode ser tocado, transformando o fardo em alguma alegria compensa-
tória. Diante da inevitabilidade do desastre, ponto de partida da depressão,
resta-lhe a decisão voluntária de sua lenta preparação.
Comentando Bataille, disse Blanchot que “a experiência-limite
(“a experiência interior” para Bataille) é a resposta que encontra o homem
quando decidiu se pôr radicalmente em questão” (Blanchot, 2007, p. 185).
Derrida lembra A escritura do desastre, onde Blanchot conecta a literatura
à morte em se tratando da autobiografia (e este conto pode ser uma ficção
autobiográfica), pois esta é uma forma de sobreviver “por um suicídio per-
pétuo – morte total enquanto fragmentária. ” (Derrida, 2004, p. 43).
O conto termina, não com a afirmação do suicídio real, tantas
vezes experimentado por poetas, mas com a recôndita convicção de que a
obra parte desse nada, “cuja secreta vitalidade, força e mistério” (Blanchot,
1987, p. 106) podem ser experimentados na meditação e na realização da
tarefa poética. Por isso, como diz Nancy, “não é possível não contar com a
poesia. ” (Nancy, 2005, p. 32).
ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.11, n.22, p. 39-50, jan.-jun. 2019 47
Iniciação à morte
Para concluir, retomamos O Instante da minha morte, mas tam-
bém aquilo de que falou Derrida sobre o texto ao trabalhar a noção de
testemunho e ficção. Importa situar o contexto da época, quando nazistas
ocupam o território onde a família aristocrata de Blanchot tem seu castelo,
poupado junto com ele da destruição. Nos longos anos que mediaram o
intervalo entre o fato e a sua narração, Blanchot veio a ser acusado de co-
laboracionismo, assim como outros intelectuais. Esta pecha não invalidou
a fecundidade da experiência realmente vivida, mas, segundo se percebe
na análise de Derrida, isso lhe permitiu escrever um texto sobre o evento
que instala a dúvida entre realidade e ficção, tal como mostra, no plano
linguístico, as manobras geradoras de ambiguidades que poderiam “salvar
a honra” do pensador e cidadão Blanchot, ao ser poupado do sacrifício.
Não se pode negar que, doutra parte, o seu crítico é um judeu cujos pais
tiveram afixado no portal da casa, em Argel, o sinal identificador amarelo
imposto pelos nazistas. De parte a parte, Derrida e Blanchot são ambos
marcados por suas origens, o que abre uma discussão infinda sobre as im/
possibilidades de romper com o passado para acolher/hospedar o outro
em sua diferença. Derrida faz isso com muito tato, ainda que lhe cause
mal-estar, desculpando-se pela violência da acusação que, enfim, pode ser
esta: ao confundir intencionalmente os limites entre o real e o ficcional, o
texto de Blanchot seria, em certa medida, intencionalmente não sincero,
por mesclar no espaço do literário, onde tudo cabe, de forma consciente ou
inconsciente, um testemunho falso.
O inconcreto morto retorna à vida pela via de Derrida para agora
ser julgado como um vivo palpável, tendo se valido das armadilhas da pa-
lavra, que tanto salva quanto condena, tanto liberta quanto submete, tanto
alivia quanto tortura, o que nos leva ao conceito de indecibilidade. Estu-
dada por Paul de Man quando distingue ficção e verdade (Dichtung und
Wahrheit) ou ficção e autobiografia ou, ainda, a partir do próprio Blanchot,
como narrativa e diário íntimo, a indecibilidade envolve uma dupla impos-
sibilidade segundo Derrida: não podemos decidir e não podemos persistir
no indecidível. (cf. Derrida, 2004, p.8). No entanto, ele vai tentar mapear
este lugar – não um limite – mas um limiar onde se pode habitar o inde-
cidível. Para ele a literatura é algo “tão nova e incompreensível, ao mesmo
tempo muito próximo e estrangeiro” (Derrida, 2004, p.13) que “permanece
uma função instável e depende de um estatuto jurídico precário” (Derrida,
2004, p. 23). Ou seja, na função ficção da literatura podemos incluir toda
espécie de engodos ou fingimentos da função testemunho, pois a primeira
é senhora de todas as perversões. (cf. Derrida, 2004, p. 24). Se um mesmo
texto lido como ficção literária pode ser lido como testemunho, diz Derri-
da que isto ocorre porque este último deixa de ser puro para se contaminar
ficcionalmente com o literário.
48 ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.11, n.22, p. 39-50, jan.-jun. 2019
Conclusão
Não há conclusões em definitivo, mas asserções em trânsito que
percorrem uma pesquisa, onde é mister continuar a pensar sobre o tema
da imagem em suas relações com a representação, com a morte e com os
limiares da arte. O pensador contemporâneo Pascal Quignard faz uma
relação entre a morte e o pensamento, a melancolia e o traumatismo. Se
aquele que pensa “compensa” um abandono muito antigo, aquilo que faz o
fundo do pensamento é a “mãe desaparecida”. Vemos nesta formulação as
pontas de uma promissora relação entre o pensamento ou a palavra (por-
que ambos se sobrepõem em certa medida) e a experiência aguda da fini-
tude acompanhada da inevitável sensação de desamparo, porque se perde
a fantasia da mãe eterna. Estamos sempre diante da morte e não há grande
artista que não faça um percurso de melancolia, da qual se cura, sempre
provisoriamente, na própria arte.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AGAMBEN, Giorgio. Ideia da prosa. Trad. João Barrento. Lisboa:
Edições Cotovia, 1999.
______. “Bataille e o paradoxo da Soberania”. Trad. Nilcéia Valdati.
In: Outra Travessia, Florianópolis, nº 5, jan. 2005, p. 91 – 94
______. Estâncias. Trad. Selvino José Assmann. Belo Horizonte: Ed.
UFMG, 2007a.
______. “Genius”. In: Profanações. Trad. Selvino José Assmann. São
Paulo: Boitempo, 2007b.
BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. Trad. Antônio da Costa
Leal e Lídia do Valle Santos Leal. Rio de Janeiro: Livraria Eldorado Tijuca, s.d.
BLANCHOT, Maurice. L´entretien infini. Paris: Gallimard/ 1969.
______. O espaço literário. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Rocco,
1987.
______. A parte do fogo. Trad. Ana Maria Scherer. Rio de Janeiro:
Rocco, 1997.
______. O instante da minha morte. Trad. Fernanda Bernardo, Porto:
Campo das Letras, Portugal, 2003.
______. O livro por vir. Trad. Leyla Perrone–Moisés. São Paulo: Mar-
tins Fontes, 2005.
DERRIDA, Jacques. Morada; Maurice Blanchot. Trad. Silvina Rodri-
gues Lopes, Lisboa: Edições Vendaval, 2004.
FOUCAULT, Michel. O que é um autor. 3ª ed. Lisboa: Passagens, 1992.
HELDER, Herberto. Os passos em volta. 5ª ed. Lisboa: Assírio e Al-
vim, 1985.
ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.11, n.22, p. 39-50, jan.-jun. 2019 49
LIMA, Luís Costa. Teoria da literatura em suas fontes. v. 1, Rio de Ja-
neiro: Francisco Alves, 1983.
NANCY, Jean-Luc. Resistência da poesia. Trad. Bruno Duarte. Viseu:
Edições Vendaval, 2005.
PAZ, Octavio. Signos em rotação. Trad. Sebastião Uchôa Leite. São
Paulo: Perspectiva, 1972.
QUIGNARD, Pascal. Último reino. São Paulo: Ed. Hedra, 2013.
TAVARES, Gonçalo M. “Sobre as origens (pouco visíveis) de um sui-
cídio”. Revista Colóquio Letras, Lisboa, nº 173, p. 168-169, jan. /abr. 2010.
Recebido para publicação em 25/11/18
Aprovado em 10/01/19
Notas
1 Professora Associada IV, realizou Estágio Sênior junto à Universidade Nova de Lisboa
(2009-2010) e Pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas (2002). É doutora
em Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo (1997), mestre em Letras pela
Universidade Federal Fluminense (1991), com tese e dissertação sobre José Saramago.
Atua como docente e pesquisadora do Programa de Pós-graduação em Estudos Literários
da UFF e no Curso de Graduação de Letras, modalidade Educação a Distância, no Pro-
grama UFF/CEDERJ/UAB junto a disciplina Literatura Portuguesa I. Possui experiência
de ensino e pesquisa na área de Literatura Portuguesa e Literatura Comparada, com pes-
quisas voltadas para as questões do sujeito e da imagem na escrita da contemporaneida-
de, com destaque atualmente para as obras de Maria Gabriela Llansol, Teolinda Gersão e
Gonçalo M. Tavares.
2 “Aqui, evocaremos o eterno tormento de nossa linguagem, cuja nostalgia volta-se para
aquilo que sempre faz falta, pela sua necessidade de ser falta para o dizer. ” (Tradução
nossa)
3 A expressão decorre da Jornada “Eu, o inconcreto morto”- Póstumas ou em pleno es-
vaimento, vozes da poesia portuguesa contemporânea”, organizada pelo UFF, Instituto de
Letras, UFF, 14 de maio de 2018, quando partes deste trabalho foram apresentadas.
4 HUNAULT, Claudine. L’Instant de ma mort de Maurice Blanchot ou une question inven-
tée face à l’impensable. https://books.openedition.org/pupo/3163. “A morte tão presente
em seu trabalho não é de interesse mórbido, é o lugar inesquecível onde seu olhar se for-
mou. ” (tradução nossa)
5 Cabe lembrar a resposta de Foucault a Goldman na discussão acadêmica que se seguiu
a sua conferência O que é um autor? quando disse: “Não fiz aqui a análise do sujeito, fiz
a análise do autor. Se tivesse feito uma conferência sobre o sujeito, é provável que tivesse
analisado da mesma forma a função sujeito, (...)” (FOUCAULT, s.d., p.83)
6 As observações aqui apresentadas são um resumo de parte do artigo “Servidão con-
sentida: uma leitura da imagem em Herberto Helder”, da coletânea portuguesa Até que,
Herberto, organizada por Diana Pimentel e Luís Maffei, pelas Edições Guilhotina, em Por-
tugal, em 2016.
7 Súmula do trabalho apresentado no Seminário Bianual do Nepa - Entre ética e Estéti-
ca”, 2012, cuja versão completa e ampliada deve figurar em coletânea a ele dedicada sob a
organização de Lílian Jacoto.
50 ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.11, n.22, p. 39-50, jan.-jun. 2019
Você também pode gostar
- A morte e retorno do autorDocumento13 páginasA morte e retorno do autorPamella OliveiraAinda não há avaliações
- O Espectro Da Morte em MBDocumento14 páginasO Espectro Da Morte em MBMauricio Salles de VasconcelosAinda não há avaliações
- 1576-6518-1-PBDocumento13 páginas1576-6518-1-PBEdinília CruzAinda não há avaliações
- Blanchot e a literatura como impossibilidadeDocumento22 páginasBlanchot e a literatura como impossibilidadeJuliana FalcãoAinda não há avaliações
- ESCREVER O DESAPARECIMENTO DO EU EM BATAILLEDocumento20 páginasESCREVER O DESAPARECIMENTO DO EU EM BATAILLERicardo ValenteAinda não há avaliações
- 42222-Texto Do Artigo-141375-3-10-20200427Documento4 páginas42222-Texto Do Artigo-141375-3-10-20200427Michelle Martins de AlmeidaAinda não há avaliações
- Wander Formas MutantesDocumento7 páginasWander Formas MutantesByron VelezAinda não há avaliações
- Ruína e Dissidência em O Cemitério Dos Vivos - Lima Barreto e A Experiência Literária Da Loucura - InterdisciplinarDocumento18 páginasRuína e Dissidência em O Cemitério Dos Vivos - Lima Barreto e A Experiência Literária Da Loucura - InterdisciplinarGislene BarralAinda não há avaliações
- BENJAMIN, Walter. KafkaDocumento38 páginasBENJAMIN, Walter. KafkaRenan FerreiraAinda não há avaliações
- Conversa com Christophe Bident sobre a obra de Maurice BlanchotDocumento5 páginasConversa com Christophe Bident sobre a obra de Maurice BlanchotGisett LaraAinda não há avaliações
- Walter Benjamin Nona TeseDocumento10 páginasWalter Benjamin Nona TeseAcrisio KawazaAinda não há avaliações
- A semelhança na literatura de BlanchotDocumento26 páginasA semelhança na literatura de BlanchotcarolinypAinda não há avaliações
- Dante e a necessidade da morteDocumento18 páginasDante e a necessidade da morteAmanda CaetaniAinda não há avaliações
- SALIBA, Ana Maria Portugual M. - O Vidro Da Palavra: o Estranho Como Objeto-Limite Entra A Literatura e A PsicanáliseDocumento8 páginasSALIBA, Ana Maria Portugual M. - O Vidro Da Palavra: o Estranho Como Objeto-Limite Entra A Literatura e A PsicanáliseJonas Garcia SimõesAinda não há avaliações
- 1 PB PDFDocumento4 páginas1 PB PDFDejair MartinsAinda não há avaliações
- Desobramento do neutro e escritura fragmentária em Maurice BlanchotDocumento15 páginasDesobramento do neutro e escritura fragmentária em Maurice BlanchotMichelle Martins de AlmeidaAinda não há avaliações
- A Busca Pelo Autor Desaparecido Na Literatura de Roberto BolañoDocumento10 páginasA Busca Pelo Autor Desaparecido Na Literatura de Roberto BolañoRicardo ValenteAinda não há avaliações
- A experiência interior: Seguida de Método de meditação e Postscriptum 1953No EverandA experiência interior: Seguida de Método de meditação e Postscriptum 1953Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Uma Interpretação Possível Do Poema Dissolução de Carlos Drummond de Andrade Sob o Prisma Do Conceito de Morte Do AutorDocumento6 páginasUma Interpretação Possível Do Poema Dissolução de Carlos Drummond de Andrade Sob o Prisma Do Conceito de Morte Do AutorJoao Mateus SenaAinda não há avaliações
- A MORTE DO AUTOR de Roland Barthes - FragmentoDocumento1 páginaA MORTE DO AUTOR de Roland Barthes - FragmentoViviane GuellerAinda não há avaliações
- Digestivo Impressões Do PantanoDocumento5 páginasDigestivo Impressões Do PantanoJardel Dias CavalcantiAinda não há avaliações
- 3 AndrelpDocumento6 páginas3 AndrelptiagozzAinda não há avaliações
- Diários Pizarnik César arte vidaDocumento13 páginasDiários Pizarnik César arte vidaJucely RegisAinda não há avaliações
- Pessoa Teive Suicidio Livro Sandra Desassossego DefinitivoDocumento14 páginasPessoa Teive Suicidio Livro Sandra Desassossego DefinitivoMarcosAinda não há avaliações
- A Literatura Do TraumaDocumento7 páginasA Literatura Do TraumaLuiz Carlos de Oliveira e SilvaAinda não há avaliações
- Angustia ClariceDocumento24 páginasAngustia ClariceSusanlima LimaAinda não há avaliações
- O estilo da velhice em A Morte de VirgílioDocumento16 páginasO estilo da velhice em A Morte de VirgílioVinicius CarneiroAinda não há avaliações
- Introduição I.CDocumento1 páginaIntroduição I.CFabricio SantosAinda não há avaliações
- Obre A Nebulosa Do (Auto) Biográfico, de Eurídice FigueiredoDocumento6 páginasObre A Nebulosa Do (Auto) Biográfico, de Eurídice FigueiredoDENISE BRITOAinda não há avaliações
- Franco Moretti O Burgues Entre A Historia e A LiteDocumento6 páginasFranco Moretti O Burgues Entre A Historia e A LiteAnderson FelixAinda não há avaliações
- O burguês entre a história e a literaturaDocumento6 páginasO burguês entre a história e a literaturaMiki3737Ainda não há avaliações
- ESTÉTICADocumento6 páginasESTÉTICAJoao Mateus SenaAinda não há avaliações
- Michaux - Estetica PRCDocumento10 páginasMichaux - Estetica PRCPaula Cepeda RodriguesAinda não há avaliações
- Jornal Dobrabil: a irreverência poética de Glauco MattosoNo EverandJornal Dobrabil: a irreverência poética de Glauco MattosoAinda não há avaliações
- A crista de Hilst: um símbolo da poesia de desconstruçãoDocumento37 páginasA crista de Hilst: um símbolo da poesia de desconstruçãoDiogo AraujoAinda não há avaliações
- A imagem como abertura neutraDocumento26 páginasA imagem como abertura neutraFip Nanook FipAinda não há avaliações
- Literatura Engajada PDFDocumento12 páginasLiteratura Engajada PDFCleitonq VicentinAinda não há avaliações
- A questão do sujeito na narrativa autobiográficaDocumento16 páginasA questão do sujeito na narrativa autobiográficaedgarcunhaAinda não há avaliações
- O Mendigo Ou O Cachorro MortoDocumento3 páginasO Mendigo Ou O Cachorro MortoLucas Cavalcante67% (3)
- O surrealismo como projeto romântico de superação da contradição entre sujeito e objetoDocumento19 páginasO surrealismo como projeto romântico de superação da contradição entre sujeito e objetoDiogo CardosoAinda não há avaliações
- Escritas Do EuDocumento15 páginasEscritas Do EuMariaLuiza23Ainda não há avaliações
- NASCI FURADO Michaux ERBER PDFDocumento11 páginasNASCI FURADO Michaux ERBER PDFJucely RegisAinda não há avaliações
- Roland Barthes A Morte Do AutorDocumento4 páginasRoland Barthes A Morte Do AutorJúlia Gabriela BalbinotAinda não há avaliações
- O esvaziamento na obra de Mira SchendelDocumento10 páginasO esvaziamento na obra de Mira SchendelMarcelo Reis de MelloAinda não há avaliações
- Roland Barthes - DA MORTE DO AUTOR AO PRELÚDIO DA VOLTADocumento11 páginasRoland Barthes - DA MORTE DO AUTOR AO PRELÚDIO DA VOLTAJoice RochaAinda não há avaliações
- O Eu Al Berto Revista Folhas Kenedi 1Documento14 páginasO Eu Al Berto Revista Folhas Kenedi 1Kenedi AzevedoAinda não há avaliações
- (Outra Travessia 2015-Dec 22 Iss. 19) Agamben, Giorgio - O Talismã de Furio Jesi (2015) (10.5007 - 2176-8552.2015n19p77) - Libgen - LiDocumento4 páginas(Outra Travessia 2015-Dec 22 Iss. 19) Agamben, Giorgio - O Talismã de Furio Jesi (2015) (10.5007 - 2176-8552.2015n19p77) - Libgen - LiBernardo PrietoAinda não há avaliações
- João Tomaz ParreiraDocumento11 páginasJoão Tomaz ParreiraJoão Tomaz Parreira100% (2)
- A Peste de Camus: revolta coletiva e solidariedadeDocumento15 páginasA Peste de Camus: revolta coletiva e solidariedademsnorbertoAinda não há avaliações
- Noite - Erico VerissimoDocumento116 páginasNoite - Erico VerissimoFernanda Aquino Da SilvaAinda não há avaliações
- Artigo Autoficção e Ana CDocumento9 páginasArtigo Autoficção e Ana CTalesMoreiradeCarvalhoAinda não há avaliações
- A identidade de Lovecraft segundo seus fãsDocumento15 páginasA identidade de Lovecraft segundo seus fãsCaliel Vinicius Braga CostaAinda não há avaliações
- Istoumhomem Consideraesticaseestticasapartirdaobrade Primo LeviDocumento15 páginasIstoumhomem Consideraesticaseestticasapartirdaobrade Primo Levimartim ruca gasparAinda não há avaliações
- Ensaio Sobre "Confissão de Lúcio" A Mário de Sá Carneiro.Documento7 páginasEnsaio Sobre "Confissão de Lúcio" A Mário de Sá Carneiro.Maria MariaAinda não há avaliações
- Botelho Ronaldo Duas TeoriasDocumento11 páginasBotelho Ronaldo Duas TeoriasManuela BarretoAinda não há avaliações
- Diálogos entre arte e literaturaDocumento517 páginasDiálogos entre arte e literaturaPedro Freitas NetoAinda não há avaliações
- E-Book Africas v4Documento193 páginasE-Book Africas v4Manuela BarretoAinda não há avaliações
- Ambientes VirtuaisDocumento262 páginasAmbientes VirtuaisUbirajara NogueiraAinda não há avaliações
- Manual Geografia FinalDocumento204 páginasManual Geografia FinalpolissindetoAinda não há avaliações
- Bonilla Livro Gec2005 PDFDocumento9 páginasBonilla Livro Gec2005 PDFManuela BarretoAinda não há avaliações
- Maya Angelou, escritora e poeta afro-americanaDocumento4 páginasMaya Angelou, escritora e poeta afro-americanaManuela BarretoAinda não há avaliações
- Artigo Arthur de SallesDocumento3 páginasArtigo Arthur de SallesManuela BarretoAinda não há avaliações
- De Quem É Essa BucetaDocumento9 páginasDe Quem É Essa BucetaManuela Barreto100% (2)
- No Antigamente, Na Vida PDFDocumento92 páginasNo Antigamente, Na Vida PDFMarcelino CurimenhaAinda não há avaliações
- Educyber Levy-10 PDFDocumento2 páginasEducyber Levy-10 PDFManuela BarretoAinda não há avaliações
- História Do BrasilDocumento372 páginasHistória Do BrasilWalkiria Schneider100% (1)
- A Família Negra No Tempo Da Escravidão - Bahia, 1850-1888, Isabel Reis PDFDocumento300 páginasA Família Negra No Tempo Da Escravidão - Bahia, 1850-1888, Isabel Reis PDFManuela BarretoAinda não há avaliações
- Guia de Tecnologias Educacionais PDFDocumento98 páginasGuia de Tecnologias Educacionais PDFManuela BarretoAinda não há avaliações
- Poemas de Agostinho NetoDocumento48 páginasPoemas de Agostinho NetoJosué De SouzaAinda não há avaliações
- Poesia da Mensagem Angolana e Afro-BrasileiraDocumento295 páginasPoesia da Mensagem Angolana e Afro-BrasileiraManuela BarretoAinda não há avaliações
- A Tempestuosa Busca Do Ser - Stanislav GrofDocumento361 páginasA Tempestuosa Busca Do Ser - Stanislav GrofBeto LimaAinda não há avaliações
- Manual Historia Mundial ContemporaneaDocumento284 páginasManual Historia Mundial ContemporaneaJessé Maia de OliveiraAinda não há avaliações
- Manual Candidato Frances DiplomaticoDocumento140 páginasManual Candidato Frances DiplomaticoRommel Trindade100% (1)
- Dicionario Das ReligioesDocumento120 páginasDicionario Das ReligioesPe. João Manoel Sperandio100% (1)
- Arthur de Salles Revista Légua e MeiaDocumento11 páginasArthur de Salles Revista Légua e MeiaManuela BarretoAinda não há avaliações
- Manual - Inglês PDFDocumento224 páginasManual - Inglês PDFMarlon Menin100% (1)
- A Cultura Brasileira FERNANDO DE AZEVEDO PDFDocumento839 páginasA Cultura Brasileira FERNANDO DE AZEVEDO PDFdaniela passos75% (4)
- Versao Digital - Todos Os Poemas o PoemaDocumento196 páginasVersao Digital - Todos Os Poemas o PoemaManuela Barreto100% (5)
- 200 Anos Do Museu NacionalDocumento21 páginas200 Anos Do Museu NacionalMarilza Eira MignacAinda não há avaliações
- Partilhar o Saber Formar o Leitor PDFDocumento198 páginasPartilhar o Saber Formar o Leitor PDFAlberto de OliveiraAinda não há avaliações
- Prosa, poesia e linguagem em Giorgio AgambenDocumento188 páginasProsa, poesia e linguagem em Giorgio Agambenlaohu74Ainda não há avaliações
- O Que É Nordeste Brasileiro LivroDocumento47 páginasO Que É Nordeste Brasileiro LivroManuela BarretoAinda não há avaliações
- Separar É Preciso Mudar Não É PrecisoDocumento7 páginasSeparar É Preciso Mudar Não É PrecisoManuela BarretoAinda não há avaliações
- A recepção de Nietzsche no Brasil entre conservadorismo e renovação (1876-1945Documento472 páginasA recepção de Nietzsche no Brasil entre conservadorismo e renovação (1876-1945Geraldo Dias100% (1)
- BARBERO, Graciela Haydée - Homossexualidade e Perversão Na PsicanáliseDocumento257 páginasBARBERO, Graciela Haydée - Homossexualidade e Perversão Na PsicanáliseAlexandre BertonciniAinda não há avaliações
- Foucault e A Arte Do Cuidado de SiDocumento151 páginasFoucault e A Arte Do Cuidado de SiNair Cristina Carlos de MedeirosAinda não há avaliações
- A Experieência Estética Por Meio Da LiteraturaDocumento18 páginasA Experieência Estética Por Meio Da LiteraturaFabiana Castro100% (1)
- Design ThinkingDocumento31 páginasDesign ThinkingAndreia86% (7)
- O Seu - Cérebro - Na - Pornografia - Na - Internet - e - Na - Ciência - Emergente - DoDocumento170 páginasO Seu - Cérebro - Na - Pornografia - Na - Internet - e - Na - Ciência - Emergente - Domarcos204092Ainda não há avaliações
- Construindo Uma Sociedade para Todos Livro Sassaki 1Documento11 páginasConstruindo Uma Sociedade para Todos Livro Sassaki 1zoyacrisAinda não há avaliações
- LGMDocumento34 páginasLGMVanessaMoragaAinda não há avaliações
- Ética ContemporâneaDocumento134 páginasÉtica ContemporâneaLeonardo MacedoAinda não há avaliações
- MEDITACAO - 10 PASSOS PARA FUGI - Robson Fernandes SilvaDocumento49 páginasMEDITACAO - 10 PASSOS PARA FUGI - Robson Fernandes SilvaFabiano Bertuche0% (1)
- A Transformação Da MenteDocumento17 páginasA Transformação Da MenteFernando BritoAinda não há avaliações
- Manual de sobrevivência do vestibulando 2.0Documento27 páginasManual de sobrevivência do vestibulando 2.0felipeAinda não há avaliações
- Tratado de Simbólica by Mário Ferreira Dos SantosDocumento254 páginasTratado de Simbólica by Mário Ferreira Dos SantosVinicius SantosAinda não há avaliações
- JoaoBosco ContribuiçõesFilosofia HeideggerDocumento4 páginasJoaoBosco ContribuiçõesFilosofia HeideggerWander SidartaAinda não há avaliações
- Documento Norteador Arte Miolo Final 2019Documento96 páginasDocumento Norteador Arte Miolo Final 2019ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA ALBUQUERQUEAinda não há avaliações
- Clarice Lispector Nas Trilhas Do SurrealismoDocumento20 páginasClarice Lispector Nas Trilhas Do SurrealismoDaniel SiqueiraAinda não há avaliações
- Tese de Doutorado - Marcello Paniz Giacomoni - Final PDFDocumento364 páginasTese de Doutorado - Marcello Paniz Giacomoni - Final PDFMarcello Paniz GiacomoniAinda não há avaliações
- (Bove-Laurent) Espinosa e A Psicologia Social (Livro)Documento179 páginas(Bove-Laurent) Espinosa e A Psicologia Social (Livro)Yury FelipeAinda não há avaliações
- NeurobiotraumaDocumento25 páginasNeurobiotraumaRosa FernandesAinda não há avaliações
- Análise e Interpretação de DadosDocumento29 páginasAnálise e Interpretação de DadosMarco AurélioAinda não há avaliações
- Como Fazer As Pessoas Gostarem de VocêDocumento56 páginasComo Fazer As Pessoas Gostarem de VocêJulia SannutoAinda não há avaliações
- Mens 1981Documento32 páginasMens 1981jose valderiAinda não há avaliações
- Estágio Básico Supervisionado II - PsicologiaDocumento22 páginasEstágio Básico Supervisionado II - PsicologiaGabriella Emilly DiasAinda não há avaliações
- Medo e Ousadia - O Cotidiano Do Professor-NotebookDocumento14 páginasMedo e Ousadia - O Cotidiano Do Professor-NotebookAna ClaudiaAinda não há avaliações
- O Corpo na Literatura e ArteDocumento145 páginasO Corpo na Literatura e ArteKarolineAinda não há avaliações
- A casa da madrinha de AlexandreDocumento7 páginasA casa da madrinha de AlexandreNara0% (2)
- Combatendo o bom combateDocumento37 páginasCombatendo o bom combatenovotestamentoAinda não há avaliações
- Livro - LOVE YOURSELF (Ame A Si Mesmo)Documento129 páginasLivro - LOVE YOURSELF (Ame A Si Mesmo)Danielle Rodrigues100% (1)
- Ensino de História LocalDocumento10 páginasEnsino de História LocalDanielaVFernandesAinda não há avaliações
- Fichamento Lévi-Strauss - O Pensamento SelvagemDocumento2 páginasFichamento Lévi-Strauss - O Pensamento SelvagemFta CLAinda não há avaliações