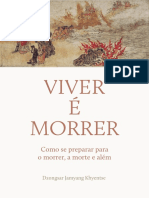Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Sigmundo 221024 190142
Sigmundo 221024 190142
Enviado por
Gustavo Silva0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações7 páginasTítulo original
SIGMUNDO_221024_190142
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações7 páginasSigmundo 221024 190142
Sigmundo 221024 190142
Enviado por
Gustavo SilvaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 7
Sigmundo: em que mundo vivemos?
A psicanálise
É coisa engraçada
Como pode esse diz que me diz
Fazer ou não fazer casa?
Alguém já me perguntou na sessão
Não sei onde eu termino, onde o outro começa?
Mal sabemos que as respostas na vida,
Não nos vêm esclarecidas, mas sentidas, sem pressa
O dentro e o fora se misturam,
De quem eu reclamo, por quem eu me espanto?
Em mim eu prossigo, todos os dias, pressinto,
Um quer destruir, outro fazer o bem,
Eis o santo
Mais atrapalhado eu fico,
A cada vez que interajo
Comigo mesmo, com a mãe, o irmão, um amigo
Eu viajo,
Cadê o segredo de tudo, a senha, o sonho, o umbigo?
Se o símbolo me orienta, para associar de qualquer jeito
A palavra livre, espontânea, até chorada,
Traduz aquilo que de mais profundo brota do peito
Mas que ao vir, no viver, continua incógnita
Charada
Psicanalisar é calar, escutando
Para poder dizer, um silêncio eloquente,
Intervir, entre vivos, no par, um terceiro
Investir, apropriar-se de si
Somente (Só mente?)
Dentro (Do livro “Em alguma parte alguma”, de Ferreira Gullar)
estamos dentro de um dentro
que não tem fora
e não tem fora porque
o dentro é tudo o que há
e por ser tudo
é o todo:
tem tudo dentro de si
até mesmo o fora se,
por hipótese,
se admitisse existir
A psicanálise não descobriu o inconsciente. Ela na verdade propiciou os meios
para que o inconsciente pudesse falar pela primeira vez, mostrando-se em seus efeitos
mediante a aventura clínica da escuta desimpedida do sofrimento humano. Em vez de
designá-lo pela via teórica da conjectura, como fizeram os filósofos antes de Freud, o
inconsciente somente deu mostras efetivas de sua magnitude pela batuta do fundador da
psicanálise. Porém, desde as origens da associação livre, quando se dissociou da hipnose
e do método catártico, o empreendimento psicanalítico notavelmente singularizou, em
vez de simplificar e de sistematizar, o modo de nos debruçarmos sobre a constelação
psíquica dos sujeitos.
Para começar, tudo aquilo em que toca a investigação de Freud reluz no metal
nobre do ouro epistemológico da complexidade. Como fiel observador dos padecimentos
na clínica de sua época, ele jamais conduziu para a sua teoria o acabamento que somente
a abstração especulativa é capaz de superficialmente promover. Em vez de ser um profeta
a defender uma visão de mundo no interior de cuja gramática tudo poderia guardar
coerência com ares de uma plataforma dogmática, Freud modestamente professava o
exercício da ciência. Assim, promovia incansável o arejamento intelectual de sua obra em
sintonia com a complexa realidade advinda da experiência com os seus pacientes.
Podemos dizer, então, que nada em sua obra se desenvolveu e se concluiu
magnetizado por argumentos e conceitos unidirecionais, muito menos se mobilizados
pela ambição do alcance de respostas definitivas para problemas fundamentais
concernentes ao psiquismo. A notável sabedoria de Freud era proporcional ao seu
gigantesco entusiasmo pelas conquistas da curiosidade e da explanação, numa aliança
ilustrativa do gênio a que estava destinado. Ávido pelo conhecimento e defensor da livre
circulação de ideias, era tolerante à revisão de seus pressupostos a cada nova evidência
iluminada, fosse o interlocutor um colega, um confidente, um analisando. Sua prudência
científica na investigação psicanalítica – em obter explicações satisfatórias cujo sucesso,
sabia ele, não perduraria para sempre – precisava ser acompanhada por um timbre próprio
de rigor e de sutileza na escrita, capaz de aliar obstinação e investimento crítico pelo
saber. Reivindicava-se então uma específica metodologia perpassada do início ao fim
pelos contornos imprecisos e dinâmicos do seu objeto de estudo, uma correspondência
especular a ser perseguida entre o texto e o contexto da psicanálise: a dialética da
complexidade.
Se o sujeito em debate (e em análise) é o sujeito dividido, era preciso estabelecer
discursivamente os pontos de vista a partir de um congruente arcabouço de argumentos
habilitado a engendrar por dentro do texto aquilo que resulta presenciado fora dele, diante
da realidade do mundo onde as pessoas vivem e se relacionam umas com as outras.
Notemos como a marca da psicanálise resulta, desde as suas raízes, caracterizada pelo
modo limítrofe e tensional de enxergar as coisas, ilustrando-as por meio de conceitos não-
totalizantes e recursivos dialeticamente uns com os outros. Desde a instauração do agir
específico da mãe com o seu bebê, passando pelo conceito das moções pulsionais situadas
entre o somático e o psíquico (em paralelo ao descortinar fantasmático da realidade
psíquica frente às relações de objeto havidas do ambiente exterior), sem esquecer os
incontáveis fenômenos identificadores de um algo a mais desconhecido para a
consciência, cujos efeitos são sentidos pelos indivíduos e qualificados das mais variadas
formas, o empreendimento psicanalítico se mostrou sempre avesso a reducionismos de
toda e qualquer ordem.
Nem mesmo o avanço tecnológico dos tempos atuais, quando os diagnósticos são
antecipados estatisticamente pela contabilidade genética promovida pelos computadores
de ponta, seria capaz de invalidar o veredicto tardio de Freud, guardião da complexidade
dos seres humanos e da qualidade indevassável do seu aparato mental. Para ele, a
localização anatômica das incidências corpóreo-cerebrais, por mais exata que seja, jamais
coincidirá com a compreensão exaustiva do funcionamento da psique humana,
garantindo-se a posição nuclear da psicanálise para a posteridade, segundo a qual somos
destituídos de uma natureza passível de ser catalogada e ordenada normativamente. Em
psicanálise, o que é “um” necessariamente precisa se fazer par para poder ser pensado e
refletido, sob pena do fracasso imediato e retumbante do raciocínio, tal qual a
inviabilidade primária de o recém-nascido advir ao mundo por si mesmo e sobreviver
alheio à alteridade do cuidado de quem por ele é responsável. Assim sendo, a lógica
psicanalítica, se há de existir alguma, concentra-se em dialetizar, em erigir relações nas
quais a síntese principia a cada vez um novo movimento, em vez de esgotá-lo. A
(dia)lógica da psicanálise, portanto, induz o um a se tornar dois, pluralizando-se com a
finalidade de instituir o registro simbólico do terceiro, sem o qual as intensidades se
desligam, frágeis, ou explodem em onipotência.
Por outro lado, a genealogia oferecida pela psicanálise para as atribulações da
alma humana contempla paradoxalmente um lugar onde as origens apontam para um
projeto, remetendo menos para um destino inevitável, e mais para um horizonte cujas
determinações se misturam às possibilidades. As temporalidades não se sucedem
cronológicas na ampulheta psicanalítica: passado, presente e futuro se amalgamam numa
reciprocidade continuativa destituída de natureza, de linearidade, de ordem. A força das
quantidades é tão inesgotável na fonte pulsional de cada sujeito quanto é indeterminado
e desvinculado o sentido porventura estabelecido das qualidades inscritas no itinerário de
sua existência.
O sentido na psicanálise, assim, escapa de uma interpretação antecipadora e
parasitária para a qual o sujeito constituiria a replicação de uma série comandada por um
algoritmo responsável por discriminar normais de desviantes. Nesse aspecto, podemos
dizer que a psicanálise se mostra essencialmente como sem sentido, melhor dizendo,
como destituída de ressonâncias interpretativas prévias, mandatórias e estranhas à
singularidade de cada específico sujeito sob o enquadre da transferência em dupla. Por
outro lado, nem por isso ela se constituirá direcionada ao sem-sentido, numa subordinação
hierarquizante às avessas. Ou seja, não se trata de enaltecer um imperativo caótico a favor
da mais absoluta aleatoriedade, mas de uma exploração interpretativa singular capaz de
interrogar e produzir o sentido na sua mais íntima manifestação, sem alienar-se em meio
a marcadores socioculturais hegemônicos em dado período da história. Marcadores cujo
predomínio inconteste culmina por transfigurar, aniquilando, cada individual em idêntico.
A quem dedicamos a escuta no nosso ofício de psicanalistas? O que escutamos no
hiato entre o dito e não dito dos nossos pacientes? Qual é a justa palavra a ser endereçada
ao outro para promover alguma, a mínima, mobilização de sua ordem psíquica?
Padecemos nós nesse suposto saber à busca exatamente de qual magnitude clínica, de
qual acontecimento terapêutico? Deveríamos realmente sofrer por isto ou se trata de um
desgaste característico dos inexperientes e dos insensatos?
Com sofrimento do analista ou sem ele, parece-nos irrecusável que há pelo menos
um sofrimento dentro da sala de atendimento, o do paciente. Talvez as inquietações de
um psicanalista orbitem em torno de como afinal de contas podemos – se é que podemos
– aliviar o sofrimento de quem nos procura, quiçá implementar alguma transformação
para que os analisandos se tornem eles mesmos, aproximando-se de suas próprias
verdades ou, quem sabe, alcançar a fortuna da cura como um lucro não desejado, aquele
que vem por acréscimo. A justa palavra (e escuta) do psicanalista funciona como a medida
ética para o vislumbre tangível das conexões suficientemente boas no âmbito do setting
clínico, uma exigência casuisticamente aberta cujas modulações permitam sempre o
realinhamento das intervenções de toda ordem conforme o andamento do trabalho
efetuado pelo par. A justa interpretação do psicanalista englobará, por conseguinte, o
verbo ajustar, ajustar a interpretação em meio a erros, frustrações e realizações pela
metade. Além disso, a justa palavra não pode ser confundida com a palavra
milimetricamente ajustada, aderente em perfeição ao estado em que se encontra, como se
a psicanálise fosse uma metafísica sacra e exegética, à cata de mandamentos
impecavelmente mágicos. Não estamos falando de uma psicoterapia sugestiva, para a
qual o enlace transferencial representa a cama de Procusto onde vamos deformar os
nossos pacientes com o carimbo padronizador das boas práticas.
As perguntas antes formuladas mais questionam do que indagam, ou seja, elas
dizem alguma coisa na sua interrogação em vez de simplesmente estarem à espera, vazias,
por respostas que as preencham por completo. O seu caráter crítico, portanto, funciona
como um catalisador do próprio movimento do pensamento, do refletir-se em
desdobramentos sucessivos: assim opera o dispositivo psicanalítico na dobradiça versátil
entre teoria, método e técnica. Andante na continuidade instável do processo analítico,
em busca de associações que possibilitem os sentidos, e não errática, à revelia de
referenciais significativos, muito menos responsiva ao desejo de saber, pelo sim e pelo
não, ante um apelo interpretativo autômato, a psicanálise nos faz assumir a condição
essencial do sujeito humano: os seus modos de existência, incluindo os estados de
sofrimento patológico, consistem em efeitos das relações entre os sistemas psíquicos. Não
se sabe que no fundo efetivamente o sabemos, que desejamos: não está nesse enigma os
sinais do inconsciente, desta instância dita incognoscível? Como vimos, Freud foi um
homem implacavelmente perseverante na investigação da mente humana, de suas origens,
das tramas complexas de uma individualidade psíquica pouco coerente, embora
assujeitada ao porvir conflitivo advindo das histórias por ela vivenciadas. Trata-se mais
dos efeitos estilhaçados de um arranjo singular próprio – e fantasmático – irredutível aos
fatos da vida, embora deles derivados. No flagrante manifesto das indagações sedentas
por respostas, esconde-se o latente desejo de um saber interrogativo incessante que quer
cultivar espaço fértil para o florescimento dos sentidos em seus múltiplos caminhos de
ligação e desinvestimento no correr da vida dos sujeitos.
Bem por isso, assim concluímos, a psicanálise é tecida artesanalmente pelos fios
da interpretação, a começar pela esfera da constituição do psiquismo humano em seus
efeitos de apropriação da realidade exterior numa temporalidade historicizante própria
com múltiplas facetas. Pensar o psiquismo como um sistema aberto em gênese e
funcionamento importa em defini-lo para cada sujeito como uma estrutura interpretativa
de ressonância própria perante a realidade exterior, que o auxilia a se envolver com os
acontecimentos, com tra(u)mas relacionais diante da experiência frente aos outros,
mediante o aporte de apropriações fantasmáticas (realidade psíquica) que informam sobre
o ocorrido e traduzem os efeitos particulares do experimentado.
Você também pode gostar
- Soma de SubconjuntosDocumento25 páginasSoma de SubconjuntosGustavo SilvaAinda não há avaliações
- DownloadDocumento15 páginasDownloadGustavo SilvaAinda não há avaliações
- Tecnomia e DemogramaticaDocumento315 páginasTecnomia e DemogramaticaGustavo SilvaAinda não há avaliações
- Segunda Via: Maio/2023 24/05/2023 R$169,03Documento2 páginasSegunda Via: Maio/2023 24/05/2023 R$169,03Gustavo SilvaAinda não há avaliações
- Guia Da BaladaDocumento2 páginasGuia Da BaladaGustavo SilvaAinda não há avaliações
- Para Uma Cliìnica Da Teoria Roussillon - SilviaDocumento8 páginasPara Uma Cliìnica Da Teoria Roussillon - SilviaGustavo SilvaAinda não há avaliações
- Viver É Morrer - Dzongsar PDFDocumento245 páginasViver É Morrer - Dzongsar PDFGustavo Silva100% (3)
- IA e Budismo PDFDocumento10 páginasIA e Budismo PDFGustavo SilvaAinda não há avaliações
- Main PDFDocumento389 páginasMain PDFGustavo SilvaAinda não há avaliações