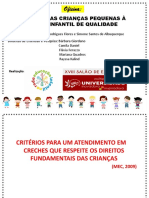Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Critica Ao Pens Morin-CE
Critica Ao Pens Morin-CE
Enviado por
Denise de Amorim RamosTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Critica Ao Pens Morin-CE
Critica Ao Pens Morin-CE
Enviado por
Denise de Amorim RamosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O método sem história: uma crítica da metodologia moriniana da complexidade
339
O método sem história: uma crítica da metodologia
moriniana da complexidade
Flávio Lúcio R. Vieira – UFPB
RESUMO dológicos da ciência moderna. Antigos cânones fun-
dantes do pensamento científico ocidental têm sido
Este artigo procura analisar os pressupostos do debate
intelectual a respeito da crise da teoria social contem- questionados por correntes que não apenas procu-
porânea e da ciência moderna, tendo em vista os argu- ram “desconstruir” o que consideram mitos do pen-
mentos de que a responsabilidade pelos dilemas atuais da samento moderno – tais como critérios de verdade,
humanidade é, em grande medida, responsabilidade da de coerência interna dos objetos, de causa e efeito,
idéia de dominação do sujeito sobre o objeto desenvolvi- próprios da tradição cartesiana –, como se autopro-
da no interior da ciência, tornando a natureza um mero clamam uma corrente cujos esforços estão dirigidos
objeto a ser estudado e explorado para prover os ideais de
para fundar uma nova tradição científica e cultu-
progresso humano. Depois disso, concentraremos nossas
preocupações nas contribuições metodológicas do antro-
ral que se baseie em novas maneiras de conceber e
pólogo francês Edgar Morin sobre o método, dando ênfa- produzir o conhecimento, bem como de enxergar o
se à análise das relações entre método e história. mundo e a própria realidade cotidiana.
Palavras-chave: Transdisciplinaridade. Totalidade. Méto- Este artigo pretende, num primeiro momen-
do. História. to, analisar alguns pressupostos desse debate e, em
seguida, concentrar suas preocupações nas contri-
ABSTRACT buições metodológicas de um dos expoentes desse
In this paper we discuss the foundations of the intellec- agrupamento, o antropólogo francês Edgar Morin,
tual debate about the crisis in the contemporary social especialmente as análises contidas em sua influen-
theory and modern science. For that, we keep in mind te obra O método (MORIN, 1987, 1989), para esse
arguments pointing to the fact that the responsibility debate.
for the present dilemmas facing humanity is, in a great Chamamos a atenção, desde já, para a tendên-
amount, due to the subject’s idea of domination over the
cia crítica de uma corrente que se apresenta com um
object. These idea, developed inside science, turn nature
into a simple object to be studied and explored in order projeto de fundar uma nova epistemologia das ci-
to prove the ideals of human progress. Then we focus our ências, que nega toda a tradição científica moder-
attention on the methodological contributions given by na. Segundo os críticos da ciência moderna, ela seria
the French anthropologist Edgar Morin about the me- em parte responsável pelos dilemas contemporâneos
thod, where we emphasize the relations between method da humanidade, porque ensejou formas peculiares
and history. que se estruturavam a partir da idéia de domina-
Keywords: Trans-discipline. Totality. Method. History.
ção do sujeito sobre o objeto, tornando a nature-
za um mero objeto a ser estudado e explorado para
Introdução
prover os ideais de progresso humano. Tentaremos
Os contemporâneos debates sobre crise de pa- demonstrar que não se trata de observar, no campo
radigma nas ciências sociais têm remetido a questões do método, apenas a ocorrência de uma separação
essenciais nas quais estão envolvidos dilemas meto- formal, portanto, relativa apenas ao procedimento
Cronos, Natal-RN, v. 7, n. 2, p. 339-351, jul./dez. 2006
Flavio Lúcio R. Vieira
340
metodológico. Trata-se, em primeiro lugar, de ob- na, como o marxismo, ou se trata de uma crise geral
servar a realidade como uma integração inseparável da sociedade – ou da civilização, como prefere Hel-
entre homem e natureza; em segundo lugar, de en- ler (1999) – que se propaga sobre a ciência. Altvater
tender tal relação como histórica e, portanto, como (1995), por exemplo, discorda de que estamos dian-
resultado das ações homem-natureza construídas te de uma crise de paradigmas nas ciências, já que
socialmente. não se está apresentando uma ruptura na relação en-
A principal proposição metodológica de que tre os desafios sociais da atualidade e os sistemas de
partem, em geral, os estudiosos do desenvolvimento pensamento, sendo mais provável uma confusão en-
sustentável pode ser resumida nos termos da interdis- tre limitações e insuficiências teóricas ou falhas po-
ciplinaridade ou transdisciplinaridade (MORIN, 1987, líticas da ciência atual com uma crise de paradigma.
1989). Tal definição significa o reconhecimento da Isso se dá, possivelmente, pelo ambiente marcado
natureza como parte das relações sociais, assim como pelos conflitos ocasionados por uma ruptura históri-
as limitações dos métodos que serviram de alicerce ca que está em pleno andamento1.
para a constituição da ciência moderna. Este é um Se levarmos em conta que um paradigma não
ponto constitutivo do que tem sido chamado de “cri- se restringe apenas a uma metodologia, dizendo res-
se de paradigmas”. Em geral, o reconhecimento das peito também a sua relação com o mundo real atra-
limitações do método da ciência moderna integra a vés da explicação que sobre ele permite desenvolver,
consideração de que ele contribuiu decisivamente não há efetivamente uma crise paradigmática glo-
para que o homem observasse a natureza como um bal. Lembramos que os conceitos de paradigma2 e
mero objeto do seu conhecimento e da sua apropria- de crise de paradigma3 elaborados por Kuhn (1998),
ção, sendo esta a grande herança metodológica do
método cartesiano (CAPRA, 1996). Horkheimer e
Adorno (1991), assim como a atualização da críti- 1 Lukács já havia chamado a atenção para as relações entre as
crises históricas e as crises na Filosofia, por conseguinte, entre
ca de Habermas (1989), são autores de referência as idéias e seu próprio tempo, quando o pensamento é mar-
nesse debate. Os primeiros, pela posição seminal na cado profundamente na sua metodologia, na sua estrutura e
nas condições que o tornaram possível, pelas condições sociais
crítica mais contemporânea à modernidade e à tra- e históricas que lhes dão sustentação. “Concepções que, duran-
dição iluminista; o segundo, diante do impasse co- te muito tempo, pareciam indiscutíveis, tornam-se de repente
locado pelos seus antecessores de Frankfurt – qual problemáticas” (LUKÁCS, 1974, p. 101). A crise, nessas cir-
cunstâncias, não é de uma ciência em particular, mas da pró-
seja, da impossibilidade de superação da racionali- pria ciência e da Filosofia, do próprio pensamento. As crises do
dade burocrática, da perda de sentido e liberdade capitalismo não apenas têm o poder de provocar abalos na sua
estrutura econômica. Elas provocam, também, verdadeiros ter-
impostas pelo processo de coisificação que tornaria o remotos na estrutura das idéias que o comandam, o que suscita
capitalismo e sua lógica cultural um “mau infinito” um movimento no sentido da busca de saídas para a crise, se
verificando um intenso debate que questiona a hegemonia das
(HADDAD, 1998) –, procurou indicar saídas para a idéias anteriores – que, diante da nova situação, colocam-se na
crise da razão, mediante a constituição de um novo defensiva –, criando-se imediatamente um antagonismo entre
tipo de razão, que abandone o paradigma da relação o velho e o novo, entre as idéias em crise e seus principais anta-
gonistas do presente. A realidade em crise, na sua turbulência
sujeito-objeto e o substitua pelo da ação comunica- confusa, parece dar-lhe razão. Como vimos no tópico anterior,
tiva (ROUANET, 1989). a emergência do “novo paradigma” se desenvolve paralelamente
às transformações no capitalismo mundial de alcance histórico.
2 Segundo as palavras de Kuhn: “Considero ‘paradigmas’ as re-
OS PRESSUPOSTOS DO DEBATE alizações científicas universalmente reconhecidas que, durante
algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para
A primeira questão que se nos apresenta é se a uma comunidade de praticantes de uma ciência” (KUHN,
chamada crise de paradigmas é uma crise geral das 1998, p. 13, grifo nosso).
3 “[...] necessitamos estudar detalhadamente o modo pelo qual as
formas modernas de produzir o conhecimento, onde anomalias ou violações de expectativa atraem a crescente atenção
se incluem teorias críticas da própria ciência moder- de uma comunidade científica, bem como a maneira pela qual
Cronos, Natal-RN, v. 7, n. 2, p. 339-351, jul./dez. 2006
O método sem história: uma crítica da metodologia moriniana da complexidade
341
diziam respeito originalmente à Física e procurava (1996), para quem, independente das diferentes
demonstrar as insuficiências de teorias e metodolo- abordagens sobre o desenvolvimento sustentável,
gias, no caso a Física Quântica, de fornecer explica- os esforços integradores que procuram viabilizar um
ções viáveis diante dos avanços proporcionados por tratamento articulado entre a dimensão ecológica
outro paradigma emergente. Comumente, os que se e a dimensão econômica se constituem importan-
envolvem no debate sobre a existência de uma cri- tes iniciativas para que o novo paradigma surja da
se de paradigmas não levam em consideração, por crise e possa ter validade macro-teórica, heurística
exemplo, as observações de Kuhn a respeito da na- e, a partir da sua coerência interna, orientar ações
tureza cumulativa da ciência – não progressiva e li- sociais, ou seja, para que tenha legitimidade cien-
near – dos avanços científicos e do caráter histórico tífica e cultural. Por outro lado, para Brüseke, são
das questões levantadas pelos cientistas em seu pró- estabelecidas três dimensões que devem ser levadas
prio tempo, ou seja, o desenvolvimento da ciência em conta para articularem proposições teóricas a
não se dá através de um progresso contínuo, mas de respeito do desenvolvimento sustentável: a dimen-
saltos, de revoluções científicas. Tendo, por exemplo, são biofísica, isto é, o espaço físico onde qualquer
o cientista contemporâneo uma posição privilegia- ação humana se desenrola; a dimensão do cálculo
da na observação do desenvolvimento científico, não econômico, determinada pelas trocas mercantis que
caberiam como centro de seus questionamentos as necessitam, a partir delas, que sejam determinados
relações nem as contraposições entre, por exemplo, valores econômicos para mercadorias que são objeto
o pensamento de Galileu e seus contemporâneos e o de tais trocas, o que impõe, na sociedade capitalista,
dos cientistas modernos. “Se essas crenças obsoletas a lógica da valorização, aspecto que tem determina-
devem ser chamadas de mitos, então os mitos po- do o dinamismo da economia industrial; e, por fim,
dem ser produzidos pelos mesmos tipos de métodos a dimensão sociopolítica, que se constitui da ação
e mantidos pelas mesmas razões que hoje conduzem humana não independente das outras dimensões,
o conhecimento científico” (KUHN, 1998, p. 21). mas determinada por valores produzidos cultural-
Além do mais, para Kuhn (1998, p. 201-237), a mente, portanto, socialmente, e se expressam na na-
produção do conhecimento e o seu processo de atu- tureza através da transformação desta, no uso que o
alização se dá na forma do progresso, orientado por homem faz da energia que só ela (a natureza) pode
paradigmas científicos até que haja uma revolução prover (BRÜSEKE, 1996, p. 115-118).
científica, o que não negaria as contribuições ante- Ora, os esforços de elaboração promovidos por
riores, mas alteraria as orientações globais da comu- diversas correntes que contribuem, segundo Brü-
nidade científica. seke, para dar origem a um novo paradigma, não
Os esforços para a elaboração de uma nova têm partido de proposições novas. Portanto, se o
teoria do desenvolvimento que procure superar os problema é novo, as bases para sua abordagem con-
dilemas criados pelas limitações impostas pelo mo- tinuam sendo as mesmas. É o caso, por exemplo, da
delo desenvolvimentista, e que apontam na direção chamada economia do meio ambiente, de aborda-
de uma relação mais equilibrada entre crescimento gem neoclássica, que, como veremos mais adiante,
da produtividade, preservação ambiental e redução faz uso de um instrumental teórico tradicional para
das desigualdades sociais, leva-nos a concluir que a incluir nele formas de calcular e atribuir valor às
crise da idéia de desenvolvimento tem sido tratada “externalidades” produzidas pela ação destrutiva do
como uma crise de paradigma. É o caso de Brüseke capital. Da mesma maneira, a chamada Economia
Ecológica procura dar ênfase nas suas análises à ca-
pacidade energética do Planeta para suportar e man-
o fracasso repetido na tentativa de ajustar uma anomalia pode ter os mesmos níveis de produção e consumo, o que,
induzir à emergência de uma crise” (KUHN, 1998, p. 14).
Cronos, Natal-RN, v. 7, n. 2, p. 339-351, jul./dez. 2006
Flavio Lúcio R. Vieira
342
para Alier (1998), se origina de pressupostos teóri- característica que lhe determina o caráter social. As-
cos e metodológicos não tão recentes assim. Como sim, a mudança social e os processos de moderniza-
afirma Altvater (1995), uma economia ecológica ção criam e recriam permanentemente as paisagens,
continua sendo uma economia, e seus pressupostos transformam os lugares, articulam as regiões, “re-
continuarão voltados para os princípios econômi- duzem” distâncias, de modo que, agora, percebe-se,
cos que orientam as decisões, mesmo se tratando de essas “marcas” são deixadas também no ar, no mar,
aproveitar recursos naturais. Há aqui, seguramente, nas florestas. Por fim, descobre-se a natureza não
um problema novo que exige ser abordado com o apenas como um “palco” em que as relações sociais
instrumental teórico e metodológico de que dispo- são desenvolvidas: a própria determinação dela re-
mos, sem escamotearmos as diferenças ideológicas e sulta de uma relação social, uma relação entre ho-
políticas que estão implícitas nas próprias teorias e mens e destes com a natureza.
metodologias. No plano metodológico, devemos questionar
As insuficiências teóricas de muitas aborda- de onde podemos partir para buscar um método que
gens decorrem do fato de como a ciência moderna melhor explique os problemas levantados no deba-
concebeu, desde a sua origem, o problema do co- te a respeito do desenvolvimento sustentável e que
nhecimento e sua relação com o mundo social e na- parta da consideração de uma relação integrada en-
tural. No caso das ciências sociais, repentinamente tre sociedade e natureza. Chamamos a atenção para
a questão ambiental passou a exigir uma atenção a o fato de que não se trata aqui de uma discussão es-
qual elas jamais dispensaram. Então, não pode ser tritamente metodológica, como se as definições do
desconsiderado o fato de que é nas ciências natu- método, por si sós, resolvessem o problema. Existe,
rais onde, em geral, se vão buscar conceitos e teo- portanto, uma precedência para abordagem do mé-
rias para construir o novo paradigma, correndo-se todo, qual seja, a definição do objeto. E aqui não se
o risco de promovermos uma perigosa inversão ao trata de um objeto simples nem único; não se trata
diminuirmos (ou mesmo desconsideramos) a impor- de definir uma especificidade de uma ou de outra ci-
tância da esfera social. Esta esfera, afinal de contas, ência, para que se estabeleçam fronteiras entre elas.
constitui o centro da problemática, já que é dela (ou O objeto em questão, em si mesmo, é múltiplo e
seja, das formas que assumem as relações sociais, não pode ser tratado a partir de uma diferenciação
que determinam também formas particulares de e separação rígida entre sujeito e objeto. O ponto
relações entre sociedade e natureza), que emerge a fundamental, a nosso ver, diz respeito à questão da
problemática ambiental. Descobre-se, enfim, que a totalidade do conhecimento da realidade, da nature-
natureza é parte constitutiva dessas relações sociais za indissociável do homem e o seu mundo, que é ao
e que, se estas não são determinadas por aquelas, mesmo tempo social e natural.
muito do que ocorre no desenrolar dessas relações Por isso, a postura positivista que vê o mundo
guarda dela larga influência das condições naturais social regido por “leis” semelhantes ao mundo na-
e espaciais. tural deixa de reconhecer que o que dá condição de
Enfim, a artificialização do mundo, a transfor- humanidade ao homem é exatamente a capacidade
mação da natureza pelo homem, nunca é completa de transformar ambos os mundos, enquanto que,
no sentido de podermos, de alguma maneira, rele- por exemplo, a oposição rígida neokantiana4 entre o
var as suas injunções sobre o social. Como nos diz
Santos (1985), o espaço é também uma instância 4 No final do século XIX os neokantianos, dos quais Weber re-
cebeu decisiva influência (OUTHWAIT, 1985; OAKES, 1987)
da sociedade, da mesma maneira que o é a instância atualizaram e desdobraram as contribuições metodológicas de
econômica e a cultural-ideológica, de vez que ambas Kant no debate a respeito das especificidades metodológicas
contêm o espaço e são contidas por ele, sendo essa das ciências sociais e da demarcação diferenciadora em relação
ao método das ciências naturais, cuja principal diferença resi-
Cronos, Natal-RN, v. 7, n. 2, p. 339-351, jul./dez. 2006
O método sem história: uma crítica da metodologia moriniana da complexidade
343
mundo social e natural e, portanto, entre as ciências Héctor Leis condena Marx por ter tido ele ape-
sociais e naturais, deixa de perceber o caráter inte- nas uma “preocupação marginal” com a degradação
grado e indissolúvel entre homem e natureza. Ora, ambiental no capitalismo, sendo a natureza conside-
se a realidade se constitui de tal integração, como rada como um “meio de trabalho para o homem”6 e
separá-la no plano do método? como “mundo não humano”, o que representaria a
Tal proposição não tem nada de novo e pode atitude de enxergar a natureza como mero objeto de
ser estabelecida na teoria social desde Hegel, pas- apropriação do homem. Quanto às conhecidas teses
sando por Marx e alguns marxistas como Gramsci e de Marx a respeito do processo de humanização da
Lukács. Assim, consideramos falso atribuir a Marx o natureza e naturalização da humanidade, o cientista
desprezo, comum à ciência moderna, pela natureza. político argentino afirma ser esta compreensão, re-
Marx, a partir de Hegel, projetou uma integração tirado contexto em que Marx viveu, uma “precoce
relacional entre esferas (sociedade e natureza). Não vocação ambientalista”, para logo depois dizer que
obstante, o seu grande mérito foi estabelecer que o que prevalece mesmo é a visão antropocêntrica,
tais relações não são “naturais”, sendo, ao contrá- segundo a qual, a natureza continua a ser mero ob-
rio, determinadas socialmente. Tais relações trans- jeto humano. “Marx valoriza o desenvolvimento da
formam ambas as esferas. Ao agir sobre a natureza o ciência não para conhecer a natureza e, assim, poder
homem transforma a si próprio, transformando seu respeitá-la melhor, mas para minar sua independên-
próprio mundo social. E se tais relações são históri- cia em relação à humanidade” (LEIS, 1999, p. 204,
cas, resultado de cada modo especial de produzir as grifo nosso). Independência! Primeiro, é importan-
necessidades sociais, destes emergem formas parti- te perguntar o que é a natureza e qual o seu papel
culares de relações entre homem e natureza. Como na reprodução humana. Segundo, o que é o próprio
diz Gonçalves (1998, p. 23), “o conceito de natureza homem e como ele se distingue da natureza? As res-
não é natural”5. postas a essas questões nos conduzem à problemáti-
ca do trabalho. Isso não implica numa noção estreita
dia exatamente nos objetos distintos de ambas as ciências. Eles relativa à relação sujeito–objeto. Ambos, homem e
procuravam responder aos positivistas que advogavam para as natureza, são objetos e sujeitos ao mesmo tempo.
ciências sociais o uso dos métodos das ciências naturais. Essa
compreensão implicava uma relação dicotomizada entre socie- No entanto, há uma parte ativa nessa relação, que é
dade e natureza, pelo lado dos neokantianos, e uma transpo- o homem. Ora, o homem não pode prover sua sub-
sição mecânica da compreensão dos fenômenos naturais vistos
de maneira semelhante aos fenômenos sociais, pelo lado dos
positivistas. p. 51): “Marx não é [...] um geógrafo (assim como não é um
5 É muito comum entre alguns geógrafos, como é o caso de historiador nem um sociólogo), mas no marxismo, assim como
Lacoste (1988), atribuir às análises de Marx um caráter a-es- existe uma teoria da história e uma análise da sociedade, existe
pacial acompanhadas de “raciocínios grosseiramente deter- também uma geografia, sempre que por geografia se queira
ministas”. Ao que parece, tais afirmações desejam encontrar entender principalmente ‘a história da conquista cognoscitiva
em Marx as soluções globais para cada ciência em particular. e da elaboração regional da terra, em função de como veio a se
Cremos que tais assertivas se devem aos níveis amplos de abs- organizar a sociedade’ (L. Gambi)”.
tração e generalização da maior parte das elaborações de Marx. 6 A natureza, como explica Marx com detalhes na sua Crítica ao
Em todo caso, é inegável a importância que o economista e fi- Programa de Gotha (MARX, 1980), não é “meio de trabalho”,
lósofo alemão dá a questões espaciais, como as contradições da mas “fontes dos valores de uso” que integram a “riqueza ma-
relação campo-cidade, sendo estas sem dúvida uma das grandes terial” da sociedade que, por sua vez, determina as formas de
contribuições de Marx para desvendar uma das características apropriação da natureza. Assim, “na medida em que o homem
espaciais fundamentais das formações sociais na história, assim se situa de antemão como proprietário diante da natureza, pri-
como, especialmente nas formen dos Grundisse (MARX, 1977), meira fonte de todos os meios e objetos de trabalho, e a trata como
o que pode ser tido como o centro de toda a sua obra, a im- possessão sua, seu trabalho converte-se em fonte de valores de
portância do trabalho social para produzir a vida, transforman- uso, e, portanto, em fonte de riqueza” (MARX, 1980, p. 209),
do, consciente ou inconscientemente, a natureza e a sociedade, porque sendo a natureza convertida em propriedade privada de
dando conteúdo histórico às relações de produção, que incluem poucos, muitos são coagidos ao trabalho que é o que produz
também formas de propriedade (da terra). Sobre a questão le- a riqueza material das sociedades de classe, especialmente da
vantada acima por Lacoste é importante citar Quaine (1977, capitalista.
Cronos, Natal-RN, v. 7, n. 2, p. 339-351, jul./dez. 2006
Flavio Lúcio R. Vieira
344
sistência mantendo a natureza intocada e, se não de uma forma de pensar ajustada às formas da vida
somos animais “naturais”, desejamos fazê-lo com a social. Vida esta que procura fugir aos dilemas éticos
maior produtividade possível. A questão está na for- que tais práticas sociais encerram e se esconde sob o
ma social que esse processo assume. manto da neutralidade ou da impossibilidade de co-
No capitalismo, como diz Marx nos Grundrisse, nhecer a realidade como uma totalidade, negando-
“pela primeira vez, a natureza se torna para a hu- se a explicar seus fundamentos sociais7.
manidade mero objeto, mera questão de utilidade, O debate sobre desenvolvimento sustentável
cessando de ser reconhecida como um poder em si não pode escapar a esses dilemas porque, nos termos
mesma; e a descoberta teórica de suas leis autônomas em que universalmente ele é posto, diz respeito ao
parece somente um artifício destinado a subjugá-la próprio “futuro da humanidade”. Isso significa dizer
[...]” (apud HARVEY, 1993, p. 106). Seu objetivo é que não se trata também de restringir tal mudan-
o atendimento às necessidades da acumulação capi- ça ao campo da epistemologia e do método, man-
talista, na forma da sua apropriação desigual sobre tendo distância da dimensão ontológica. Trata-se,
os produtos da natureza, quando o consumo excessi- ao contrário, de fundar o método ontologicamente,
vo de uns, que leva a uma compulsão desenfreada de ou antes, de afirmá-lo como proposição metodológi-
consumo, representa a completa escassez para mui- ca, que seria precedida de uma abordagem sobre as
tos. Disso depende, para Marx, a superação da pró- qualidades históricas do próprio objeto. Em síntese,
pria alienação humana, quando na sua relação com antes de qualquer coisa, o objeto deve ser fundado
a natureza não estiver embutida um modo de domi- historicamente, deve integrar as dimensões em que
nação sobre a natureza e sobre os próprios homens. nele estão contidas e, portanto, constituído como
“O reino da liberdade só começa de fato quando o uma totalidade.
trabalho determinado pela necessidade e pelas con- O conhecimento da realidade social e natural
siderações mundanas deixar de existir” (apud HAR- é inesgotável porque é histórica, o que a configu-
VEY, 1993, p. 107). Em outros termos, quando este ra como dinâmica e ao mesmo tempo indivisível, se
estiver voltado para o desenvolvimento do próprio sua possível divisibilidade só pode ser operada pela
homem como um fim em si mesmo, e não como consciência filosófica. No entanto, mesmo nas suas
fetichização da própria vida, que se manifesta, en- especificidades, o dado que lhes dá inteligibilidade
tre outras coisas, pelo ato de ter, de acumular, mui- são suas relações com o todo. E estas relações são,
to além das necessidades vitais. Isso não significa a por sua vez, múltiplas, tornando complexo o real. A
constituição de uma sociedade baseada em um modo totalidade se constitui então como o recurso meto-
de produção de subsistência, mas a reorientação de dológico para entender a complexidade ontológica
toda a produção social para uma apropriação social, do ser, para termos então integrados e indissolúveis
determinada pela consciência das necessidades indi- a ontologia e o método. Entretanto, não devemos
viduais e coletivas. A origem de toda a problemáti- esquecer que a primeira tem a primazia sobre o se-
ca ecológica contemporânea não parte exatamente
da noção desintegradora entre consumo individual e
7 Para Lukács (1974, p. 119), “[...] quanto mais evoluída é uma
consumo social, entre produção social, apropriação ciência moderna, melhor conseguiu uma visão metodológica e
individual e o reconhecimento disso como uma po- clara de si mesma e mais terá de voltar as costas aos problemas
ontológicos da sua esfera e eliminá-los resolutamente do domí-
sitividade, quando o ter se sobrepõe ao ser? nio da conceptualização que forjou. E quanto mais evoluída,
Assim, a ciência moderna, seguindo a lógica da quanto mais científica, mais se transforma num sistema for-
malmente fechado de leis parciais especiais para o qual o mun-
racionalização fragmentadora da realidade, fundada do que se encontra fora do seu domínio e, com este, e até em
em configurações especiais da divisão social do tra- primeira linha, a matéria que se propõe conhecer, o seu próprio
balho, jogou um papel decisivo para a consolidação substrato concreto da realidade, passa, por princípio e por método,
por inapreensível”.
Cronos, Natal-RN, v. 7, n. 2, p. 339-351, jul./dez. 2006
O método sem história: uma crítica da metodologia moriniana da complexidade
345
gundo, o procedimento ontológico antecede o me- também, em conceitos, principalmente da física –, é
todológico (LESSA, 1999, p. 141s). construir um novo tipo de ciência que veja também,
para além de suas pretensões universalistas quanto à
MÉTODO E HISTÓRIA verdade do conhecimento, a sociedade e a natureza
A noção de totalidade aqui exposta se distin- como componentes de uma inter-relação complexa,
gue de algumas concepções, que comentaremos a sendo um sistema aberto para o acaso e a incerteza.
seguir, originárias do campo das ciências naturais, Ora, essa compreensão Morin desenvolve-a com base
assim como das que, oriundas de cientistas sociais, se em Bertalanffy, que introduz a noção de sistemas
estruturam recebendo decisiva influência daquelas. abertos, baseados, por sua vez, no segundo princípio
São os casos da Teoria Geral dos Sistemas, do biólogo da termodinâmica, em contraposição à compreensão
Ludwig von Bertalanffy (1975) das revolucionárias da “Física convencional” que trata apenas de siste-
contribuições do químico Ilya Prigogine8 sobre a mas fechados, ou seja, isolados e sem interação com
termodinâmica do não equilíbrio, e do antropólogo o seu ambiente (BERTALANFFY, 1975, p. 63). Mo-
francês Edgar Morin (1987), com sua Teoria da Com- rin, apesar de negar validade a todas as metodologias
plexidade. Essas duas primeiras são fundamentais e da chamada ciência moderna, inclusive o marxismo,
exercem grande influência sobre a teoria elaborada propõe não apenas uma articulação entre as ciências
por Morin. É importante lembrar que não se trata sociais e naturais, mas uma completa reorganização
de elaborações orientadas, especificamente, para o “da própria estrutura do saber” (MORIN, 1987, p.
objetivo de contribuir com a elaboração de uma te- 13). Isso incluiria mesmo Einstein, que Morin inclui
oria específica do desenvolvimento sustentável, mas ao lado de Copérnico, Galileu e Newton, com sua
de uma nova epistemologia para a ciência baseada concepção de um universo estruturado na “ordem”
numa visão holista (CAPRA, 1996) da ciência e do (MORIN, 1987, p. 67).
mundo, e é esse aspecto que torna as teorias do de- Portanto, as contribuições descritas rapidamen-
senvolvimento sustentável herdeiras dessas contri- te acima, dizem respeito aos conceitos de sistema
buições metodológicas. (Bertalanffy) e de entropia (nos termos propostos
O propósito de Morin – que se fundamenta em por Prigogine). Estes dois conceitos são fundamen-
elaborações demasiadamente abstratas baseando-se, tais para explicitarmos a proposta metodológica de
Morin, porque elas implicam, segundo ele, em no-
ções integradoras e interdisciplinares, em formas
8 Ilya Prigogine, cientista de origem russa e Prêmio Nobel de novas de conceber o conhecimento. Assim, a rea-
Química em 1977, dá, na metade do século XX, um novo im- lidade conformaria um sistema que funciona como
pulso aos debates a partir de uma nova compreensão a respei-
to do segundo princípio da termodinâmica, a lei da entropia, um todo integrado e relacional. A idéia de sistemas
colocando o problema em termos de produção tanto de ordem abertos, isto é, de sistemas que combinam ao mes-
como de desordem. Para os físicos, até então a entropia era um
princípio gerador apenas de desordem, à medida que o desgas-
mo tempo movimentos previsíveis e aleatórios e de
te de energia produziria o esgotamento dos corpos até a sua relação entre sistemas, conduz à idéia de entropia,
morte. Prigogine (1967) chama a atenção para o fato de que segundo a qual todo sistema ao se relacionar com
logo após a produção da desordem ou dos desequilíbrios, emer-
gem novas fontes de ordem, as “estruturas dissipativas”, que, outros sistemas e com o meio ambiente, perde ener-
como sistemas abertos, podem produzir novas estruturas de or- gia, que, como vimos, não poderá mais ser reposta,
dem, ou seja, a entropia não conduz necessariamente à morte
dos sistemas, mas a novas estruturas de ordem e equilíbrio. produzindo uma fonte de permanente desequilí-
Prigogine dá ênfase às relações entre o universal das leis da brio e desordem. A grande novidade no campo da
natureza, quando estas se aproximam do equilíbrio, e das suas
especificidades, quando advêm os desequilíbrios, dando lugar
termodinâmica é que o desequilíbrio e a desordem
ao aleatório, às instabilidades que vão exigir um maior fluxo de produzem novas fontes de equilíbrio e ordem (PRI-
energia dissipada, o que conforma esses sistemas como “estru- GOGINE; STENGERS, 1997). Assim, invertem-
turas dissipativas” (PRIGOGINE; STENGERS, 1997).
Cronos, Natal-RN, v. 7, n. 2, p. 339-351, jul./dez. 2006
Flavio Lúcio R. Vieira
346
se os sinais: sistemas tenderiam ao equilíbrio, mas possa observá-lo e explicá-lo. O universo não é mais
com a produção interna de fontes de desequilíbrio, o fundamento que articula todas as coisas. Ele pró-
que gerassem esses efeitos de entropia, efeitos sobre prio é uma singularidade do pensamento. “O uni-
o qual não temos nenhum controle determinístico, verso que nasce aqui é singular precisamente no seu
exatamente por serem sistemas abertos em movi- caráter geral” (MORIN, 1987, p. 83, grifo nosso).
mento. Os sistemas foram originalmente concebi- Tudo em Morin parece nascer, como se tudo fosse
dos como ordem, mas, por serem abertos tenderiam uma novidade, como se a forma de pensar pudesse
à desordem. A entropia foi concebida originalmente reestruturar por si só todas as coisas. Rejeitemos o
como desordem, mas viu-se que ela produz também método cartesiano e tudo renascerá.
a ordem. Neste sentido, o conceito de sistema se consti-
O propósito de Morin não é apenas ultrapassar tui no centro da proposta metodológica de Morin,
essas noções, mas criar, como já dissemos, um novo por dar conta da complexa relação entre o observa-
método, uma nova forma de pensar a natureza, a dor-conceptor e o universo fenomênico, a base sobre a qual
sociedade e o próprio conhecimento que abandone, todos os fenômenos organizacionais, ou seja, os sistemas
definitivamente, o método cartesiano, este fundado (físicos, biológicos, antropológicos, ideológicos e te-
apenas na ordem e na não-contradição. O seu mé- óricos), possam ser estudados.
todo parte de uma visão relacional entre dimensões
O sistema é o conceito complexo de base, porque
que se entrecruzam, consideradas elas como uma não é redutível a unidades elementares, conceitos
coisa só: a relação entre a vida natural e social, sendo simples, leis gerais. O sistema é a unidade de com-
esta um objeto complexo, produto de uma relação plexidade. É o conceito de base porque pode desen-
complexa. Tratando-se de objetos de tal magnitude, volver-se em sistemas de sistemas, onde aparecerão
as máquinas naturais e os seres vivos. Estas má-
a teoria da complexidade parte da idéia de não ser quinas, estes seres vivos são também sistemas, mas
possível simplificar nem o conhecimento produzido são já outra coisa. O nosso objetivo não é fazer sis-
nem os “objetos”, exatamente por se tratar de uma temismo reducionista. Vamos utilizar universalmente
“unidade complexa”. Esta não pode estar envolvi- a nossa concepção do sistema não como palavra-chave da
da por noções como identidades e causalidades nem totalidade, mas na raiz da complexidade (MORIN,
1987, p. 142).
deve partir da idéia de que as desordens (Foucault
diria as descontinuidades) internas sejam considera- Do grande sistema que é o universo do corpo
das como perturbações externas aos fenômenos, as- singular, seja humano ou não, temos aqui uma inter-
sim como sujeito e objeto não podem deixar de se relação de sistemas, caracterizados pela organização,
reconhecerem como realidades integradas (MORIN, ou seja, pela vida. Saindo dessa amplitude sistêmica
1987, p. 344). e penetrando naquilo que diz respeito mais ao sis-
A realidade complexa, assim, é entendida em tema, digamos, terrestre, onde a vida interage não
termos que concebem a junção e a disjunção como apenas pela troca de energia (natural), mas também,
partes de um mesmo processo e o antagonismo (a acrescentamos nós, pelo trabalho (energia social), e
desordem) como parte da ordem porque uma leva à que interessa mais de perto a este trabalho, Morin
outra. E a vida caminharia nessa “ordem” anelar, cí- apresenta a dimensão ecológica como uma dimen-
clica: ordem−desordem−organização, interagindo são essencial a ser pensada juntamente com a espécie
de modo permanente. O universo seria um gran- (reprodução) e o organismo (indivíduo), o ambiente
de sistema, uma ampla “unidade complexa organi- onde a vida se desenvolve e se constitui como um
zada”, que contém e é contida por uma infinidade sistema inter-relacional, uma “eco-organização”.
de sistemas inter-relacionados. Nele já não há mais Nesta, ao mesmo tempo prevalece a ordem da regu-
centro, já não há mais torres de controle de onde se laridade dos movimentos da Terra, dos dias e noites,
Cronos, Natal-RN, v. 7, n. 2, p. 339-351, jul./dez. 2006
O método sem história: uma crítica da metodologia moriniana da complexidade
347
das estações, dos ciclos naturais da vida animal, e a de apropriação, que nos permitirão compreender o
desordem dos movimentos dos continentes, do des- sentido histórico e social de uma relação, agora vista
locamento das placas tectônicas, da diversidade de sob o viés da dominação e controle. E mesmo esse
animais e plantas, da anarquia das ocupações dos homem cultural de Morin que surge, continua a ser
espaços e da luta pela sobrevivência em que todos o homem abstrato, tratado como “subjugador” da
lutam contra todos. A conjugação desses movimen- natureza.
tos complexos se dá através da vida, da interação vi- E esse caráter abstrato permeia toda a obra. A
vificadora, ao mesmo tempo que os que matam são vida, por exemplo, é tratada como tal, como pul-
mortos por outros, num ciclo de ordem e desordem sação, latência, como produtora e consumidora de
que se encontra em um “equilíbrio” caótico, que é energia, de calor. A vida é uma realidade em si mes-
expressão da própria vida, resultado organizado des- ma, sem dúvida, mas é da vida humana, portanto
ses encontros entre ordem e desordem, e que forma da vida social, de que devemos tratar, sem esque-
o ecossistema (MORIN, 1989, p. 22-23). A Ecolo- cer que ela se dá num processo de integração com
gia, como ciência, foi criada por Haeckel, em 1866, a natureza. Dessa maneira, se as ciências sociais re-
para ser a ciência que estuda a relação dos seres vi- jeitaram até agora a natureza e suas relações com
vos com o meio ambiente, sendo mais um campo a sociedade, trata-se agora de uma inversão a ser
da Biologia. Para Morin, a Ecologia deve transcen- feita: a natureza é a grande dimensão determinísti-
der essa fronteira e incluir as sociedades humanas ca, apesar de Morin afirmar permanentemente que
como parte dos ecossistemas, devido à capacidade não. Mas, onde nos incluímos diante da magnitude
dessas sociedades viverem nele, transformando-os do Universo, dos problemas que a Física levantou
(MORIN, 1989, p. 69). O homem desenvolveu a até agora? Onde as práticas sociais se enquadram
agricultura e a pecuária, construiu as cidades, re- nisso tudo e qual o seu papel? Elas pertencem ao
estruturou o meio ambiente e incorporou-o à sua homem indistintamente? É claro que o homem tem
própria organização social, num processo que é cha- sua configuração biológica, física, como já vimos, e
mado por Morin de subjugação: de animais e plantas o que o diferencia dos outros animais é a capacida-
para servirem aos interesses e necessidades humanas de que ele tem de, além de refletir sobre si e sobre
(alimento, transporte), acompanhadas de uma sub- seu mundo, transformar a natureza. E essa é uma
jugação, com os mesmos objetivos, do território (flo- qualidade social e cultural: o homem conseguiu se
restas, rios, lagos). Assim é que tais ações humanas distinguir da natureza e de si próprio. Portanto (isto
promovem desordem no próprio ecossistema, que pode parecer óbvio, mas demarca uma significação
não é capaz de se adaptar com a mesma rapidez que fundamental nesse debate), o homem não pode ser
é subjugado. considerado um ente animal como os outros – que-
E é assim que o “homem” organizado em socie- remos dizer, sem diferenças intra-espécie –, mas um
dade, produtor de ordem, desordem e organização, ser social. Se o homem existe na sua universalidade
finalmente aparece, na sua forma cultural (naqui- natural (animal), a sua particularidade fundamental
lo que o distingue da natureza), assim como na sua é a de ser social. Sendo social, ele não é um animal
forma “natural” (de relação de dependência com a como outro qualquer pelos simples fato de poder
natureza). Morin dá uma maior relevância a essas agir e transformar a natureza, produzindo sua pró-
“formas” cultural e natural, em detrimento das con- pria sociabilidade e distanciando-se de sua animali-
figurações social e histórica de como a humanidade dade natural. E sendo tal sociabilidade constituída
se relaciona com a natureza. No nosso entendimen- desde a sua origem na forma do conflito, seja pela
to, são essas configurações especiais e particulares da sobrevivência pura e simples, seja pela apropriação
relação homem-natureza, ou seja, das suas formas privada dos excedentes sociais produzidos, estes não
Cronos, Natal-RN, v. 7, n. 2, p. 339-351, jul./dez. 2006
Flavio Lúcio R. Vieira
348
podem nem devem ser abstraídos de qualquer aná- cia ecológica converte-se numa ciência planetária e
lise sobre as sociedades e sobre a relação destes com a consciência ecológica converte-se numa consciên-
cia planetária (MORIN, 1989, p. 75).
a natureza.
Morin, ao tratar, por exemplo, das incidências Consciência planetária. Em que bases pode ser
do “desenvolvimento antropossocial da era indus- produzida (muitos diriam inventada) essa “consciên-
trial” sobre a biosfera, aparecem como os subjugado- cia planetária”? Morin deixa as abstrações de lado e
res da natureza a “sociedade humana”, o “homem”, é muito direto quanto a isso, indicando que o Re-
a “humanidade”: “as sociedades humanas julgaram latório Meadows9, apesar dos problemas a que ele
emancipar-se da natureza criando cidades”, “a hu- se refere, “marca o surgimento simultâneo desta ci-
manidade passou da atividade integrada nos ecossis- ência/consciência planetária: concerne à biosfera em
temas à conquista da biosfera”, “o homem tornou-se seu conjunto”. É impossível não deixar de relacionar
o subjugador global da biosfera”, o “hiperparasita do a visão metodológica de Morin à conseqüência po-
mundo vivo” (MORIN, 1989, p. 73). O “homem”. lítica e ideológica do seu pensamento. A “consciên-
Ao que parece, a grande inovação metodológica de cia planetária” gestada pelo relatório do Clube de
Morin mantém aquilo que é mais comum e tradi- Roma, ao que já nos referimos, não tem nada de
cional da ciência moderna, que é o tratamento do universal e está ligada a interesses muito particula-
homem como um ser abstrato e a-histórico. A vida res. Talvez seja essa complexidade que falte ao pen-
abstrata, a natureza da natureza (quem a define?), a samento de Morin.
vida da vida (de que vida?), o conhecimento do conhe- Nesse ponto talvez resida a diferença funda-
cimento (para que e para quem?). Em síntese, todas mental entre a noção de totalidade, desenvolvida
essas definições estão enfeixadas por atributos cul- por Lukács, que bebeu da fonte original do pensa-
turais, políticos e ideológicos. A grande questão é: mento de Hegel e Marx, e as noções de interdisci-
é possível ultrapassar essas determinações genéricas plinaridade ou transdisciplinaridade, que parecem
sobre os homens e promover o consenso destes sobre informar a maior parte das abordagens teóricas
o mundo? sobre desenvolvimento sustentável e que está pre-
Vejamos que, ao ver o ambiente como en- sente em Morin. Como dissemos logo atrás, não há
volvido e envolvendo uma complexidade de grandes novidades nas pretensões metodológicas do
ordem−desordem−organização, Morin procura antropólogo francês. Mesmo a noção de organiza-
dar ao seu pensamento um caráter não excluden- ção, suposta inovação que daria robustez ao método
te das desordens, da contradição, da descontinui- moriniano, ultrapassando as definições de Bertalan-
dade na natureza. No entanto, acaba, se não por ffy e Prigogine, não é tão original assim. Certa vez,
negá-la como parte das relações sociais e históricas quando Göethe recebia a visita de Hegel, tendo este
entre os homens, por diminuir sua importância, o sido inquirido sobre uma definição para a Dialética,
que se afirma num tratamento dado à crise ecoló- o filósofo alemão respondera com simplicidade: esta
gica como uma questão que transcende espaços, seria o “espírito de contradição organizado” (apud
territórios, Estados, classes, configurando-se, então, ARANTES, 1996, p. 213). Mesmo reconhecendo a
como planetária, ou seja, de todos, do homem e da ironia com que trata Arantes a contradição imanen-
humanidade: te da origem da dialética hegeliana e do próprio He-
A problemática ecológica não é somente local, re- gel, espremido entre o conservadorismo da cultura
gional, nacional, continental. Formula-se em ter-
mos de biosfera e de humanidade. Suscitando o 9 A outra forma como é conhecido o relatório do Clube de Roma
problema da relação homem/natureza no seu con- “Os limites do crescimento” (MEADOWS et al., 1978), que coloca
junto, na sua extensão, na sua actualidade, a ciên- na agenda internacional os debates sobre ecologia e desenvolvi-
mento econômico nas instituições internacionais.
Cronos, Natal-RN, v. 7, n. 2, p. 339-351, jul./dez. 2006
O método sem história: uma crítica da metodologia moriniana da complexidade
349
e do Estado alemão e o florescimento europeu da natureza e das condições de vida da maioria dos se-
crítica das estruturas aristocráticas motivadas pela res humanos.
Revolução Francesa, o que também não deixa de ser Uma análise teórica próxima desta aborda-
dialético, nem para Hegel e sua dialética. Ora, em gem é a de Altvater (1995), que também inclui,
tudo há contradição e síntese (ou se quisermos, tese- por exemplo, o uso de conceitos da Termodinâmi-
antítese-síntese), algo muito próximo da ordem–de- ca como o de entropia e sintropia. Para o sociólogo
seordem–organização. O que lhe falta então? Aquilo alemão, esses conceitos da Física, atuando em “siste-
que nos remete ao princípio da própria contradição mas fechados”, podem identificar como tais sistemas
na sociedade: a práxis humana, o mundo social real se transformam dentro de uma situação de ordem,
donde emerge a história, donde emerge a própria tornando-os difíceis de aplicar nas ciências sociais.
contradição, a própria ordem-desordem da socieda- Nestas estão incluídas necessariamente as ações hu-
de. E não é apropriado, pensamos nós, confundir a manas, o que dá aos sistemas sociais uma confor-
contradição “natural” com a contradição social, pelo mação, “por princípio”, aberta. Neste sentido, o seu
simples motivo de que a ordem-desordem engen- estudo só faz sentido quando o objeto das ciências
drada pela natureza é imanente a ela própria e sobre sociais “pode ser diferenciado em relação ao seu am-
a qual não temos (nós, humanos) nenhum controle, biente”, mesmo se considerando que as necessida-
enquanto que a contradição originada socialmente é des (físicas) humanas só podem ser satisfeitas na e
produto das nossas próprias ações e decisões, inclu- com a natureza, sendo ela “fundamento da repro-
sive continuar aprofundando as “agressões” sobre a dução individual e social”. Não devem as ciências
natureza, mantendo intocadas as práticas sociais do sociais estabelecer primazia metodológica tanto em
status quo. relação ao “monismo energético” (consumo de ener-
gia fóssil) como em relação a uma ciência social que
Conclusão dispensa nas suas análises “explicações referentes às
Partindo de proposições metodológicas que coordenadas espaciais e temporais, portanto, sobre
não articulam a integração homem−natureza às a natureza da existência humana. As relações sociais
práticas sociais historicamente determinadas do pri- e as atividades individuais e coletivas constituem o
meiro, não conseguiremos renovar o pensamento no espaço, a base natural, a constituição espacial e a
sentido de uma nova hegemonia intelectual. Não se orientação do tempo formam as sociedades” (AL-
conseguindo enxergar nada para além da moderni- TVATER, 1995, p. 43-44)11.
zação capitalista, do pragmatismo do ecologismo, do
idealismo e romantismo dos ambientalistas, ou do 11 “Nestes termos, a sensação de fome é, em primeiro lugar, um
pragmatismo dos liberais, aliás, dominante no dis- processo biológico em determinadas condições (ausência de
fornecimento de alimentação ao organismo durante um pe-
curso e na prática das instituições internacionais10, ríodo mais longo). Em segundo, o modo de saciar a fome é
não haverá saída possível para a chamada crise eco- condicionado socialmente. Mas, é preciso levantar uma ques-
lógica. Isto porque ela é determinada não por outra tão suplementar, pois a dimensão e a forma da recepção de
alimentos constitui, em terceiro lugar, um momento no âm-
coisa, a não ser pelas práticas sociais predadoras da bito de uma complexa troca material entre indivíduo, socie-
dade e natureza, em cujo curso a natureza é transformada.
Em quarto lugar, esta transformação da natureza é subordi-
10 Segundo o Banco Mundial (2001): “O Quadro Geral de nada a determinadas leis. Por um lado, ela é irreversível, e por
Desenvolvimento usa uma abordagem holística para o desen- isso direcionada no tempo histórico; por outro, ela significa
volvimento. Procura um melhor equilíbrio na formulação de um consumo material e energético (utilização de sintropia)
política, destacando a interdependência de todos os elementos no plano do input (fornecimento de alimentos) e uma trans-
do desenvolvimento – sociais, estruturais, humanos, de go- formação no ambiente natural que, pressuposto um sistema
vernança, ambientais, econômicos e financeiros. Ele ressalta fechado, é vinculado a uma diminuição da ordem (aumento
parcerias entre os governos, doadores, a sociedade civil, o se- da entropia) no plano do output (produtos da troca material)”
tor privado e outros agentes do desenvolvimento”. (ALTVATER, 1995, p. 44).
Cronos, Natal-RN, v. 7, n. 2, p. 339-351, jul./dez. 2006
Flavio Lúcio R. Vieira
350
Assim, o grande desafio proposto por Hegel cia dada à historicidade do método, deslocado das
e depois por Marx, e fundamento metodológico da relações sociais e históricas e uma atitude científi-
dialética, ganha indiscutível força explicativa para ca baseada numa forma de pensar a complexidade
determinar o caráter e a dimensão da chamada cri- do mundo social e natural, onde possa ter lugar o
se ecológica contemporânea. O caráter ontológico acaso e a incerteza sobre o conhecimento e seus ob-
entre as formas históricas de relação da sociedade jetos, tem um limite que, em verdade, mantém o
com a natureza não é uma mera opção metodoló- principal postulado metodológico da ciência social
gica, como também enfatizamos, é tanto uma re- moderna, qual seja, a crítica histórica e o entendi-
alidade natural, como determinada socialmente. mento da realidade como objeto de construções so-
Assim, as relações sociais devem necessariamente ciais, estas sim, não independentes, mas distintas do
incluir relações com a natureza, sendo esta, repe- desenvolvimento natural porque produto de ações,
timos, não apenas um “palco” por onde os atores conscientes ou não, de homens e mulheres que, en-
sociais interagem, fazendo parte de uma dimensão fim, lutam pela sua sobrevivência. No entanto, é na
integradora essencial delas, sem a qual as relações produção dessa existência que são estabelecidas for-
sociais não se tornariam possíveis. As quatro dimen- mas (sociais) de relação com a natureza. E nelas se
sões consideradas por Altvater para o entendimento inscrevem tanto a possibilidade de entender as con-
das formas particulares de relacionamento entre in- figurações que assumiu a ciência moderna como a
divíduo, sociedade e natureza, entre desenvolvimen- crise ambiental dos nossos dias.
to e meio ambiente, podem ser simplificadas num
exemplo simples: ele parte de uma ocorrência na- REFERÊNCIAS
tural (a fome), depois de uma ocorrência social (as
ALIER, Joan Martínez. Da economia ecológica ao ecologis-
formas de saciar a fome), o que estabelecerá a ma-
mo popular. Blumenau: Ed. FURB, 1998.
neira pela qual os alimentos serão distribuídos e, da
mesma maneira, porque alguns homens conseguem ALTVATER, Elmar. O preço da riqueza: pilhagem ambiental
saciar a sua fome e outros não. Nesse processo, são e a nova (des)ordem mundial. São Paulo: Ed. UNESP, 1995.
estabelecidas formas próprias de relacionamento
ARANTES, Paulo Eduardo. Ressentimento da dialética:
entre indivíduo, sociedade e natureza mediante as
dialética e experiência intelectual em Hegel: antigos estudos
trocas materiais, que resultarão em formas e ritmos sobre o ABC da miséria alemã. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
de transformação da natureza, processo irreversível, 1996.
segundo o qual – lembramos nós –, a “segunda na-
tureza” jamais voltará a ser “primeira natureza”. BANCO MUNDIAL. Quadro geral do desenvolvimento.
As implicações teóricas de uma metodologia Disponível em: <http//www.obanco mundial.org/cdf7por.
html>. Acesso em 19 de junho de 2001.
que procura conceber a antipatia integrada, holista,
entre homem e meio ambiente, mas reduz ou ex- BERTALANFY, Ludwig von. Teoria geral dos sistemas.
clui a análise das relações sociais como produtoras Petrópolis: Vozes, 1975.
da chamada crise ecológica, acaba por levar à re-
conhecida ambigüidade dos conceitos que orientam BRÜSEKE, Joseph F. Desestruturação e desenvolvimento.
In: FERREIRA, L. da C.; VIOLA, E. (Org.). Incertezas de
a sua discussão. Entre eles, o de desenvolvimento
sustentabilidade na globalização. Campinas: UNICAMP,
sustentável. 1996.
Por fim, consideramos que as contribuições de
Edgar Morin a respeito da interdisciplinaridade e da CAPRA, Frijot. A teia da vida: uma nova compreensão cientí-
transdisciplinaridade, cuja principal característica fica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 1996.
é a crítica do paradigma cientificista e a irrelevân-
Cronos, Natal-RN, v. 7, n. 2, p. 339-351, jul./dez. 2006
O método sem história: uma crítica da metodologia moriniana da complexidade
351
GONÇALVES, C. Walter Porto. Os (des)caminhos do MORIN, Edgar. O método I. A natureza da natureza.
meio ambiente. São Paulo: Contexto, 1998. (Coleção Temas Portugal: Publicações Europa-América, 1987.
Atuais).
______. O método III. O conhecimento do conhecimen-
HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunica- to. Portugal: Publicações Europa-América, 1989.
tivo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989.
OAKES, G. “Weber and the Southwest German School:
HADDAD, Fernando. Habermas: herdeiro de Frankfurt. In: the genesis of the concept of the historical individual”. In:
MUSSE, Ricardo; LOUREIRO, Isabel Maria (Org.). Capítulos MOMMSEN, Wolfgang J.; OSTERHAMMEL, Jürgen (Ed.).
do marxismo ocidental. São Paulo: Ed. UNESP, 1998. Max Weber and his contemporaries. London: Unwin
Hyman, 1987. p. 434-446.
HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo:
Loyola, 1993. OUTHWAIT, William. Entendendo a vida social: o método
chamado Verstehen. Brasília: EdUnB, 1985.
HELLER, Agnes. Uma crise global da civilização: os desafios
futuros. In: HELLER, Agnes et al. A crise de paradigmas PRIGOGINE, Ilya; STRENGERS, Isabelle. A nova aliança:
em ciências sociais e os desafios para o século XXI. Rio metamorfose da ciência. Brasília: EdUnB, 1997.
de Janeiro: Contraponto, 1999.
QUAINE, Massimo. Marxismo e geografia. Rio de Janeiro:
HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor. Dialética do Paz e Terra, 1977.
esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1991.
ROUANET, Sérgio Paulo. As razões do iluminismo.São
KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. Paulo: Cia das Letras, 1989.
São Paulo: Perspectiva, 1998.
SANTOS, Milton. Espaço e método. São Paulo: HUCITEC,
LACOSTE, Yves. A geografia: isso serve, em primeiro lugar, 1985.
para a Guerra. Campinas: Papirus, 1988.
LEIS, Héctor R. A modernidade insustentável: as críticas do
ambientalismo à sociedade contemporânea. Petrópolis: Vozes;
Florianópolis: UFSC, 1999.
LESSA, Sérgio. Lukács, ontologia e método: em busca de um(a)
pesquisador(a) interessado. Praia Vermelha, Rio de Janeiro, v.
1, n. 2, p. 141-174, 1. sem. 1999.
LUKÁCS, Georg. História e consciência de classe. Rio de
Janeiro: Elfos; Porto: Publicações Escorpião, 1974.
MARX, Karl. Crítica ao programa de Gotha. In: MARX,
K.; ENGELS F. Obras escolhidas. São Paulo: Alfa-Ômega,
1980. v. 2.
______. Formações econômicas pré-capitalistas. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1977.
MEADOWNS, Donella H. et al. Limites do crescimento:
um relatório para o projeto do Clube de Roma sobre o dilema
da humanidade. São Paulo: Perspectiva, 1978.
Cronos, Natal-RN, v. 7, n. 2, p. 339-351, jul./dez. 2006
Você também pode gostar
- CARTILHADocumento18 páginasCARTILHADenise de Amorim RamosAinda não há avaliações
- ANGEL Pino+marianass,+4 - 3 - 2Documento22 páginasANGEL Pino+marianass,+4 - 3 - 2Denise de Amorim RamosAinda não há avaliações
- Política Educacional Organização Da Educação BrasileiraDocumento4 páginasPolítica Educacional Organização Da Educação BrasileiraDenise de Amorim RamosAinda não há avaliações
- Dissertaçõ Brincadeira de Faz de ContaDocumento14 páginasDissertaçõ Brincadeira de Faz de ContaDenise de Amorim RamosAinda não há avaliações
- Maria Malta - Educar Crianças PequenasDocumento11 páginasMaria Malta - Educar Crianças PequenasDenise de Amorim RamosAinda não há avaliações
- Critrerios para Atend Creches - 2017Documento34 páginasCritrerios para Atend Creches - 2017Denise de Amorim RamosAinda não há avaliações
- Anped - 2017 - gt07 MariamaltacamposDocumento17 páginasAnped - 2017 - gt07 MariamaltacamposDenise de Amorim RamosAinda não há avaliações
- Fluxo A Rotina Na Educao InfantilDocumento14 páginasFluxo A Rotina Na Educao InfantilDenise de Amorim RamosAinda não há avaliações