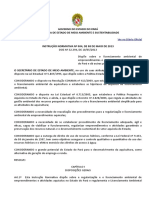Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Ecologia de Florestas Tropicais Do Brasil 2 Ed PDF Free
Ecologia de Florestas Tropicais Do Brasil 2 Ed PDF Free
Enviado por
Isla Marialva0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
89 visualizações318 páginasTítulo original
Pdfcoffee.com Ecologia de Florestas Tropicais Do Brasil 2 Ed PDF Free
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
89 visualizações318 páginasEcologia de Florestas Tropicais Do Brasil 2 Ed PDF Free
Ecologia de Florestas Tropicais Do Brasil 2 Ed PDF Free
Enviado por
Isla MarialvaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 318
Universidade Federal de Vigosa
Reitora
Vice-Reitor
Diretor da Editora UFV
Conselho Editorial
Nilda de Farima Ferreira Soares
Demetrius David da Silva
José Gouveia da Silva
Célia Alencar de Moraes (Presidente),
Anténio Lelis Pinheiro, Emane Corréa
Rabelo, Fernanda Henrique Cupertino
Aleintara, Gerson Luiz Roani, José
Gouveia da Silva, Julio Maria de
Andrade Araujo, Maria Cristina
Baracat Pereira e Mauri Martins
Teixeira
A Editora UFY ¢ filiada 4
iZs
Associogao Brasileira das Editoras
‘Universitérias.
Eco ee>
Asociacién de Editortales Universitarias de
‘América Loting y el Carbe
annie
Sebastiaio Venancio Martins
(Editor)
ECOLOGIA DE FLORESTAS
TROPICAIS DO BRASIL
2* edicdo, revista e ampliada
EdiTORA
Universidade Federal de Vi¢osa
2012
#) 2009 by Sebastidio Venincio Martins
i* edi¢do; 2009
edicko: 2012
Direitos de edigdo reservados A Editora UFV.
Todos os direitos reservados, Nenhuma parte desta publicagda pode ser reproduzida,
apropriada ¢ ¢stocada, por qualquer forma ou meio, sem autorizaglo do detentor
dos seus direitos de edigdo.
Impresso no Brasil
Ficha catalogrifica preparada pela Secdo de Catalogagaio e
‘Classificagdo da Biblioteca Central da UFV
Ecologia de florestas tropicais do Brasil / Sebastido Vendncio
Martins (Editor), 2.¢d. rev, e ampl. — Vigasa, MG : Ed. UFV,
E19 2012
2012 a
371 p. il. (algumas col.) ; 22cm.
Inclui bibliografia.
ISBN: 978-85-7269-431-5
1. Ecologia florestal. 2. Biologia da conservagdo. 3. Desmata-
mento. 4. Reflorestamento. 5. Fitogeografia. 1. Martins, Sebastifio
Vendncio, 1965-.
CDD 22.6d.634.96
Capa: José Roberto da Silva Lana ¢ Miro Saraiva
Revisda linguistica: Constanga B.A. Chaves
Editoragaa eletronica: José Roberto da Silva Lana
Impressdo e acabamento: Divisio Grafica da Editora UFV
Editora UFV Pedidos
Edificio Francisco Sio José, s/n Tel. (Oxx3)) 3899-2234
Universidede Federal de Vigosa Tel./Fax (Oxx31) 3899-3113
3657-000 Vigosa, MG, Brasil E-mail: editoravendas@ufv.br
Caixa Postal 251 editoraorcamento@ulv.br
‘Tels. (Oxx31) 3899-2220/3 139 Livraria Virtual: www.cditoraufy.com.br
E-mail: editoragdufv,br
ERI ce ee
Este Livro fai impresso em papel offset 90 im (miolo) « carta supremo 250 m* (capa),
|
|
j
i
Apresentagao
Uma pesquisa rapida na fefernet com a palavra-chave ecologia
florestal resulta em centenas de chamadas, que vao desde artigos
cientificos ¢ teses, abordando varios enfoques desta area das ciéneias
agrdrias ¢ bioldgicas, até campanhas publicitarias para a divulgagao
de produtos ¢ servigos “ditos” ecolégicos. Nunca s¢ falou tanto em
ecologia e especialmente em ecologia de florestas tropicais como nos
tiltimas anos.
Essa ampla divulgagao pela midia e a necessidade de solugdes
tapidas para reverter as alarmantes taxas de desmatamento e de
degradag¢do ambiental tém resultado em crescente interesse pelo
conhecimento cientifico dos ecossistemas florestais, através de
pesquisas que buscam analisar os processos ecolégicos, o arranjo das
espdcies ¢ suas populages no espago € no tempo, e suas interagdes com
9 meio fisico,
Nesse contexto, o enfoque multidisciplinar dos estudes em
ecologia florestal, que necessariamente envelve as mais variadas
areas do conhecimento, como botinica, solos, ecologia de sementes.
relagdes planta-animal, e suas aplicagdes na biologia da conservacio,
ha recuperagdo de dreas degradadas e no manejo florestal, pode ser
nitidamente observado nesta obra. O Capitulo 1 apresenta um enfoque
tedrico sobre o processo de sucesso florestal ao longo da histéria
da ecologia vegetal, destacando os primeiros estudos sobre o tema, a
mudanga de paradigmas da sucesso eas implicagdes dessa evolugdo da
teoria successional na restauragdo florestal. Os Capitulos 2 € 3 abordam
08 processos de floragio, polinizagiio ¢ dispersdo de sementes ¢ 4 sua
importancia para a conservacio de ecossistemas florestais.
Nos Capitulos 4 e 5 sio apresentados fundamentos de
fitogeografia, com enfoque na caracterizagio das formagdes florestais
brusileiras quanto aos fatores fisiogrificos e as Principais espécics.
Sumario
Cariruto 1
Sucessio Ecolégic:
Ecossistemus Florestat
Os primeiros estudos ¢ teorias sobre sucessdo ecoldégica .....
Implicagdes do paradigma c
ecossistemas florestais ..
igsico na conservagdo ¢ restauracao de
jonais ¢ a mudan¢a de paradigmas ..
A-evolugio das teorias suce:
O paradigma contemporaneo € sua aplicagao na restaura¢io ecolégica........28
O papel das clareiras na sucesso ¢ na restauragdo florestal....
O banco de sementes do solo e seu papel na sucesso ¢ na restauragao
florestal. ‘i a nae
Arebrota de ae arbustivo-arboreas € suas implicagdes
na regeneragao florestal... See we 40
Consideragées finais..... afl
Referéncias...... i to
Carituto 2
Floracio, Polinizagio e Sistemas Reprodutivos em Florestas Tropicais.53
Tnntrodugdio ..n...sssessssee eke
fais
ea
Fenologia da Floragao ......
Conceituagdo ¢ importancia ...
Sincronia da floragao ¢ estratégias reprodutivas
Padrdes de floragdo
Fatores abidticos ¢ bidticos associados 4 floracko
Sindromes de PolinizagGo. sesso
‘Cantarofilia ......
Miiofilia ¢ sapromiiofilia..........
Melitofilia...
Psicofilia, falenofilia ¢ esfingofilia ...
Oritofilia poate
Quiropterofilia ¢ polisioncha por mamiferos nie ¥ adore:
Sistemas Reprodutivos
Alogamia ¢ autogamia
Apominia..
Autogamia versus apomixia
‘Considerapdes finais
Agradecimentos
Referéncias....
CariTtLo
Ecologia da Dispersao de ee em Florestas Tropicais
Introdugio...
Oconceito biolégico de dispersio
Vantagens da dispersio para as plantas.
Sindromes de dispersi.
Sindromes bidticas € abidticas........
Dispersio secundaria, diploconia ¢ eventos pos-dispersio
Barreiras para a dispersao.....
Banco ¢ chuva de sementes...
A fenologia reprodutiva ea dispersdo de sementes
Addispersio de sementes ¢ sua importancia para 2 an dos
ecossistemas ..
ee
CAPITULO 4 aereccsscsssaresmeree eeesenevnevaseenssererceueeseananiannsnenneessmebaastetesansseene oh eoeees 107
Formagbes Florestals Brasilelras..ocsssssee sesuareeentersrreeveresensssnneansnseece LOT
Formagdes florestais no sistema de classificado da vepelagdo
brasileira.
Atl
Floresta ombrafila
densa
Floresta ambro
116
117
120
120
123)
ws 124
a ZO
127
128
Formagdes pioneiras ..... 29
Florestas com influéncia marinha (restinga).... we EBD
Formagées pioneiras com influéncia fluviomarinha (manguezais).......... 131
Formagées pioneiras com influéncia fluvial ¢, ou, lacustre
Floresta ombrdfila aberta.......0cccccsreesessasseseon
Floresta ombréfila mist
Floresta estacional.
Floresta estacional decidable...
Floresta estacional semidecidual
Floresta estacional perenifdlia
‘Campinarana florestada.....
Savana florestada (cerradiio)
Savana-estépica florestada (caatinga)
(comunidades aluviais).... a soo LSE
Observacdes sobre denominagdes empregadas para as
aluviais.... fou BSS
Considerages fin wa 134
Referéncias....,
CariruLo
Uina Visio Pedogeomorfolégica
ee ene gica subre as Formacées Florestais
Introducao........
A Mata Allintica...,
Paisagem da Mata Atlantica a
de uma tipica floresta
Atlantica em Vigosa, MG...
Habitat de Cambissolo epieutrdfico com floresta alta densa...
Habitat de Latossalo cimbico com foresta alta aberta....
~~ 162
165
168
. 169
Habitat de Latossolo distréfico com floresta baixa aberta
Riqueza, diversidade ¢ biomassa nos habita
Consideragdes finais,
Referéncias..
‘CarituLa
‘Ciclagem de Nutrientes em Florestas do Bras
Estoques ¢ transferéncias de nutrientes nos ecossistemas
Fatores que afetam a ciclagem dos nutrientes em florestas ...
Caracterizagdo dos ecossistemas.....
Ciclagem de nutrientes nos ecossistemas amazénicos..
Ciclagem de nutrientes em florestas inundadas da Amazénii
Ciclagem de nutrientes nos ecossistemas da Mata Atlintica..
Ciclagem de nutrientes nas Florestas Estacionais Semideciduais
Ciclagem de nutrientes em matas ciliares ....
ConsideragSes finais.
Referéncias........
CAPITULO Tessean
Relagdes Solo-Vegetacdo em Alguns Ambientes Brasileiros:
Eddicos ¢ Floristica
Introdugio.....
Algumas relagées solo-vegetagdo no territério brasileiro.
’ Florestas montanas sobre canga em carajas, sul da Amazénia..... 253
Florestas montanas no extremo oeste acriano, sudoeste
da Amazénia......... +n 262
Florestas de ipucas ¢ matas secas da planicie do Araguaia: ilhas
Hloresiais nos cerrados e campos inundaveis..
Ithas de florestas (capes de mata) na Serra do Cip6, Espinhago
Meridional, em Minas Gerais,
fra do Brig: : remanescente florestal
ang em meio ao mar de mores...
eect ee tenie reece Oe
‘CAPITULO 8...
Estrutura e Diversidade de Comunidades Florestais .....
Estudos sobre vegetagdo: importincia e abordagens
Em busca das variaveis..
Perguntas ¢ hipateses.
O desenhio amostral.....
Aandlise dos dados....
_ Discussdo dos resultados...
Sobre os métodos, suas limitagées, erros comuns € novas abordagens.
Area basal: vantagens, limitagdes e erros comuns:
Densidade: armadilhas do critério de inclusio...
Problema das comparagées pela média de tamanhe dos
individuos...
Distribuigdio dos individuos entre classes de tamanho ..
Estratificagao vertical du comunidade......
Cobertura de copas.....
Indices de agregagio.
Arvores moras...
Curva de espécies acumuladas
Raridade..,,
Indices ¢ escalas de diversidade
Diversidade funcional
indices de similaridade...
A classificagio em gmupos ecolégicos
Dindmica de comunidades vegetais....
Componentes nao arbéreos das comunidades vegetais
Diagnéstico ¢ perspectivas....
Agradecimentos
Referencias...
Carita 9...
Padrées Espaciais de Espécies Arbéreas Tropi
Introdugao...
Definig¢lo ¢ modelos de padrao espacial ...
Causas do padrao espacial
Padrio espacial em formagées florestai:
Padrio espacial em plantas jovens .....
Padrao espacial em plantas adultas.
Andlise do padrio espacial...
Indices de detecp30 do padrao espacial para amostras
em parcelas......
Indices baseados na raz3o entre a variancia ¢ a média
Indice de dispersiio de morisita .......
Analise do padrao espacial através de medidas de distincias...
Cocticiente de agregarao de Hopkin
Indice de padrao espacial T*.
Método do vizinho mais proximo..
Fungo K de Ripley
Fungo K univariada ....
Aplicagées da Fungo K de
Consideragdes final,
ipley na ecologia florestal
iaasssseesttaesvas 359,
sinsssasensiae SS.
dS
CAPITULO 10 .escssceeseon
| speeches ArbGreas Raras se-sosscaccesssseessssensecvsne
trodugo....
me ST
359
Os conccitos de espécie rara ¢ espécie endémica
A flora ameagada de extingao .......
Lista de espécies ameagadas de extingio «...,
Anilise comparativa.,
Consideragées final 367
368
Agradecimentos ....
Referéncias.....
Capitulo 1
Sucessdao Ecologica:
Fundamentos e Aplicagées na
Restauracdo de Ecossistemas
Florestais
Sebastido Vendneio Martins
Ricardo Ribeiro Rodrigues
Sergius Gandulfi
Leandro Calegari
Os Primeiros Estudos e Teorias sobre
Sucessao Ecolégica
Embora 0 termo sucessdo tenha sido proposto por Henry D.
Thoreau, por volta de | 860, relacionando mudan¢as numa comunidade
arbérea (MCINTOSH, 1999), o primeiro estudo detalhando uma sere
sucessional completa foi publicado em 1899 e abordava a sucessdo ve-
getal em dunas ao redor do lago Michigan, Estados Unides (COWLES,
1899). Baseando-se nesse estudo pioneiro, fi em 1901, Henry ©.
Cowles considerou que, apesar de bastante previsivel, com uma flo-
resta mes6fila compondo “o tipo climax de vegetacdo de planicie de
inundagao, esse climax poderia ser temporario, uma vez que o regime
de inundagao do rio ¢ os processos crosivos poderiam destruir a floresta
formada”. Assim, relatou que a sucessio nem sempre seria wm pro-
cesso unidirecional, podendo apresentar grande variabilidade em seus
estigios ¢ até retroceder, sendo influenciada por fatores fisiograficos
(COWLES, 1901).
Martins, Redbigues. Gansdialfi e Cafegari
Ainda no inigio da década de 1910, Cooper (1913) caract rizou
o climax florestal na Isla Royale, Estados Unidos, como 0 estagio final
da sucesso em que a floresta como um todo d estavel, embora deter-
minada area esteja mudande continuamente em composi¢’o ¢ propor-
cdes relativas as varias especies. Essa foi, portanto, uma das primeiras
manifestagdes, ainda que indireta, sobre 0 mosaico de unidades ou fases
gueessionais com que € composta uma comunidade florestal, posterior-
mente detalhada por Watt (1947).
Essas consideragdes de Cowles (1899, 1901) ¢ de Cooper
(1913) sobre sucesso vegetal foram ofuscadas pela teoria holistica da
sucessdo, ou teoria clementsiana, propesta por Clements (1916), em
que o desenvolvimento da comunidade vegetal, vista como um organis-
mo, seria previsivel, unidirecional e progressivo, convergindo para um
estado de climax, considerado complexe ¢ tinico, inseparavelmente co-
nectado ao seu clima (climax climatico), sendo a unidade principal da
vepetagao em equilibria com o ambiente (CLEMENTS, 1916, 1936).
Apesar de a teoria cldssica de Clements ter sido dominante até
© final da década de 1960 ¢ inicio dos anos de 1970 (COOK, 1996;
FIEDLER et al., 1997), nesse periodo outras teorias foram propostas
para explicar a sucessao, ndo tendo ganhado, contudo, a mesma atengdo
¢ importincia na comunidade cientifica.
Ao propor o conceito individualista de associagle de plantas,
Gleason (1917, 1926) questionow a visio holistica de Clements, da comu-
nidade climax como um superorganismo autorregulavel, ao considerar
que o desenvolvimento e a manutengao de uma comunidade vegetal re-
sultam das respostas individuais das espécies de plantas que a compGem.
‘Como alternativa do climax regional tmico, ou monoclimax,
sensia Clements, Tansley (1935) sugeriu que outros climax poderiam
ser determinados por outros fatores nao climaticos, como certos tipos
de solo, pastejo animal e fogo. ‘Surge, portanto, pela primeira vez, a
ideia de policlimax, Seguindo essa linha, Whitaker (1953) considerou
© monoelimax insustentivel, propondo que a vegetac&o climax seria
um padrao de populagSes definidas por gradientes ambientais, variando
de acordo com a diversidade de ambientes,
modelo de sucessio do potencial floristico inici:
e i ) inicial (EGLE!
Say Geslaca o papel da vegetacio local, como bance de Sree
na restanragae
para colonizar determinada area quando surgem condigdes favoraveis.
Esse modelo também estaria diseordando da teoria classica de sucesso,
uma vez que diferentes composigées floristicas iniciais podem resultar
de variagées no banco de sementes, na composicao da wegetacdo de
entorno ¢ nos padrées climaticos anuais, podendo conduzir a sucesso
a miltiplos pontos finais ¢ 4 falta de um estagio estavel (COOK, 1996).
Corroborando a teoria clissica de Clements e desprezando os
seus pontos criticos, Odun (1969) definiu a sucesso com base em trés
pardmetros: (1) processo ordenado de desenvolvimento da comunidade
razoavelmente direcional e previsivel; (2) resultante da modificagaa do
ambiente pela comunidade (a reagdo sensu Clements); ¢ (3) culminando
em um ecossistema estabilizado.
Implicagdes do Paradigma Classico na
Conservagao e Restauracao de
Ecossistemas Florestais
Dominante no meio cientifice até a década de 1960 ¢ ainda com
Brande expressiio até os anos de 1980 e meados da decada de 1990,
© paradigma clissico da ecologia, ou paradigma do equilibrio, funda-
mentado na teoria classica da sucessio (CLEMENTS, 1916, 1936),
teve grande influéncia na defini¢ao de estratégias cientificas e politicas
de conservarao, classificagiio e restauragdo de ecossistemas naturais
(PICKETT et al., 1992; PICKETT; OSTFELD, 1994: COOK, 1996).
Por considerar os sistemas naturais como unidades fechadas
¢ aulorregulaveis € praticamente exeluir a influéncia de disnirbios na-
turais © antrépicos na organizaco e manutengao da diversidade e es-
tutura das comunidades, o paradigma clissico gerou um consenso de
que © simples isolamento de ecossistemas de fatores de perturbagio
possibilitaria sua permanente conservagdo, uma vez que este natural-
mente caminhava para um climax climatico estével. Como distirbtos
© vegetacio do entorng s8o essenciais ma organizacao estrutural ¢ na
dinamica das poptilages de plantas ¢ animais de um ecossistema, int-
meros exemplos evidenciam como esse Pparadigma fracassou neste
Gandelfi e Calegart
a Martins, Rodrig
propdsito de conservagdo de reservas florestais (PICKETT et al., 1992;
PICKETT; OSTFELD, 1994).
O paradigma clissico da ecologia ambem a base do sistema
de classificacao de tips de s florestais (HTCS — Type Classification
System’), amplamente utilizado no oeste dos Estados Unidos, que segue
trés premissas basicas da teoria classica de sucesso de Clements: a)
o climax potencial é o mesmo em todos os locais que tém ambien-
tes semelhantes numa regido; (2) o estagio climax da sucessio reflete
maior produtividade inerente de um sitio que outro estigio, (3) apds
um distirbio, o sub-bosque se estabiliza mais rapido c independente do
dossel (COOK, 1996), Esse sistema de elassificagdo tem sido criticado
por trés razSes: (1) a maioria dos sitios nunea ird suportar um estagio
climax, como definido por Clements; (2) distirbios, historico de uso do
solo © eventos estocdsticos podem levar a miltiplos caminhos suces-
sionais em um nico tipo de local; e (3) o dossel exerce significante
efeito sobre o sub-bosque (COOK, 1996).
No campo da restauragio de ecossistemas florestais, os projetos
pionciros, baseades no paradigma classico, consideravam as florestas
‘em estadio mais avancado de sucessGo ¢ em melhor estado de preser-
vacdo como modelo na busca de reproduzir uma vegetacdo climax em
equilibrio estavel com o ambiente ¢ autossustentivel. Essa estratégia de
restauracio baseava-se no fate de que, de acordo com a teoria classica
da sucessio, apds os raros distirbios, os ecossistemas se recuperariam
€ a sucessao sempre levaria a um previsivel ponto final, que frequen-
lemente era assumido como o estado mais desejavel do ecossistema
(PICKETT; OSFELD, 1994).
Os estudos floristicos ¢ fitossociologicos eram realizados prin-
cipalmente nos remanescentes de floresias maduras, ¢ as informagdes
sobre composi¢Ho floristica ¢ densidade das espécies cram utilizadas
para definir as espécies a serem plantadas ¢ o niimero de individuos de
cada uma (RODRIGUES; GANDOLFI, 2004), Portanto, a restauragiio
florestal era utilizada no sentido restrito, ou seja, o retorno do ecossiste-
ma a seu estado original antes da degradagdo (ENGEL; PARROTA,
2003; RODRIGUES; GANDOLFI, 2004).
Dentro dessa filosofia de restauragdo, dois aspectos devem ser
considerados ao s¢ analisarem os motivos que levaram varios projetos
heagdcs ne rettareriagde... 25
a no atingir seus objctivas: o primeiro é que a restauragdo no sentido
restrito raramente € possivel, pois comumente as condigdes ambientals
apds a degradagao nao permitem mais a rctomo para uma condigao
idéntica a original (RODRIGUES; GANDOLFI, 2004); 0 segundo as-
pecto é que determinada area a ser restaurada era considerada uma uni-
dade relativamente isolada de fatores externos. Dessa forma, descon-
sideravam-se os efeitos da vegetago ou tipo de uso do solo em seu
entorno. Como a restauragao florestal basicamente cria ilhas de vegeta-
Gao em paisagens altamente antropizadas e estas tendem a sofrer efeitos
de borda semelhantes 4queles amplamente descritos para fragmenios
florestais remanescentes, ocorreram, em muitos casos, alta mortalidade:
de mudas e invasdo de espécies herbaceas ¢ lianas agressivas. Dois ni-
mos foram observadas nesses projetos pioneiras de restauragdo: o sim-
ples abandono ¢ o retomno a degradacao ou a manutengao da vegetapio:
plantada, com alto custo financeiro, representado pela constante neces-
sidade de replantios de mudas, combate a pragas ¢ climinagao periddica
de plantas competidoras.
A Evolugao das Teorias Sucessionais e a
Mudanga de Paradigmas
A intensificagao de estudos sobre sucessdo em diversos ecos-
sistemas, submetidos aos mais variados tipos de perturba¢o natural €
antrépica e sob influéncia de diferentes fatores abidticos, resultou, a
partir de meados da década de 1970, na elaboragdio de teorias alterna-
tivas do paradigma clissico da sucessiio (COOK, 1996; FIEDLER et
al. 1997).
A tendéncia de abandono da teoria classica da sucessdo ¢
a necessidade de um modelo contemporaneo foram destacadas por
Pickett (1976), que intreduziu uma interpretagio evolucionaria da
gucessio, segundo a qual, através de presses seletivas, a adaptaclo
de uma espécie a uma posic¢So particular na sucessdo resultaria da sia
evolugdo em gradientes ambien’ Também enfatizou a influéncia
de distiirbios ¢ da predagilo no arranjo do mosaico de wnidades suces-
sionais qué formam uma paisagem. Dessa forma, regimes de distarbios
ner restaurnncda
Siwrensde vcr
Martins, Rodrigues,
canismos pelos quais clas abrem espago ¢ persistem no ambiente, ¢
! o fato de que os diferentes modelos podem atuar simultaneamenie ou
| consccutivamente (PICKETT et al., 1987).
O ciclo de vida do bambuzoide Merostachis riedelina L. numa
Floresta Estacional Semidecidual no Sudeste do Brasil € um exemplo de
que nem sempre um Unico modelo de sucessio sensu Connell ¢ Siatyer
comeyam a ser considerados fatores essenciais para a manutengio de
regeneragao interna € minimizasio da extingao de especies cm rese as.
naturais (PICKETT; THOMPSON, 1978).
Jternativos de sucessio — facilitago, tolerancia
por Connell ¢ Slatyer (1977). A diferenga
los refere-se ao papel ccolégico das espé- -
Trés modelos a!
e inibicdo — foram propostos:
fundamental entre esses mode!
cies pioneiras no decorrer da sucessio. Na facilitagdo, elas melhorariam
as condicdes ecoldgicas da area perturbada, favorecenda o estabeleci-
mento de espécies tardias. Na inibigdo, elas monopolizariam os recur-
sos, reduzindo o avango da sucessao ¢, na tolerancia, praticamente nio
interfeririam no recrutamento ¢ crescimento das espécies de estadios
mais avancados da sucessio.
O modelo de inibigao desvia-se, portanto, da teoria clemen-
isiana, uma vez que a sucessdo pode ser freada ou seguir qualquer
direpao (COOK, 1996). Esse tem sido o modelo mais comumente
evidenciado, principalmente em situagdes de forte degradagio an-
tropica. Gramineas agressivas ttm sido relatadas como inibidoras da
regeneragiio de espécies arbdreas em areas degradadas (MARTINS;
RIBEIRO, 2002; DAVIS et al., 2005). Em pastagens degradadas
¢ abandonadas na Amazonia central, a sucessio florestal pode ser
inibida pela regeneragao agressiva de espécies do género Vismia
(MESQUITA et al., 2001). Contudo, esta inibigio ¢ temporal, ou
seja, em grandes 4reas aberlas, como campos agricolas abandona-
das, a domindncia de Vismia tende a persistir nos primeiros 10 a 20
anos, quando a redugSo de sua densidade no sub-bosque sombreado
favorece a entrada de novas espécies tolerantes 4 sombra (UHL,
1987; ARAUWJO et al, 2005).
A inibigdo ou retardamento da sucessdo, desviando, portanto,
do climax da teoria classica, foi mostrada numa rea de transicao de
floresta ¢ pradaria em Wisconsin, Estados Unidos, onde nenhuma es-
pécie arbérea conseguiu produzir uma eomunidade climax, devido 4
alteragdo no regime de distirbios com a redug’io na ocorréncia de fogo,
favorecendo a regeneragdo de espécies arbustivas tolerantes 4 sombra ¢
a invasao de especies exdticas (McCUNE, COTTAN, 1985).
Algumas limitagdes dos modelos de Connell ¢ Slatyer (1977)
sho a enfoque na entrada de espécies na sucessdo, sem explorar os me-
(1977) pode explicar o papel ecoldgico de uma espécie. Quando vivo,
M. riedeliana forma grandes touceiras, que ocupam grandes espagos nt
solo ¢ dossel da floresta, inibindo a regeneracdo de espécics arboreas
durante um periodo de trés décadas. Contudo, apés a frutificagao segui-
dade morte, as touceiras deixam espagos abertos no dossel, alterando
os niveis de luz ¢ facilitando a colonizagZo ndo apenas por espécies
ploneiras, mas também por espécies tardias (MARTINS et al., 2004).
A teoria sucessional, denominada hipd
, ipotese da proporcao de re-
cursos (TILMAN, 1985), considera a tragetéria da sucesso dirigida
pela disponibilidade de dois recursos limitantes, a luz e os recursos do
solo (nutrientes, umidade etc.) ¢ a habilidade das espécies em competir
Male ae De acordo com essa teoria, uma vegetacao estavel
Ser atingida somente se as taxas de suprii
equilibradas em niveis fixos. Ce ee aaa
: Pickett et al. (1987) propuseram uma teo i
quia de causas € mecanismos de sucessdo, Son ate Sana
universais para a ocorréncia da sucesso so: (1) dis iti:
a da su y ponibilidad
abertos, determinada por distirbios; (2) disponibilidade de ele
rencialmente adaptadas aos sitios abertos, definida par processos de di i
Ee oe dindmica do estoque de propagulos; ¢ (3) perfomance “ite
en es aes ho sitio, resultante da disponibilidade de ane
‘ogia das especies, competicio, alelopatia, predapio ¢ herbivoria,
ae eaecpesan suas particularidades, todos esses modelos ¢
eee ie modcmos apresentam pontos que discordam da
eee eae a mae = oe principalmente da sua previsil
ates CO Unico, © que resultou ni i -
Sma Ge paradigma do nao Saul ASE
TT etal., 1992; PICKETT; OSTFELD, 1994). ai
Nesse contexto, as teori
i , 45 teorias modernas
paradigma contemporanco estab que formam a base do —
oa estabelecem um conjunto de consideragaies
ithe Calegari
28 e
relacionadas 4 sucesso e conservag4o de ccossistemas naturais (PICK-
ETT etal., 1992; PICKETT; OSTFELD, 1994; FIEDLER et al., 1997;
WU; LOUCKS, 1995; MILLER Jr., 1997; TSCH et al., 2002;
GANDOLFI et al., 2007):
(1) Os sistemas so considerados abertos ¢, portanto, estiio su-
Jeitos a entradas de luz, nutrientes ¢ poluigdo ¢ 4 migragdo de gendtipos
ede espécies,
(2) A sucessio raramente ¢ deterministica, mas predominante-
mente estocdstica, podendo seguir multiplas trajetérias, afetadas por
eventos historicos, oferta de sementes e propigulos, herbivoria, preda-
gio ¢ doencas.
(3) Muitos sistemas naturais ndo atingem um estado estavel ou
um climax tnico sensu Clements ¢, assim, em muitos estudos 0 terma
comunidade climax tem sido substitido por comunidade relativamente
estavel ou madura,
(3) Distirbios sido frequentes e comuns em ecossistemas, alte-
rando sua composi¢So de espécies, interagdes entre especies ¢ disponi-
bilidade de recursos, Portanto, a estabilidade de um ecossistema, vista
como equilibrio dindmico, ¢ influenciada pelo regime de distirbios ao
qual tem sido submetido e adaptado.
(4) Paisagens sio mosaicos dinfmicos de unidades ou manchas
definidas por estadios de sucessdo ¢ variagdes ambientais, Dessa forma,
uma paisagem pode esiar em equilibrio em termos de sua composigio
como um todo, ainda que as suas unidades estejam em variados estadios
sucessionais ¢ essas unidades mudem com o tempo,
(5) E reconheeida a influéncia antrépica nos ecossistemas, tan-
to como fonte de perturbagdo e degradagdo quanto agente de mancjo,
visando a sua conservacSo ¢ restauragio.
O Paradigma Contemporaneo e sua Aplicacdo
na Restauragao Ecoldgica
A evolugio da restaurago ecoldgica como citncia foi influ-
ericiada pela evolugdo da teoria sucessional ¢ pela mudanga de para-
apfinac ies ma rentasnrslgcit 29
ha ecoligicn’ Fis
© fica evidente no conjunto de atributas
a rel
recomendados para se considerar um ecossistema restaurado (SER,
digmas ccalégicos. E
2004), que basicamente enfaliza a recupera¢do da integridade, da resil-
iéncia ¢ da sustentabilidade do ecossistema ¢ a sua integragdo dentro de
uma matriz ecoldgica, ou paisagem, com a qual cle interage através de
fluxos bidticos ¢ abidticos. Percebem-se, embutidos nesses atributos da
restauragdo ecolégica, conceitos como fluxo da natureza, abertura dos
sistemas naturais ¢ uma abordagem de paisagem tipicos do paradigma
contempeoraneo, Além do mais, ndo é exigida o retomo do ecossistema
ao seu estado original ¢ tampouco é definido um estado climax a ser
atingido,
A contextualizapao da restauragao ecologica da paisagem vem
sendo adotada em virios paises (EHRENFELD, 2000; RADELOFF
etal. 2000; FUHLENDORF et al., 2001, JACQUEMYN et al., 2003:
DAVIS; SLOBODKIN, 2004; BORGMANN; RODEWALD, 2005,
MOFFATT et al., 2005, BRITO et al., 2007; BUSATO er al., 2007).
Por meio dessa escala de abordagem, os objetivos da restauracdo po-
dem ser mais facilmente atingidos, uma vez que é considerado um con-
junto de fatores que podem auxiliar essa restauragao, como heterogenc-
idade ambicntal, tipo e estado de conservacao de fragmentos florestais
remanescentes, alternativas de conexdo desses fragmentos, potencial de
autorrecuperagdo das dreas degradadas na paisagem c defini¢do de ativ=
idades antropicas menos impactantes no entomno dessas dreas. Assim,
torna-se possivel maior interface entre a restauragdo ecolégica e a con-
servagio (URBANSKA, 2000). No Brasil, experiéncias nesse sentido:
tém sido conduzidas principalmente sobre a adequagdo ambiental de
propriedades agricolas (NAVE, 2005; BRITO et al., 2007; BUSATO
et al., 2007).
A partir da flexibilizacdo da restauragao, niio utilizada em seu
sentido restrito, ¢ do reconhecimento da importéncia de fatores como
distirbios, vizinhanga (vegetago do entomo), potencial floristico ini-
cial, resiliéncia e diversidade na sucessio vegetal e na restauragho de
ecossistemas degradados, um série de metodologias de restauragdo vem
sendo desenvolvida, destacando-se a utilizacio do banco de sementes
do solo para iniciar o proceso de regeneragio florestal (GISLER, 1995,
COHEN ct al., 2004; NAVE, 2005; MARTINS, 2007, 2009a, MAR-
TINS ct al., 2007), o resgate ¢ o transplante de plintulas de espécies
Rusiygwes, Gam
30
2007; MARTINS,
arboreas (VIANI et al., 2007, BRITO; MARTINS. I
2007), a sani direta de espécies arb: E ;PA RRO TA,
2001; PAUSAS et al., 2004, STEVENSO. MALE, 2005), a implan-
tacdo de florestas catalisadoras de regeneragao natural (PARROTA et
al, 1997) ¢ a deposi¢ao de gathada oriunda de poda de Grvores ou des-
matamento.
Essas metodologias apresentam cm comum o enfoque na res-
tauracio da diversidade vegetal, fungdes ¢ processos ecoldgicos dos
ecossistemas sem a preocupagdo com o climax final a ser alcangado. A
selecao da metodologia de restaurag%a mais adequada depende, entre
outros fatores, do tipo ¢ da intensidade de degradagdo a que determi-
nado ecossistema foi submetide (Figura 1.1).
Figura 1.1 - Metodologias de restauragio de ecossistemas florestais em
fungao do tipo de degrada¢4o ambiental.
‘(Outra tendéncia que também pode ser associada a0 paradigma
eontemporineo é o reconhecimento da importancia € da necessidade de
* * Emendas ‘como beguminosas fixadoras de mitogenic aquelas expteies da farnilia fabaceae con
Capacidade de fnarnirogeoie da stmosTera através de nscociagto simbiéticn som rlzobsetéras.
culturais,
considerar, além dos aspectes técnicos, 08 aspectos SOCt
estdticos ¢ politicos da restauragdo ecoldgica (NAVE, 2005). Em areas
densamente povoadas, o sucesso da restauragdo depende do apoio pii-
blico para evitar conflites, que pode ser conseguido por meio da res-
tauragdo ge miltiplos propésitos, incluindo a definigdo de areas de re-
ereagio (van DIGGELEN et al., 2001). Par sua vez. o conhecimento
ctnobotanica de povos tradicionais pode ser utilizado na indicagio de
espécies ¢ modelos de restauracdo florestal, ao mesmo tempo que tais
populagdes podem ser diretamente beneficiadas pela restauracao.
O Papel das Clareiras na Sucessdo e na
Restauragao Florestal
Nas florestas naturais onde distirbios de Srande escala sio
Faros, pequenos disturbios representados pela abertura de clareiras
no dossel criadas pela morte c, ou, queda de uma ou poucas drvores,
exercem um papel-chave no controle da dindmica da comunidade
(LERTZMAN et al., 1996; KNEESHAW: BERGERON, 1998: MAR-
TINS, RODRIGUES, 2002, 2005; BUSING, 2005: HILL et al 2005;
MARTINS et al., 2004, 2008: LIMA; MOURA, 2008), Distirbios a
dossel florestal atuam como uma forga que pode atrasar o processo
de exclusdo competitiva por reduzir a dominancia e assim manter ou
mesmo aumentar a diversidade de espécies das florestas (VANDER-
es etal, 1996, OKUDA et al, 1997; WIEGAND et al. 1998).
istirbios esporadicos podem dar um nove impulso 4 dinamica dos
cossistemas florestais, conservando especies que tenderiam 3 desapa-
peer naturalmente (CHARLES-DOMINIQUE etal., 1998). Se; a
Santee msde das 320 espécies arbéreas da floresta da Es.
ica de La Selva, na Costa Rica, hecessita de clareiras
Se Tepenerar, 0 i anci istirbi is
a ae ges lest 4 Importincia desses distirbios na dindmica
0 ta '
ates sie ou-a drea da clareira é normalmente relacio-
Srapbes nos niveis ¢ na qualidade ena
espectral da luz e nas
condi¢des microclimaticas em Seu interior (BARTON et al, 1989;
1, 1989,
FETCHER ct al., 1994; DENSLOW et al., 2001; ZHU et al, 2003),
i
a
sendo considerada uma caractetistica muito importante para o pro-
-ecsso de colonizagiio das dreas de distarbio (DENSLOW, 1980, 1987,
MARTINS; RODRIGUES, 2002, 2005; MARTINS et al., 2004,
2008). Assim, alguns autores relataram que as especies arbdreas te-
riam, em virtude de diferengas no grau de tolerancia 4 sombra, a distri-
buigio relacionada a determinado tamanho de clareiras (DENSLOW,
1980), ou a zonas especificas no seu interior (HARTSHORN, 1980,
1989), teoria que vem sendo fortemente debatida por autores que
apontam evidéncias de que as espécies apresentam ampla sobreposi¢do
de distribuigdo ao longo do gradiente formado desde o sub-bosque até
clareiras de diferentes tamanhos, compondo guildas de espécies gene-
ralistas (HUBBEL; FOSTER, 1986, LIEBERMAN et al., 1995), Além
disso, a colonizag’io de uma clareira pode ser muito influenciada pela
‘vepelagio antiga, antes da sua formacdo (BROKAW; BUSING, 2000;
MARTINS; RODRIGUES, 2002), 0 que é particularmente evidente no
caso de clareiras pequenas.
Clareiras naturais pequenas com poucos metros quadrados de
area resultam normalmente da queda de uma tinica drvore, de parte da
copa ou do tronco de uma drvore morta, ao passa que clarciras maio-
res resultam da queda de varias arvores, podenda, em casos extremos,
como em grandes deslizamentos de terra, tempestades e furactes,
atingir grandes extensdes (HARTSHORN, 1980; WHITMORE, 1989;
CLARK, 1990; HIDEYUKI, 2000),
Diferentes grupos de espécies, também denominados grupos
ecoldgicos, ttm sido estudados na tenlativa de explicar as respostas
ecoldgicas diferenciais das espécies 4s aberturas de clarciras ¢ suas
caracteristicas fisicas ¢ estruturais. Num extremo desses grupos, sfc
alocadas as espécies pioneiras que teoricamente iniciam a colonizacao
de clarciras, principalmente das maiores clareiras, ¢, no outro extremo,
as especies tolerantes ao sombreamento do dossel, que silo tipicas dos
estddios tardios da sucessio (HARTSHORN, 1980; DENSLOW, 1980;
1987; CLARK; 1987; WHITMORE, 1989).
Algumas classificagSes apresentam maior detalhamento, su-
gerindo subdivisdes na dicotomia pionciras ¢ climax. Nesse sentido,
Budowski (1965, 1970) agrupou as espécies em pioneiras, secundarias
iniciais, secundarias tardias, e climax, obedecendo a um gradiente de
pesnareswurosia. aD
jo evoldgita F
tolerincia ao sombrearmento do dossel nas florestas tropicals. As ¢s-
pécies pionciras e secunddrias iniciais ndo toleram sombreamento ¢
possuem baixa longevidade. sendo encontradas em clareirus naturals,
margens de trios ¢ em clareiras antrépicas; as secundarias tardias to-
leram o sombreamento apenas na fase jovem; ¢ as climax sdo tolerantes
4 sombra em todas as fases do ciclo de vida. Essa classificagio con-
siderou, além das caracterislicas de cada espécie, seu comportamento
na comunidade, Assim, uma mesma espécie pode apresentar respostas
ecolégicas distintas em diferentes comunidades.
Trés grupos de espécies que regeneram clareiras foram propos-
tos por Denslow (1980): especialistas de clareiras grandes, especialistas
de clareiras pequenas ¢ especialistas de sub-bosque ou tolerantes. As
especies especialistas de clarciras grandes necessitam de alta tempera-
tura e luminosidade para a germinagao ¢ a5 plantulas sao intolerantes
4 sombra. As especialistas de clareiras pequenas germinam na sombra,
formando bancos de plintulas que necessitam de clareiras para crescer
até o dossel. As especialistas de sub-bosque nado necessitam de clareiras
para germinar nem para atingir a maturidade reprodutiva.
Swaine e Whitmore (1988) ¢ Whitmore (1989, 1991) sugeriram
uma simplificagao das classificagdes, considerande apenas dois grupos:
pioneiras e climax, As sementes das espécies pioneiras germinam so-
mente em clareiras nas quais ha incidéncia de luz direta sobre o solo
pelo menos parte do dia, e as plintulas no sobrevivem na sombra do
sub-bosque. As sementes das espécies climax podem germinar na som-
bra sob o dossel ¢ as plantulas conseguem sobreviver nesse ambiente
por varios anos.
Considerando essas classifica¢des, pode-se esperar que a colo-
niza¢io inicial de clareiras naturais se dé, principalmente, por espe-
cies pionciras intolerantes 4 sombra. Contudo, estudos realizados em
florestas brasileiras tém mostrado que a sucessfo secundaria cldssica,
na qual espécies pioneiras tipicas colonizam determinada drea e com o
tempo s4o substituldas por espécies tardias, ocorre apenas nas grandes _
clarciras naturais ow antrépicus, sendo clareiras pequenas mais fre-
quentes e ocupadas por especies tolerantes 4 sombra (MARTINS; RO-
DRIGUES, 2002, 2005; MARTINS et al., 2004, 2008; TABARELLI,
MANTOVANI, 1997a, b).
“34. Martins, Rodrigues, Gandalf ¢ Colegari
Segundo Gandolfi (1991), estudos tém apontado maior hetero-
geneidade no comportamento das espécies, favorecendo a impressdo de
que a separagdo em classes sucessionais corresponde mais 4 necessi-
dade operacional de cada trabalho do que realidade de campo, De fato,
Swaine ¢ Whitmore (1988) ja haviam ressaltado que tais classificagdes
tém sempre enfocado as. caracteristicas médias, ignorando a variagdo ou
amplitude ecoldgica das espécies. Além disso, Lieberman ct al. (1989,
1995) © Green (1996) criticam a dicotomia da fioresta entre as fases
de clarcira e nao clareira, considerando que condi¢des extremas de luz
ou sombreamento sido raras, predominando condigdes intermedidrias de
juz, ou seja, um gradiente entre o centro da clareira, a borda e o interior
da floresta ¢, ou, um gradiente entre clareiras receém-abertas € manchas
de floresta madura (gradiente temporal).
A formacio de clareiras no dossel gera alteragdes ambientais
na floresta, ¢ a sua colonizago por espécies de diferentes categorias
ou grupos sucessionais deverd ser influenciada pelas respostas ecofi-
siolgicas das espécies da area, a essas alteragOes, na forma de banco
de plantulas ou de sementes dormentes no solo c, ou, de individuos
remanescentes, bem como das espécies migrantes pos-distirbio via
processos de dispersio da vegetagao circundante. © entendimento da
dinamica de clareiras em florestas tropicais € de extrema importancia na
restauragio florestal, no manejo sustentayel © na conservayao de rema-
nescentes Aorestais.
Na restauracio florestal, os conhecimentos ccolégicos sobre
dinamica de clareiras aplicam-se na selegao de espécies mais adequadas
para plantio em diferentes situagSes de perturbago ou de degradacao
ambiental. Espécies pioneiras na sucessao secundaria em grandes cla-
teiras, como Trema micrantha e Ceeropta, sto indicadas para plantio
em grandes arcas abertas sem vegetacdo arbustive-arbdrea e, ou, solo
exposto, Porém, espécies secundanias tardias ¢ climax, que so as alti-
ims a ocupar clareiras grandes ou que sobrevivem em pequenas cla-
- peiras e no sub-bosque sombreado, sio recomendadas para plantios de
enriquecimento de capociras, visando ao aumento da diversidade e a0
avango sucessional ncasas contunidades.
: Nas iltiinas décadas, diferentes mod. us de restauragdo flo-
restal tém sido proposios bascados na combinagio de espécies arbareas
Suvetsdo eeolegn riod ¢ olicagdes ra redtouragdo ... 35
de grupos sucessionais ou ecolégicos distintos, com variados arranjos ©
espagamentos de plantio no campo (KAGEYAMA: GANDARA, 2004;
JESUS; ROLIM, 2005; BARBOSA, 2004; NAVE; RODRIGUES,
2007; MARTINS, 2007, 2009a), Nesses modelos, a classificagao das
espécies em grupos ecalégicos fundamenta-se no conhecimento previo
da regeneragdo dessas espécies em diferentes nichos como clareiras
pequenas ou grandes, sub-bosque, bordas de fragmentos ete.
A Figura 1.2 apresenta um modelo de diferentes mecanisimas
de regeneracdo comumente observados em clareiras naturais ou antropi-
cas pequenas ¢ grandes. Entre os extremos de clareiras, menores que
100 m? © maiores que 400 m?, a participacao de nichos de regeneragao
entre espécies pioneiras ¢ tolerantes 4 sombra tende a nao ser muito evi-
dente. Cabe destacar que esse modelo de dicotomia, clareiras grandes e
ae com aparente previsibilidade da sucesso nessas duas situa-
gGes, poderia contextualizar o paradigma classico da sucesso. Con-
tudo, tal modelo aplica-se principalmente a remanescentes-florestais
bem preservados © com pouco efeito de borda, como grandes reservas
de Mata Atlantica e Floresta Amazdnica e, portanto, éxclui uma série
de outras situagdes, de perturbagso, degradagao ¢ de possibilidades de
ee tornando evidente o contexte do paradigma contemporineo.
‘ara exemplificar, no caso de fra i i
car, igmentos. isol i: j ;
nae saseieliewse por culturas agricolas a eee
orda tende a ser apravado ras pram
mesmo de clareiras Heouaiae ee ee ae ee me
das. Nessa condicfo, accu : poe ee
“i xe :
ou corte de uma ou eo is : ee et foes pela queca
ae lais arvores acaba criando @ oportunidade para uma
pica ocuparde por trepadeiras, bambuzoides e até f ati
Sickest ides ¢ até gramineas
» podendo resullar num modelo de imibigao da suc
Servada em floresta tropi ,
c : ical de Bi Ae
Promoveram 2 inibieto da Beer Sciiet Panam,
tus (SCHNITZER et al, ene le drvores nfo
reu0.© poston nets situagBes ambiental, com
Soigdo topogréfica, clareira peu nonce
inves, Gamo e Calegari
6 Marios,
ser ocupada por guildas de regencragio similar 4 de uma clareira grande
€ vice-versa. A topografia pode influenciar ndo apenas o regime de
ocorréncia de clareiras numa floresta (ALMQUIST et al., 2002) coma
também o processo de colonizag4o dessas clareiras, como verificado
por Lima ¢ Moura (2008) num trecho de Floresta Atlantica do Parque
Estadual Carlos Botelho em Sio Paulo, SP.
No Hemifério Sul, em regides de relevo acidentado, encostas
voltadas para o Norte recebem maior insolagio do que as voltadas para
© Sul (HUGGET, 1995), Assim, clarciras pequenas abertas em ver-
tentes, com exposi¢ae voltada para o Norte, podem reccber luz seme-
Thante @ clareira grande, localizada cm vertente, com exposigdo para o
Sul ¢, dessa forma, screm colonizadas por especies pioneiras tipicas de
clareiras maiores.
Penurbario natural
ou aninica
Careras pequeras
100
| Mecaniseen do regenmragso @ |
lectamento das ciarewas
GarminazSo de semonies de espacies
Pioneiras erbustivo-artdireea do bance
da sok
Fuipido crescemanta de individuos de
eSphces pomoiren linia
Fechoenanto lateral por areeres
lances de desael
Germinayio de semerten tebrcta
‘28 indieiduna daniicadis de
Moder tecundinas iardus @
Rurcrutamonto de oepboes tardiog rs
sombea das proneiens
‘Senescincia das pionsiras @ ocupag ie
por Becundaring taiclas @ climax da
ut bossun @ dé dossel
Citas da sub-bosque 6 de CoEt
Kresceneni Go bance te pines
(Be aiphcre See tordas @ ciznas de
tt bencue ede dona
Figura 1.2 - Mecanismos de regencragdo ¢ de cicatrizagao de clarciras
em fungiio do tamanho da abertura do dossel,
———
4 Frniamertos @ aplicagéher me
SINesnn
A exposicio do terreno influencia ndo apenas os niveis de luz,
mas também a temperatura, que, por sua vez, tem reflexos na umidade
da serapilheira ¢ do solo superficial, como verificado no Macigo da Ti-
juea, RJ, onde encostas volladas para o sul apresentaram maior reten-
go de umidade na serapilheira do que aquelas voltadas para o norte
(OLIVEIRA ct al., 1995).
Essas relagdes entre fatores fisiograficos ¢ as respostas das espé-
cies arbustivo-arbéreas de diferentes grupos ecolégicos ilustram quanto
a sucessdo florestal pode ser varidvel, tanto em termos de velocidade do
proccsso como de composi¢do fioristica e estrutura das comunidades
dos diferentes estadios.
O Banco de Sementes do Solo e seu Papel na
Sucess&o e na Restauragao Florestal
© processo de sucessdo florestal em dreas recém-desmatadas,
campos agricolas ¢ pastagens abandonadas, desencadeia-se pela germi-
nagdo de sementes recém-dispersas até o local, pelas sementes dormen-
tes no solo, cuja germinagio é estimulada pelas alteragSes na qualidade
¢ quantidade da luz espeetral e alteragdes de temperatura, e pela rebrola
de tecidos vegetais, como cepas ¢ raizes gemiferas, A contri buigao de
cada um desses mecanismos de regeneragdo na sucessio florestal &
vartivel ¢ influenciada pelo tipo de Vegetagdo remanescente 2, ou, do
entomo da firea aberta, ou seja, o tipo de matriz vegetacional, ¢ pela
intensidade da perturbagiio,
Em paisagens muito antropizadas, em que a matriz vegetacional
caracteriza-se por extensas culturas agricolas ou pastagens, a chuva de
sementes coniribui pouco para a sucessdo florestal, ji que no hd rema-
hescentes florestais ou mesmo drvores individuais, existe uma relagda
positiva entre chuva de sementes/regeneragdo florestul e distancia da
fonte de propigulos (RODRIGUES et al., 2004). Nessa condigdo, o
banco de sementes do solo ¢ a rebrota de cepas ¢ raizes gemiferas pas-
sam @ ser os principals mecanismos de regeneragdo, Contudo, quande
© solo foi degradado pela mincragio ou utilizado por longo tempo em
agricultura intensiva, com revolvimenta constante, compactarao ete.,
Aartins. Rodrigues, Gandolfi e Cafegaré
e_
esses mecanismos de regeneracao também podem ser comprometidos ¢
a resiliéncia perdida.
© banco de sementes do solo é constituido tante por sementes
produzidas em determinada drea quanto por aquelas transportadas de
outros locais, sendo vidveis em estado de dorméncia real ou imposta,
quando presentes na superficie ou no interior do solo. Esse sistema €
dinimico ¢ apresenta entradas € saidas, representadas por uma série
de fatores come dispersio, predag’o, germinacio, longevidade natural
¢ dorméncia (JACKSON, 1981; CHAMBERS; MACMAHON, 1994;
DALLING, 2002; HORVITZ, SCHEMSKE, 1994; MACK, 1998;
LEISHMAN et al., 2000; FORNARA; DALLING, 20052,b).
Determinadas espécies de plantas formam banco de semente
transitério, ¢ mantem sementes vidveis no solo por periodo inferior a
um ano, enquanto outras especies formam banco persistente, com se-
mentes vidveis ¢ dormentes por periode superior a um ano (THOMP-
SON; GRIME, 1979; SIMPSON et al., 1989). Espécies pionciras in-
tolerantes 4 sombra compéem o banco de sementes persistente, sendo
‘co principal grupo de plantas responsavel pela cicatrizagdo de grandes
Clareiras nas florestas tropicais.
Entre 03 modelos e as téenicas de restauragao florestal de dreas
depradadas, baseados no paradigma contemporaneo da sucessio, pode-
se destacar a transpasigado do banco de sementes do salo como um dos
mais viaveis. O.objetivo dessa técnica € 0 aproveitamento do potencial
de resiliéncia (autorregeneragao) das dreas a serem recuperadas e da
maxima quantidade ¢ diversidade de material vegetal (propagulos) dis-
ponivel em dreas cujo licenciamento ambiental para atividades de min-
eragao, represamento de cursos d’dgua etc., permite que a vegetacdo
seja suprimida (MARTINS et al., 2007).
Os elevados valores de densidade ¢ riqueza encontrades no
banco do sola na maioria dos levantamentos realizados em florestas
hrasileiras (ARAUJO et al., 2001; MONACO et al, 2003, COSTA;
ARAUJO, 2003; MARTINS ct al., 2008a) ¢ de outros paises tropi-
cais (HALL, SWAINE, 1980; PUTZ, 1983, PUTZ; APANNAH, 1987,
WILLIAMS-LINERA, 1993; DALLING et al., 1997, 1998; BUTLER;
CHAZDON, 1998; MILLER, 1999; FORMARA; DALLING, 2005a)
igo desse bance na restaurayao flo-
aplicarbes ma restavragde .. 39
Sreesrdo ecubtiica: Prmcdaeien
restal em dreas degradadas, contribuindo para o aumento da diversidade
e redugio dos custos de implantagdo ¢ manutengJo dos projetos de res-
tauraglo (ZHANG et al., 2001; NAVE, 2005; MARTINS, 2009 ab).
Essa técnica se bascia na coleta de amostras de solo superficial (cerca
de 5 cm de profundidade) ¢ sua deposicdo nas dreas degradadas.
Fica evidente que, quanto maior a quantidade de solo superfi-
cial coletado, maior a possibilidade de colonizagao da area degradada
por espécies arbustivo-arbéreas pionciras que iniciardo a sucessdo,
porque, além do banco de sementes, sero depositados na area degra-
dada nutrientes, associagdes micorrizicas, matéria organica etc. Mas
outros fatores deve ser considerados, como a época do ano em que se
fard a coleta, o estédio sucessional e 0 estado de conservacao da floresta
fonte, Contudo, esta técnica deve ser empregada apenas como forma de
aproveitamento da camada superficial do solo e do estoque de sementes
nela contida em areas em que o licenciamento ambiental autorizou a
Supressio da vegetagio com a respectiva degradacdo do solo. Nao se
cogita a transposigao do banco a partir de sua coleta em remanescen-
tes florestais protegidos pela legislacao ambiental vigente, pois, além
de ser uma pratica ilegal, também & ecologicamente incorreto, pois de
nada adianta degradar um ecossistema Para recuperar outro.
eae a da transposi¢ao do bance de sementes do solo como téc-
1 nucleacéo em areas degradadas, este componente dos ecossistc-
Pressio da vegetacdo, for;
és ‘ade i
Para canteiros em viv: APPS c Reserva Legal, e sua transposi¢do
¢ eiros florestais, D i
eee ‘i . Da material — i
emnesc age a ae rg canteiros Mm viveiros ¢ ae neat
cue Meee .® © Itigarao controlada,
TINS, 2007: MAR Para sacos plasticcs wu pra ae
densidade e diversidade de nj oo: Bessa forma, elevad veges
Ser obtidos em ince * de mudas de especies arbd; alae
‘alos quinzenais oy, mensais, dae pene oeee
5 inte per: le ate
um ano, para serem utilizados em projetos de restauragio florestal de
ireas degradadas.
A Rebrota de Espécies Arbustivo-Arboreas e
suas Implicagdes na Regeneracao Florestal
A rebrota de tecidos vegetais configura-se como uma resposta
fisiolégica das plantas a danos ou morte da parte aérea como resultado
de cortes, queima, ataques de pragas ¢ doengas ou distirbios fisioldgi-
cos, podende ocorrer por meio da regeneragao de cepas ou de rafzes
gemiferas, Sua importancia para a dindmica de populagdes ¢ comuni-
dades de plantas depende, segundo Paciorek et al. (2000), de trés fa-
tores: da taxa de dano fisico ou morte dos individuos; da taxa de rebrota
pelos individuos danificados; ¢ da subsequente capacidade de cresci-
mento ¢ reproducio desses individuos. Dessa forma, a habilidade de al-
gumas espécies em rebrotar pode favorecer a sua regeneragio avangada
a0 permanecer no sub-bosque, ao sabreviver ao dano durante a criagdo
de uma clareira e ao explorar a clareira resultante.
Esse mecanismo de regeneragdo € particularmente importante
em clareiras naturais pequenas, nas quais as alteragdes nos niveis ¢
na qualidade da luz que atinge a camada de serapilheira ¢ a superficie
do solo podem néo ser suficientes para estimular a germinagao de se-
mMentes de espécies pioneiras. Na regeneracao de clareiras pequenas, 0
Brande niimero de espécies e de individuos tolerantes & sombra, tipicos
da condigio de Sub-bosque que tém sido amostrados (TABARELLI;
MANTOVANI, 1997 a, b; MARTINS; RODRIGUES, 2002, 2005;
MARTINS et al., 2004, 2008b), pode ser explicado em parte pela capa-
cidade de rebrota desses individuos preestabelecidos (GREIG, 1993),
Nessas clareiras, o répido fechamento do dossel pode ocorrer também
atraves da rebrota de galhos das arvores do dossel circundante ou de
neves brotos produzidos pelas arvores que foram quebradas ou desen-
raizadas (PUTZ; BROKAW, 1989; NEGRELLE, 1995),
A participagao da rebrota na Tegeneracdo de florestas é par-
Hcularmente importante apés perturbagZo pelo fogo (KAUFFMAN,
1991; CASTELLANI; STUBBLEBINE, 1993; MARTINS etal., 2002;
ee
4
+ na vectonray da. i
se anlicas
ira Fit
: edo
RODRIGUES et al., 2004 ab), As allas temperaturas na Paulie 23
te um incéndio podem reduzir drasticamente a densidage a
do solo, ¢, por isso, 4 rebrota pode ser a princi a
io. Os individuos que rebrotam apos
9 fogo usam diferentes estratégias, sendo as mais comuns a re
base do tronco queimado, muitas vezes ainda Vivo, € a rebrota ae
de raizes enterradas ¢ paralelas ao solo, que langam brotos em di ets
tes distdncias do individuo remanescente, chamadas de raizes gemiferas
(MARTINS et al., 2002; RODRIGUES et al,, 2004ab;).
Em fregmentos florestais submetidos ao fogo com frequéncia, a
rebrota pode configurar-se coma a principal forma de regenera¢io apds
este tipo de perturbagao, com implicagdes na diversidade e organizagao
estrutural dessas comunidades. Em Campinas, SP, 2 rebrota a partir da
base do caule ¢ de raizes gemiferas foi a principal estratégia de reocupa-
40 do ambiente pelas espécies arbustivo-arboreas nas fases iniciais da
regeneracdo pés-fogo em fragmento de floresta estacional semidecidual
(RODRIGUES et al., 2004b), Padriio semelhante de regeneracdo foi en-
contrado em remanescente desse mesmo tipo de formacSo florestal em
Vigosa, MG: aos seis meses apds a ocorréncia de um incéndio, todas as
espécies arbéreas amostradas apresentavam regeneragdo exclusiva por
rebrota de cepas e raizes (MARTINS; RIBEIRO, 2002).
solo du
banco de sement
forma de recuperagdo da vegetag
Consideracées Finais
A evolugao da teoria sucessional, com o abandono do para-
digma clissico e o surgimento do paradigma contempordnes, teve sen-
siveis implicagées na ecalogia modema e, por consequéncia, nos proje-
tos de restauragdo ecoldgica de ecosistemas degradados.
© reducionismo que caracterizava os primeiros estudos sobre
sucessdo ccoldgica, no quais este processo era considerado previsivel ¢
que culminava sempre para um climax Unico, cedeu lugar a uma Visdo
holistica nos estudos mais recentes em que se passou a aceitar inter-
feréncias externas nos ecossistemas, Como a contribuicio de clareiras
naturais © antrépicas. Nesta nova abordagem da ecologia vegetal, os
ecossistemas passaram a ser entendidos como sistemas abertos sujeitos
Bch
a variados tipos de distirbios, ¢ a sucessio apds tais distirbios passou
a ser influenciada por uma série de fatores ambientais, histéricos ¢ an=
tropicos, podendo seguir variados caminhos, Evy
€ um processo pouco previsivel.
No campo da restaurago fi
abordagem da sucessio, que aspectos ©
na recuperagio de areas degradadas ‘tradici i
importancia, wma vez que a preocupaciio ¢ com a sustentabl
diversidade dos ecossistemas restaurados.
Entre as estratégias de nucleagJo pa!
gradadas, baseadas no paradigma. contemporinee da sucessiio, cabe
destacar a transposig¢’a da serapilheira, do banco de sementes ¢ de
galhadas, o manejo da regenera¢So natural, o resgate de plintulas ¢ a
semeadura direta com alta diversidade. Essas estratégias empregadas
jsoladamente ou em conjunto, envolyendo muitas possibilidades de
combinacao de espécies nativas e de diferentes formas de vida, visam.
resgatar a integridade dos ecossistemas € garantir sua sustentabilidade
ao longo do tempo.
a muilas Siluagdes, C3
lorestal, perecbe-se, nessa nova
coldgicos pouco valorizades
onal tormam-se de extrema
lidade ¢
ra restauracdo de areas de-
Agradecimentos
Ao CNPq pelas bolsas de produtividade em pesquisa de S.V
Martins e R.R. Rodrigues.
Referéncias
ALMQUIST, BE; JACK, S.B., MESSINA, M.G. Variation of the ueefall gap regime
ina bottomland hardwood forest: relationships with microtopography. Forest Ecology
and Management, v,157, p.155-163. 2002
ARAUJO, M ML, OLIVEIRA, F.A.; VIEIRA, LC.G.; BARROS, P.L.C.; LIMA, CA.T.
Densidade e composiciio floristica do banco de semcutes do solo de floresias suces-
sionais na regio. do Baixo Rio Guama, Amazhnia Oriental, Seientla Forestalls, v 59,
plds-130, 2001.
ARAUJO. MM , TUCKER, JM; VASCONCELOS, S.5.; ZARIN, 0.3, OLIVEIRA,
sy. SAMPAIO, PiD.; RANGEL-WASCONCELOS, LG; OLIVEIRA, F.4.; COEL-
i
i
|
i
ANDA, 1. Padrio ¢ processos sucessionais de fir
s idades na Amazénia Oriental. Ciéneia Florestal, v_15.,
HO, BER; ARAGAO, BLY,
resins secundirias de diferen
n.4, p.343-357, 2005,
BARBOSA, LM. Consideragfes gere is ¢ modelos de recuperacdo de formagées cili-
ares, In; RODRIGUES, R.R., LEITAO FILHO, HLF. Matas ciliares. conservagao ¢
recuperapio, Sao Paulo: Edusp-Fapesp, 2004. p.289-312
nee A. FETCHER, N.; STEVEN REDHEAD, 5. The relationsinp between
treefall gap size and light flux in a Neotropical rain forest ii la Ric:
ed ees eee in Costa Rica. Journal of
BORGMANN, K.L.; RODEWALD, A.D. Forest restoration in zit
E : 3 A urbanizing landscapes:
a ir i ime
ereclons between land uses and exotic shrubs Restoration Ecology, v.13, p.334-
BRITO, E.R.; MARTINS, 8.V. Restauragio de fl
y + "3, 9.¥. orestas inundavers - Jj = =
Bede Araguaia, Tocantins, através do resgate de plintulas dcepickes Lees a
evista Agdo Ambiental, v.10, 0.36, p20-21, 2007, ea
BRITO, E.R.; MARTINS, S.V.; GLERIANI,
: » SV.) 1. EMS i
spain ol Sees wasciots eet ee ee
be eres In: RODRIGUES, R.R.; MARTINS, S.V.; GANDOLFI.
. (Eds.). iversity forest restoration in degrad sees al jects
in Brazil, New York: Nova Science Publishers, ser: Soar er ae
seen N.; BUSING, R.T. Niche versus chance and tree div y in forest gay
s in Ecology and Evolution, v.15, p.183-188, 2000. cee
BUDOWSKI, G. Distribution ical Ameri species
WSKI, G. of tro, ie i ie
successional processes. Turrialba, Misael Ba am
cal Central American for
BUTLER. B.J.; CHAZDON,
RB; L RLS
Rus Soil seed bank of a secondary
Pecies richness, spatial variation, and abundance
(ropical rain forest. Biotropica, v.30, p.214-222,
BUSATO, L.C; GOBRO, P
ean of , PRS: NAVE, AG: :
ples inthe cower of brazilian Reld works io ROBES ee ee
“Rj MARTINS, $.V GANDOLFL,S. (Eds). High diversity forest res
toration in degraded 5
Publishers, 2007, p Sora methods and projects in Brazil, New York: Nova Science
BUSING, R.T. Tree mortali
RT. ta
of the southern Appalachians.
canopy tumover, and woody detritus i forests
CASTELLANI, T. Eeology, v.86 n.1.p. 73842008
tropical meséfila, or EUBBLEBINE, WH. Sucessio secundérin inicial em mate
12 plRL-203, 199, Pn Pnhte Por fogo. Revista Brasileira de Botinica, v.16,
CHAMBERS, J.C; MACMAHON, J.4
fates of seeds and their implications for
of Ecology & Systematics, v.25, p.263
CHARLES-DOMINIQUE, P.; BLANC, P: LARPIN, DS
SARTHOU, C.; SERVANT, M., TARDY, C. Fo
during the last ten thousand years in French Guia
302, 1998.
a seed:
mo verents sued
I systems. Annual Review
DRU, M.; RIEDA, B.
st perturbations and biodiversity
| Acta Occologicw, v.19, 0.3, p.295-
CLARK, DLA. The role of disturbance in the regeneration of neotropical moist for-
est. Im: BAWA, K.5.; HEDLEY, M. (Eds). Reproductive ecology of tropical forest
plants. Man and Biosphere Series, v. 7, Paris, Pathemon Publishing Group/UNESCO,
1990, p.291-315,
CLARK, DA. Analisis de In regenarcion de arboles del descl en bosque muy Inimedo
fropical: aspecins tedricws y pricticus. Revista de Blolagia Tropical, v.35, p.41-54, 1987,
CLEMENTS, F.E. Plant succession: an analysis of the development of vegetation.
Washington D.C,: Camegi¢ Institute, 1916. (Publication 242),
CLEMENTS, F.E. Nafure and structure of the climax. Journal of Ecology, v.24,
p.252-284, 1936.
COHEN, S.; BRAHAM, R.; SANCHEZ, F, Seed bank viability in disturbed longleaf
pine sites. Restoration Ecology, v.12, p.503-315, 2004,
LATYER, R.O. Mechanisms of succession in natural communities
in community stability and organization. American Naturalist, v1 11,
pLL19-1144, 1977,
COOK, LE. Implications of modem successional theory for typing: a review. Forest
Science, v 4, p.67-75, 1996,
COOPER, W.S. The climax forest of Isle Royale, Lake Superior, and its development,
Botanical Gazette, v.55, !-44, p, 115-140, 189-235, 1913,
COSTA, R.C.; ARAUJO, F.S. Densidade, germinagilo ¢ flora do banco de sementes no
solo, na final da estado seca, em uma drea de caatinga, Quixadd, CE. Acta Botanica
Brasilica, v.17, p.259-264, 2003.
COWLES, H.C. The ecological relations of the vegetation of the sand dunes of Lake
Michigan. Botanical Gazette, v 77, p.95-117, 167-202, 281-308, 361-391, 1889.
COWLES, H.C, The physiographic ecology of Chicago and vicinity; a study of the
orign, development, and classification of plant societies. Botanical Gazette, v.31, p.73-
108, 1901.
DALLING, J.W. Ecologia de semillas. In: GUARIGUATA, M.R. CATAN GH.
(Eds,), Ecologia y conservacién de bosques neotropicales, Cartago: Libro Universi-
tario Repionsl, 2002, p.345-375.
DALLING, JW.; SWAINE, M.D.; GARWOOD, N.C. Soil soed bank community in
Seasonally moist lowland tropical forest, Panama. Journal of Tropical Ecology, v.3,
p.639-680, 1997.
AINE MLD GARWOOD, N.C. Dispersal patterns and sec
noist tropical forest. Ecology, v.79, pst. x
DALLD
bank dyny
DAVIS, M.A; SLOBODKIN, L.A The science and val
Restoration Ecology, v.12, 1-3, 2004.
Soff
5 af restoration ecology.
DAVIS, M.A; BIER, L.; BUSHELLE, E.; DIEGEL, C.; JOHNSON, A.; KUJALA, B.
Non-indigenous grasses impede woody succession, Plant Ecology, v 178. p.249-26+
2003.
DENSLOW, J.S. Gap partitioning among trepicel rainforest trees. Biotropica, ¥ 12,
p.a7-55, 1980.
DENSLOW, 1S. Tropical rain forest gaps and tree species diversity. Annual Review
of Ecology & Systematics, v.18, p431-451, 1987,
DENSLOW, J.5.; ELLISON, A.M; SANFORD, RE. Treefall gap size effects on
above and below ground processes in a tropical wet forest. Journal of Ecology, v. £6,
n4, p.$97-609, 2001.
DENSLOW, 1.5; SCHULTZ, 1.C.; VITOUSEK, P.ML; STRAIN, B.R. Growth re-
sponses of tropical shrubs to treefall gap environments. Ecology, v. + p.165-179,
1990,
EGLER, F.E. Vegetation science concepts. 1. Initial floristic composition a factor in
old-field vegetation development. Vegetatio, 4, 421-417, 1954.
EHRENFELD, J.G. Defining the limits of restoration: the
toration Ecology, v.8, p.2-9, 2000.
ENGEL, V.L; PARROTA, J.A. An evaluation of dircet seeding as a means for refor-
esting degraded lands in Central Sao Paulo state, Brazil. Forest Ecol dM
ment, 152, 169-181, 2001, SC
ENGEL, V.L.j PARROTA, J.A. Definindo a restaurapio ecoldgica: tendéncias © per-
spectivas mundiais, In: KAGEYAMA, P.Y., OLIVEIRA, RE, MORAES, LED. EN.
GEL, V.L., GANDARA, SP. F.B. (Ongs.), Restauragio ecolégica de ecassisteraus
naturais. Botucatu, FEPAF, 2003. p.2-36. cy
FETCHER, N.; OBERBAUER, 3.F; CHAZDON,
plants. In: MCDADE, L-; BANA, K.S.: HESPENH
(Eds). La Selva: ecology and natural history of a
University of Chicago Press, 1994. p.128-14 1.
HIEDLER, P.L.; WHITE, P.S.5 LEIDY, R.A. The paradigm shi in ecology and its
implications far conservation. In: PICKETT, STA. OSTFELD, RS; SHACHAK, M.
(Eds). ‘The ecological basis of conservation; heterogeneity, ecosystems and biadiver-
sity New York: Intemational Thomson Publ, 1997, p.83-92.
FORNARA, D.A.; DALLING, J,W, Seed bank dynamics i fan forests
Journal of Tropical Ecolagy, v.21, 221-226, 2005a, eee
FORNARA, D.A; DALLING, JW. Post-dispersal removal of seeds of pi species,
from five Panamanian forests. Journal of Tropical Ecology, GN
need for realistic goals, Res«
RL. Physiological ecology of
EIDE, H.A.; HARTSHORN, G.S,
neotropical rain forest. Chicago:
Você também pode gostar
- Relatório de Afugentamento, Resgate e Salvamento Da FaunaDocumento18 páginasRelatório de Afugentamento, Resgate e Salvamento Da FaunaIsla MarialvaAinda não há avaliações
- Instrução Normativa #1, de 9 de Março de 2017 - 5Documento1 páginaInstrução Normativa #1, de 9 de Março de 2017 - 5Isla MarialvaAinda não há avaliações
- Instrução Normativa #1, de 9 de Março de 2017 - 2Documento1 páginaInstrução Normativa #1, de 9 de Março de 2017 - 2Isla MarialvaAinda não há avaliações
- Instrução Normativa #1, de 9 de Março de 2017 - 1Documento1 páginaInstrução Normativa #1, de 9 de Março de 2017 - 1Isla MarialvaAinda não há avaliações
- Instrução Normativa #1, de 9 de Março de 2017 - 8Documento1 páginaInstrução Normativa #1, de 9 de Março de 2017 - 8Isla MarialvaAinda não há avaliações
- ANEXO I - Resolução 162 - 153 Tipologias de Impacto Local Até o LimiteDocumento15 páginasANEXO I - Resolução 162 - 153 Tipologias de Impacto Local Até o LimiteIsla MarialvaAinda não há avaliações
- Instrução Normativa #1, de 9 de Março de 2017 - 6Documento1 páginaInstrução Normativa #1, de 9 de Março de 2017 - 6Isla MarialvaAinda não há avaliações
- Instrução Normativa #004, de 08 de Maio de 2013Documento9 páginasInstrução Normativa #004, de 08 de Maio de 2013Isla MarialvaAinda não há avaliações
- 6 Relatorio Monitoramento de Fauna Terrestre - UHE ColíderDocumento119 páginas6 Relatorio Monitoramento de Fauna Terrestre - UHE ColíderIsla MarialvaAinda não há avaliações