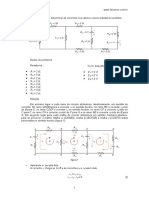Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Incorporaçao Do Test Na Historia Oral PDF
Incorporaçao Do Test Na Historia Oral PDF
Enviado por
Renata Moraes0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações14 páginasTítulo original
incorporaçao do test na historia oral.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações14 páginasIncorporaçao Do Test Na Historia Oral PDF
Incorporaçao Do Test Na Historia Oral PDF
Enviado por
Renata MoraesDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 14
DOSSI
A incorporao do testemunho oral na escrita
historiogrfica: empecilhos e debates
Maria de Lourdes Monaco Janotti*
Alguns pressupostos
Apesar de rigorosas intervenes metodolgicas empregadas por pesqui-
sadores em entrevistas, transcries e edies, h controvrsias a respeito da
natureza de textos produzidos colados reproduo de transcries de relatos
biogrfcos. Esses trabalhos so considerados mais adequados divulgao de
experincias de vida de interesse pblico ou particular, constituio de acer-
vos arquivsticos, visando ulteriores pesquisas, ou a publicaes de interesses
privados. Pesquisadores que militam na rea de histria oral comeam agora
a questionar a contribuio efetiva que tais escritos possam trazer para o co-
nhecimento histrico.
Testemunhos espontneos ou provocados possuem implicaes tericas
profundas que a conscincia delas, muitas vezes, pode at levar a impasses e
paralisao da prpria pesquisa. Envolvem repensar as relaes entre realida-
de e representao, memria e histria, veracidade e imaginao, verso e fac-
tualidade, unidade conceitual do testemunho e pluralidade de fontes, acima
de tudo, o carter intrinsecamente poltico do testemunho e seu problema.
Comeando pela questo da necessidade de serem analisadas fontes
mltiplas e no exclusivamente fontes orais, no de estranhar que todas
as fontes histricas se constituam em unidades documentais regidas por ex-
clusiva lgica interna. A crtica documental minuciosa, to a gosto da escola
* Professora livre-docente do Programa de Ps-Graduao de Histria Social da Faculdade de Filosofa,
Letras e Cincias Humanas da Universidade de So Paulo (USP).
JANOTTI, Maria de Lourdes M. A incorporao do testemunho oral na escrita historiogrfca: empecilhos e debates 10
metdica, que instituiu procedimentos da crtica interna e externa com a pre-
ocupao de garantir historiografa critrios de veracidade, coeso e confr-
mao de dados dentro de um discurso historiogrfco coerente, cronolgi-
co e explicativo, contribuiu para o primeiro grande avano da metodologia
histrica.
A partir de meados do sculo XX, correspondendo a profundas trans-
formaes da nova fase do capitalismo, a perspectiva metdica passou por
crivos sucessivos que contestaram seus princpios epistemolgicos, propondo
outras temticas e mtodos que resultaram em leituras subjetivas das fon-
tes usuais do historiador. Sucederam-se modifcaes literrias e temticas
vinculadas a uma concepo de histria cultural abrangente que substituiu
a racionalidade excessiva e a linearidade explicativa por outros paradigmas,
entre eles a identifcao da histria com memria.
Desde a dcada de 1960 do sculo passado, as cincias exatas e huma-
nas debatem um tema de profundo signifcado para o desenvolvimento do
conhecimento: a crise dos paradigmas. Agnes Heller (1999) atribui s trans-
formaes da modernidade, processo que considera em curso, mutaes to
profundas que esto alterando a forma de viver e de pensar mesmo nos pases
que comeam a modernizar-se. Na sua maneira de interpretar a contempo-
raneidade, considera a substituio dos padres ticos pelo interesse prprio
um dos mais graves prejuzos a ser enfrentado. Embora seu pensamento apre-
sente alguns pontos discutveis, irrefutvel que alguns paradigmas das cin-
cias foram abandonados e substitudos.
Em histria, por exemplo, o estruturalismo foi responsvel por propos-
tas inovadoras dirigidas contra as concepes do materialismo dialtico e as
da escola metdica. Embora criticado pelos autores da Nova Histria france-
sa que incorporaram vrios de seus postulados e pelos historiadores marxistas
ingleses contemporneos, alguns de seus paradigmas tiveram ampla divul-
gao: a negao da ideia de totalidade; a busca da verdade no deve norte-
ar as pesquisas, pois ela no existe em termos absolutos; os acontecimentos
so fatos construdos independentemente uns dos outros, o que resulta na
excluso da ideia de processo e estrutura; o real inerente sua representa-
o. O conjunto desses paradigmas est longe de ser aceito pela maioria dos
historiadores.
1
1 Ver texto de apresentao do livro Histria, metodologia, memria (Montenegro, 2010, p. 7-12).
Histria Oral, v. 13, n. 1, p. 9-22, jan.-jun. 2010 11
Os exageros dessa interpretao dominante, pelo menos h meio sculo,
suscitaram atualmente a indignao de Beatriz Sarlo:
O que trato de apresentar em meu livro [Tiempo pasado] que uma recons-
truo feita somente a partir da memria insufciente e provavelmente
muito menos rica do que uma reconstruo que trabalhe com todas as fon-
tes possveis: no s testemunhos, mas tambm as fontes escritas, que so
indispensveis para a compreenso do movimento das idias na histria. A
memria no s est ancorada na primeira pessoa mas tambm permanece
carregada de todos os traos de subjetividade. [] Eu no confo mais na
memria do que nas informaes jornalsticas, nos programas polticos,
nos livros []. (Mota, 2006).
No resta dvida que a histria oral, a partir dos anos 1970, quebrou
uma srie de paradigmas anteriores e continua em fase de construir seus pr-
prios. Metodologia baseada em testemunhos, aprimora suas tcnicas defen-
dendo um campo prprio e interdisciplinar apesar de estar incorporada na
maioria dos trabalhos sobre o tempo presente e a histria imediata. Tarefa em
grande parte poltica, onde a conquista de territrios institucionais exclusi-
vos exige constante empenho.
Testemunhos
A inteno desta refexo levantar alguns problemas que envolvem as rela-
es entre os diferentes tipos de testemunho e o estatuto metodolgico da
histria oral. Dentro dos limites do presente texto, foram priorizados como
exemplo dois acontecimentos de importncia poltica cujos envolvidos tive-
ram seus testemunhos gravados, transcritos e publicados; so eles: o julga-
mento pelo Estado de Israel, em 1961, do ofcial da SS Adolf Eichmann por
crimes cometidos contra o povo judeu, durante a Segunda Guerra Mundial;
o julgamento pelo Estado francs, em 2001, do general Paul Aussaresses,
acusado de fazer apologia de crimes de guerra em seu livro Services spciaux
Algrie 1955-1957,
2
no qual relatou torturas infigidas pela unidade de
2 Ver Aussaresses (2001).
JANOTTI, Maria de Lourdes M. A incorporao do testemunho oral na escrita historiogrfca: empecilhos e debates 12
paraquedistas que comandou, cometidas na guerra de libertao da Arglia.
Eichmann foi condenado morte e Aussaresses tambm condenado, embora
a pena tenha sido prescrita por tempo decorrido, perdendo, contudo, a L-
gion dhonneur.
Sobre o julgamento de Eichmann, Hannah Arendt fez cobertura para
a revista Te New Yorker
3
e, posteriormente, em 1963, publicou o livro Ei-
chmann em Jerusalm: um relato sobre a banalidade do mal (Arendt, 2000),
4
que pode ser considerado seu prprio testemunho sobre o julgamento. Aus-
saresses, inconformado com a condenao, publicou mais dois livros, inter-
mediados por perguntas formuladas por Deniau e Sultan.
5
Alm dos livros,
passou a conceder diversas entrevistas para programas televisivos, sendo uma
delas, originalmente da srie de Patrik Rotman O inimigo ntimo: violncia
na Arglia, reproduzida como extra do DVD do famoso flme A batalha de
Argel (1966), de Gillo Pontecorvo, distribudo no Brasil.
6
Essas personagens tornaram-se notrias e sucederam-se documentrios
televisivos, artigos de revistas e livros que multiplicaram esses acontecimen-
tos em novas opinies e relatos, criando para o historiador problemas relati-
vos factualidade e opinio. O clamor pblico foi intenso, sucederam-se
inmeros depoimentos sobre a ao dos rus nas mdias.
A conjuntura internacional era dominada pela Guerra Fria, que infor-
mava o ritmo da poltica independncia da Arglia, ditaduras na Amrica
Latina, incio das Brigadas Vermelhas na Itlia e perseguies do macartismo
nos Estados Unidos
7
preparando os Estados internamente para a virada
direita dos governos europeus e americanos para o enfrentamento do inimigo
externo corporifcado no medo do comunismo.
3 O relato foi publicado na revista entre fevereiro e maro de 1963.
4 Eichmann in Jerusalem: a report on the banality of evil (Arendt, 1963). A edio usada no presente texto
tem traduo Jos Rubens Siqueira, baseada na edio de 1964.
5 Ver Aussaresses (2004, 2008).
6 Ver Aussaresses (2002).
7 Em ingls McCarthyism, campanha anticomunista radical liderada pelo senador Joseph Raymond Mc-
Carthy, quando presidente do Senates Government Operations Committee, em conformidade com a
Doutrina Truman de 1947. No cenrio internacional, os americanos e aliados ocidentais organizaram o
Plano Marshall em 1947 e a Organizao do Tratado do Atlntico Norte (Otan) em 1949. Considera-
vam que as ameaas de possvel avano comunista vinham da vitria da Revoluo Chinesa em 1949, do
Pacto de Varsvia em 1949 liderado pela Unio Sovitica e da exploso da primeira bomba atmica
sovitica em 1949.
Histria Oral, v. 13, n. 1, p. 9-22, jan.-jun. 2010 13
O caleidoscpio de testemunhos pe o pesquisador frente complexa
empreitada de construir um discurso historiogrfco. A natureza dos docu-
mentos necessita ser defnida. So verses de dados de realidade, invenes,
representaes, informaes privilegiadas? H tenses internas nas possveis
respostas que, no mnimo, devem considerar trs instncias terico-meto-
dolgicas: a dos depoentes, a dos interrogadores ou entrevistadores e a do
pblico.
Ao decidir revelar suas rememoraes, o depoente concebe o contedo
e a forma da linguagem, tendo em vista determinadas fnalidades ocultas ou
evidentes e julga seu testemunho verdadeiro, mesmo que deliberadamente
mascare o vivido. O entrevistador (cientista social, reprter, advogado, pro-
motor e juiz) tem um plano traado que dever ser preenchido pelo teste-
munho obtido, seja usando interrogatrio ou livre dilogo, dono de um
conhecimento especfco e conjuntural que, eventualmente, pode o depoente
no possuir. Domina tcnicas e mtodos, que precisam ser assegurados para
a aceitao do pblico a que seu trabalho se destina. Em geral, no h muitas
coincidncias entre a viso de mundo do entrevistado e do entrevistador
emprestando o famoso termo de Georg Lucks , e observam-se nos resulta-
dos fnais esses desvios de rotas.
Testemunhos, escritos ou orais, destinados divulgao na mdia, como
os que se seguiram aos julgamentos, continham compromissos preestabeleci-
dos com a conscincia individual e a indstria cultural.
A interao com as exigncias do mercado introduzem elementos de
apelo aos sentidos, como se nota na entrevista de Aussaresses publicada, em
2008 na Folha de S. Paulo, com a seguinte manchete: A tortura se justifca
quando pode evitar a morte de inocentes. General francs que ensinou tortu-
ra a militares brasileiros confrma atuao do pas em golpe contra Salvador
Allende.
8
Essa matria foi motivada pela publicao do ltimo livro de Aus-
saresses (2008), Je nai pas tout dit: ultimes rvlations au service de la France.
Nele, o general relata ter sido nos anos 1960 instrutor de paraquedistas da
infantaria americana em Fort Benning na Gergia, e no Fort Bragg na Ca-
rolina do Norte, na qualidade de instrutor das Foras Especiais do exrcito
americano, envolvido com as guerrilhas do Vietn. Nesses locais de treina-
mento antiterrorista conheceu vrios ofciais da Amrica do Sul, inclusive
8 Entrevista a Leneide Duarte Plon (2008).
JANOTTI, Maria de Lourdes M. A incorporao do testemunho oral na escrita historiogrfca: empecilhos e debates 14
brasileiros. Foi adido militar da embaixada francesa no Brasil de 1973 a 1975;
fazia trabalho de informao e intermediava a venda de avies Mirage, fabrica-
dos pela Socit Dassault. Ministrou cursos de interrogatrio e informao a
ofciais no Centro de Instruo de Guerra na Selva, em Manaus. Confrma que
o governo do general Garrastazu Mdici forneceu armas e avies para o golpe
militar contra Allende no Chile (11/09/1973) e diversos fatos da conhecida
operao Condor. Nessa ocasio tornou-se amigo do general Joo Baptista Fi-
gueiredo, chefe do Servio Nacional de Informaes (SNI), do delegado Sr-
gio Fleury e de Umberto Gordon, chefe das foras especiais do Chile Dina,
servio secreto do governo do general Pinochet. Na entrevista foram publi-
cados exclusivamente trechos referentes ao Brasil e Amrica Latina, porque
nesses pases o processo de acerto de contas com a ditadura estava em curso.
Podem ser identifcados vrios outros modelos de testemunhos em tor-
no dos julgamentos de Eichmann e Aussaresses: textos de Hannah Arendt,
documentrios e entrevistas dirigidas e realizadas por Patrik Rotman, o fl-
me de Gillo Pontecorvo, os entrevistadores de Aussaresses, Deniau e Sultan,
pessoas mencionadas nas memrias, testemunhas dos julgamentos, militares
franceses, alm de advogados, juzes, promotores, jornalistas e historiadores.
Assediados pela mdia, muitos testemunharam.
Testemunhar no apenas dizer o que viu ou ouviu, mas tambm a
construo de um discurso sobre o factual. Tome-se o caso de Hannah Aren-
dt. Seu livro Eichmann em Jerusalm foi alvo de acerbas crticas por ter a
autora relatado o que ouviu sobre os conselhos judaicos representantes da
comunidade junto s autoridades alems durante a exportao e a soluo
fnal. O subttulo de seu trabalho a banalidade do mal foi mal interpreta-
do, em grosseira distoro do sentido que desejou dar a essas palavras, que se
referiam forma burocrtica encontrada pelo ru para justifcar suas atitudes,
como mero executor de ordens. A respeito, diz Arendt (2000, p. 305-307):
Mesmo antes de sua publicao, este livro se tornou foco de controvrsia e
objeto de uma campanha organizada. Nada mais natural que a campanha,
levada a cabo por bem conhecidos meios de fabricao de imagem e ma-
nipulao de opinio, tenha tido muito mais ateno que a controvrsia,
de forma que esta ltima foi um tanto engolida e sufocada pelo barulho
artifcial da primeira. [] Tudo isso foi possvel por causa do clamor cen-
tralizado na imagem de um livro que nunca foi escrito e que supostamen-
te versava sobre assuntos que muitas vezes no s no foram mencionados
por mim, mas que nunca me ocorreram antes. [] Desde que o papel da
Histria Oral, v. 13, n. 1, p. 9-22, jan.-jun. 2010 15
liderana judaica veio baila no julgamento, e desde que eu o comentei, foi
inevitvel que ele fosse discutido. Isso, em minha opinio, era uma questo
sria, mas o debate pouco contribuiu para seu esclarecimento.
Depoimentos desdobraram-se em discusses que seguiram outros es-
paos de interesse, afastando-se dos episdios do prprio julgamento. Era
o momento de acerto de contas de um passado no digerido, cujo legado
restringia-se a atrocidades. Julgava-se ento a Alemanha e o nazismo.
Aussaresses, como Eichmann, tambm se declarou um militar patriota
cumpridor de ordens. Deixou claro que criou estratgias para identifcar os
terroristas argelinos, que incluam torturas e assassinatos, de conhecimento
do supremo comando e do governo francs. Concordou com a veracidade do
flme de Gillo Pontecorvo A batalha de Argel, confrmando todos os epis-
dios nos quais foi participante e chefe da represso. Isso foi sufciente para re-
avivar na Frana uma reviso do passado abrangendo o colaboracionismo, os
escndalos do governo de Vichy, a derrota da Frana no assumida por De
Gaulle e seus seguidores , os contatos dos governos democrticos com in-
formantes nazistas e, principalmente, os episdios da guerra suja, incluindo a
Indochina e a Arglia; julgava-se a violncia da luta colonialista. Signifcativo
foi um telefonema do general Bigeard enraivecido com a longa entrevista de
Aussaresses ao jornal Le Monde, comeando por dizer o que aconteceu para
que voc abrisse a boca? (Aussaresses, 2008, p. 13, traduo minha).
H consideraes de carter militar que interferiram diretamente nos
testemunhos. Segredos dos servios secretos da Alemanha e da Frana SS e
Action foram revelados, provocando reprovao da parte de militares que ti-
nham no silncio um cdigo de honra e segurana. Dentro da tica corporati-
va os rus foram considerados traidores; teriam sido apreciados se assumissem
a culpa por inteiro, como se pode constatar em diversos pronunciamentos de
militares, no caso de Aussaresses, e panfetos annimos, no caso de Eichmann.
Enquanto Eichmann via-se como um funcionrio competente e injus-
tiado por seus superiores por no ter sido promovido, Aussaresses pensava
ter evitado massacres de franceses, tanto na Arglia quanto na Frana, agindo
para evitar um mal maior. Poltica e moral, fronteiras da ao individual, os
rus foram questionados insistentemente: por que no se recusaram a agir
contra os princpios bsicos de humanidade?
Os testemunhos dos rus tocavam em questes morais importan-
tes como o crime por razes de Estado, conceito compreendido e por eles
JANOTTI, Maria de Lourdes M. A incorporao do testemunho oral na escrita historiogrfca: empecilhos e debates 16
manipulado, pois, apesar de no negarem ter praticado as aes consideradas
criminosas pelo tribunal, organizaram seus discursos justifcando seus atos
pelo interesse do Estado. Sobre esse assunto pronunciou-se Hannah Arendt
(1972, p. 293-294), no livro Entre o passado e o futuro:
Sem dvida, os segredos de Estado sempre existiram; todo governo precisa
classifcar determinadas informaes, subtra-las da percepo pblica, e
os que revelam segredos autnticos foram sempre tratados como traidores.
[] O que parece ainda mais perturbador que, na medida em que as ver-
dades factuais inoportunas so toleradas nos pases livres, amide elas so,
de modo consciente ou inconsciente, transformadas em opinies como
se o fato do apoio da Alemanha a Hitler, ou o colapso da Frana ante as for-
as alemes em 1940, ou a poltica do Vaticano durante a Segunda Guerra
Mundial no fossem questo de registro histrico e sim uma questo de
opinio, visto que tais verdades factuais se relacionam com problemas de
imediata relevncia poltica, a que h mais coisas em jogo do que a tenso,
talvez inevitvel, entre dois modos de vida dentro do quadro de referncia
de uma realidade comum e comumente reconhecida. O que aqui se acha
em jogo essa mesma realidade comum e factual, e isso com efeito um
problema poltico de primeiro plano. [] Pode ser compensador reabrir a
antiga e aparente obsoleta questo da verdade versus opinio.
A leitura da rica enumerao de fontes utilizadas por Hannah Arendt
(2000, p. 303) em seu livro Eichmann em Jerusalm desperta a ateno para
diversas difculdades que encontrou, entre elas: A lngua da corte era o he-
braico; as matrias fornecidas imprensa eram, dizia-se, uma transcrio no
editada e no revisada da traduo simultnea, que no devia ser considerada
estilisticamente perfeita e isenta de erros lingusticos.
Muitos dos presentes depoentes, advogados, o prprio ru e o pblico
no entendiam o discurso do tribunal e utilizavam fones de ouvido, com
traduo simultnea. O julgamento foi em grande parte gravado, foram ne-
cessrios tradutores para o ingls, francs e alemo, e transcries foram dis-
tribudas imprensa.
Compreendendo todas as difculdades da produo de tal material, se-
melhantes s dos oralistas contemporneos, muito se valeu a autora de um
manuscrito de 70 pginas escrito pelo prprio Eichmann. Utilizou tambm
vasto material da imprensa e bibliografa especfca. Seu trabalho com fontes
Histria Oral, v. 13, n. 1, p. 9-22, jan.-jun. 2010 17
orais e escritas um exemplo de como possvel produzir um jornalismo de
alto nvel quando so usadas metodologias das cincias histricas, eviden-
ciando semelhanas entre interrogatrios judiciais e depoimentos provoca-
dos por pesquisadores e, acima de tudo, a imprescindibilidade da interpreta-
o para dar sentido disperso das fontes.
Muito tem sido escrito sobre testemunhos e sua veracidade.
9
Para histo-
riadores sempre foi um procedimento usual analisar o alcance de suas fontes,
mas, atualmente, impem-se novas apreciaes sobre a incorporao do tes-
temunho na escrita da histria oral.
Longe de chegar a um consenso, avulta entre inmeros debates a ques-
to primordial da verdade do testemunho, geralmente confundida com a
epistemologia da histria. No discurso historiogrfco o relativismo do com-
promisso com a verdade parece ter tomado um espao excessivo, tudo depen-
de de meias verdades, da opinio e de circunstncias especfcas. No se ousa
usar a palavra verdade sem coloc-la entre aspas. A propsito, cabe lembrar
conhecido dilogo de Clemenceau com um diplomata, que discorria longa-
mente sobre o equvoco em culpar exclusivamente a Alemanha pelo desenca-
dear da Guerra. Cansado, o chanceler teria respondido: O senhor tem mui-
tos argumentos, s no pode dizer que foi a Blgica que invadiu a Alemanha.
No mago da controvrsia, convm pensar na advertncia de Hannah
Arendt (1972, p. 295-296):
[] a verdade factual informa o pensamento poltico exatamente como a
verdade racional informa a especulao flosfca. Mas os fatos realmente
existem independentes de opinio e interpretao? [] Sem dvida, esta e
muitas outras perplexidades inerentes s cincias histricas so reais, mas
no constituem argumento contra a existncia da matria factual, e tam-
pouco podem servir como uma justifcao para apagar as linhas divisrias
entre fato, opinio e interpretao ou como uma desculpa para o historia-
dor manipular os fatos a seu bel-prazer.
Enquanto se encontram tantos empecilhos em falar da factualidade,
usa-se com a maior liberalidade os testemunhos como expresso de verdade
9 Ver Amado e Ferreira (1996), Esperana (2006), Ferreira (1994), Gagnebin (1997), Gomes (2004),
Hartog (2001), Koselleck (2002), Lins Caldas (1999), Medina (1990), Montenegro (2010), Olson e
Torrance (1997), Prost (1996), Ricoeur (2000), Rioux (1999) e Rollemberg (1994).
JANOTTI, Maria de Lourdes M. A incorporao do testemunho oral na escrita historiogrfca: empecilhos e debates 18
e autoridade. inegvel a integridade conceitual que o testemunho tem em
si. Para a sociologia, como bem ressaltam Pollak e Heinich (1986), seu trao
mais caracterstico vincula-se construo de identidades variveis segundo
as fnalidades a que se destinam. Extrapolando o limite da vida privada, o de-
poimento adquire seu signifcado coletivo desde que tenha como referencial
a mesma factualidade comungada pelos grupos sociais a que pertence; com
toda propriedade, Maurice Halbwachs (1965) foi o formulador dessa inter-
pretao metodolgica.
sobejamente conhecido o fenmeno da produo de biografas e depoi-
mentos que assolaram a cultura ocidental a partir da Segunda Guerra Mundial.
Novas mdias e recursos tecnolgicos permitiram a proliferao de testemu-
nhos de atrocidades, tema explorado por Marcio Seligmann Silva (2005) no
artigo Testemunho e a poltica da memria: o tempo depois das catstrofes.
Nesse texto, o autor refete sobre a literatura de testemunho, afrmando:
O conceito de testemunho concentra em si uma srie de questes que sem-
pre polarizaram a refexo sobre a literatura: antes de qualquer coisa, ele
pe em questo as fronteiras entre o literrio, o fctcio e o descritivo. E
mais: o testemunho aporta uma tica da escritura. Partindo-se do pressu-
posto, hoje em dia banal, que no existe grau zero da escritura, ou seja, a
literatura est ali onde o sujeito se manifesta na narrativa, no podemos
deixar de reconhecer que, por outro lado, o histrico que est na base do
testemunho exige uma viso referencial, que no reduza o real sua
fco literria. Ou seja, o testemunho impe uma crtica da postura que
reduz o mundo ao verbo, assim como solicita uma refexo sobre os limites
e modos de representao. (Silva, 2005, p. 85).
Como necessrio atentar para a especifcidade do discurso literrio
igualmente pressupem-se condutas metodolgicas prprias dos audiovi-
suais, mesmo porque j foram mencionadas entrevistas divulgadas pela m-
dia. Nesse caso, Marcos Napolitano (2006, p. 236) discorda daqueles que
vm tanto nos documentrios exibidos pelo cinema ou pela televiso como
nos registros sonoros testemunhos diretos e objetivos da histria, enquanto
consideram flmes de fco, teledramaturgia, canes e peas musicais fon-
tes de absoluta subjetividade, como afrma o autor: A questo, no entanto,
perceber as fontes audiovisuais e musicais em suas estruturas internas de
linguagem e seus mecanismos de representao da realidade, a partir de seus
Histria Oral, v. 13, n. 1, p. 9-22, jan.-jun. 2010 19
cdigos internos. Assinala que um bom caminho o de articular a lingua-
gem tcnico-esttica das fontes audiovisuais e musicais (ou seja, seus cdigos
internos de funcionamento) e as representaes da realidade histrica ou so-
cial nela contidas (isto , o seu contedo narrativo propriamente dito).
guisa de eplogo
So tantas as maneiras prprias de ver e interpretar os testemunhos no in-
terior de cada disciplina que comprometem ou, pelo menos, tornam difcil-
mente praticvel o emprego de uma postura multidisciplinar na escrita da
histria oral. H complementaridade nas diferentes metodologias, mas, para
se traduzirem num discurso coerente, exigiriam o domnio de muitas habili-
dades. Os obstculos tm superado os ganhos obtidos. Apesar de, na maioria
dos trabalhos de histria oral, ter prevalecido o autoritarismo do testemunho
e a perspectiva da formao especfca do pesquisador, em publicaes recen-
tes se vislumbram, de forma ntida, maior cuidado com: o sentido poltico e
metafrico da linguagem, o entrelaamento dos contedos de um conjunto
de narrativas e at a possibilidade de existncia de insupervel incompreenso
entre entrevistador e entrevistado (Guimares Neto, 2008; Siqueira, 2008).
No se pode negar que exaustivas citaes de testemunhos tm sido evitadas
em obras atuais, recortes signifcativos so feitos e, em grande parte, poder-se-ia
talvez afrmar que o discurso do historiador venceu o do depoente. A passagem
do tempo no pode ser sempre responsabilizada pelas alteraes que as rememo-
raes introduzem na narrativa do vivido. Um tempo acelerado, pleno de aconte-
cimentos dirios repletos de signifcados, sempre para alguns o tempo presente,
aquele que histria e no memria, onde a luta poltica ainda persiste, este
um dos pilares fundamentais onde se assenta a identidade dos testemunhos. No
entanto, h aqueles para quem a histria perdeu seu contedo referencial, trans-
formando-se em memria dolorosa daquilo que nem bom lembrar. Usam de
complacncia como ao contar um pecado cometido, justifcado pela pouca idade
do pecador. A situao anteriormente rica de historicidade transmuda-se em uma
soma de equvocos compreensveis pelos sucessos posteriores, sugerindo-nos a
indagao: se o futuro explica o passado e vice-versa, o presente seria o momento
da ao e da poltica?
10
10 Ver Janotti (2001).
JANOTTI, Maria de Lourdes M. A incorporao do testemunho oral na escrita historiogrfca: empecilhos e debates 20
Referncias
AMADO, J.; FERREIRA, M. de M. (Coord.). Usos e abusos da histria oral. Rio de Janeiro:
Editora da Fundao Getlio Vargas, 1996.
ARENDT, H. Eichmann in Jerusalem: a report on the banality of evil. London: Penguin,
1963.
______. Eichmann em Jerusalm: um relato sobre a banalidade do mal. Traduo Jos
Rubens Siqueira (baseado na edio de 1964). 2. ed. So Paulo: Companhia das Letras,
2000.
______. Entre o passado e o futuro. Traduo Mauro W. Barbosa de Almeida. 2. ed. So
Paulo: Perspectiva, 1972. (Srie Debates).
AUSSARESSES, P. Services spciaux Algrie 1955-1957. Paris: Perrin, 2001.
______. Entrevista. In: O INIMIGO ntimo: violncia na Arglia (episdio Estados
armados). Srie para TV. Direo de Patrik Rotman. 2002. (28 min). [Extras do flme A
BATALHA de Argel. Direo de Gillo Pontecorvo. Argel: Casbah Films, Argel, 1966.
Distribuio: Videoflmes Produes Artsticas, Rio de Janeiro, 2005. 1 DVD (aprox. 121
min.), PB, legendado em portugus].
______. Pour la France: service spciaux. 1942-1954. Paris: ditions du Rocher, 2004.
______. Je nai pas tout dit: ultimes rvlations au service de la France. Entretiens avec Jean-
Charles Deniau et Madeleine Sultan. Paris: ditions du Rocher, 2008.
ESPERANA, C. G. Testemunhas ou fontes: relaes e desencontros
entre jornalistas e historiadores. Questo, Porto Alegre, v. 12, n. 2,
p. 235-251, jun./dez. 2006.
FERREIRA, M. de M. (Org.). Histria oral e multidisciplinaridade. Rio de Janeiro:
Diadorim, 1994.
GAGNEBIN, J. M. Sete aulas sobre linguagem, memria e histria. Rio de Janeiro: Imago,
1997.
GOMES, A. de C. (Org.). Escrita de si, escrita da histria. Rio de Janeiro: FGV, 2004.
GUIMARES NETO, R. B. Espaos e tempos entrecruzados na histria: prticas de
pesquisa e escrita. In: MONTENEGRO, A. T. et. al. (Org.). Histria: cultura e sentimento:
outras histrias do Brasil. Recife: Ed. Universitria da UFPE; Cuiab: Ed. da UFMT, 2008.
p. 135-166.
HALBWACHS, M. Les cadres sociaux de la mmoire. Paris: Felix Alcan, 1965.
Histria Oral, v. 13, n. 1, p. 9-22, jan.-jun. 2010 21
HARTOG, F. A testemunha e o historiador. In: PESAVENTO, S. (Org.). Fronteiras do
Milnio. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 2001. p. 11-41.
HELLER, A. Uma crise global da civilizao: os desafos futuros. In: HELLER, A. et al.
A crise dos paradigmas em cincias sociais e os desafos para o sculo XXI. Rio de Janeiro:
Contraponto, 1999. p. 13-32.
JANOTTI, M. L. M. Problemas metodolgicos: depoimentos e represso. Caderno CERU,
So Paulo: Humanitas/FFLCH, n. 12, p. 31-51, 2001.
KOSELLECK, R. Historia y hermenutica. Barcelona: Paids, 2002.
LINS CALDAS, A. Oralidade, texto e histria: para ler a histria oral. So Paulo: Loyola,
1999.
MEDINA, C. de A. Entrevista: o dilogo possvel. So Paulo: tica, 1990.
MONTENEGRO, A. T. Histria, metodologia, memria. So Paulo: Contexto, 2010.
MOTA, D. Chega de subjetividade: entrevista de Beatriz Sarlo. Trpico, So Paulo, 29
abr. 2006. Seo Histria. Disponvel em: <http://pphp.uol.com.br/tropico/html/
textos/2735,1.shl>. Acesso em: 10 abr. 2010.
NAPOLITANO, M. Fontes audiovisuais: a histria depois do papel. In: PINSKY, C. B.
(Org.). Fontes histricas. 2. ed. So Paulo: Contexto, 2006. p. 235-290.
OLSON, D.; TORRANCE, N. (Org.). Cultura escrita e oralidade. 2. ed. So Paulo: tica,
1997.
POLLAK, M.; HEINICH, N. Le tmoignage. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n.
62-63, p. 3-29, 1986.
PLON, L. D. A tortura se justifca quando pode evitar a morte de inocentes: entrevista com
General Paul Aussaresses. Folha de S. Paulo, So Paulo, p. A 10, 4 maio 2008.
PROST, A. Histoire, verits, mthodes: des structures argumentatives de lhistoire. Le
Dbat, Paris, n. 92, p. 127-140, nov./dc. 1996.
RICOEUR, P. Lecriture de lhistoire et la reprsentation du pass. Annales HSS, Paris, n. 4,
p. 731-747, juil./oct. 2000.
RIOUX, J.-P. Entre histria e jornalismo. In: CHAUVEAU, A.; TTART, P. (Org).
Questes para a histria do presente. Bauru: Edusc, 1999. p. 119-126.
ROLLEMBERG, D. (Org.). Que histria essa?: novos temas e novos problemas em histria.
Rio de Janeiro: Relume-Dumar, 1994.
JANOTTI, Maria de Lourdes M. A incorporao do testemunho oral na escrita historiogrfca: empecilhos e debates 22
SILVA, M. S. Testemunho e a poltica da memria: o tempo depois das catstrofes. Projeto
Histria, So Paulo: PUC, n. 30, p. 71-98, jun. 2005. [Publicado em 2006].
SIQUEIRA, A. J. As representaes do corpo na Idade Mdia. In: MONTENEGRO,
A. T. et. al. (Org.). Histria: cultura e sentimento: outras histrias do Brasil. Recife: Ed.
Universitria da UFPE; Cuiab: Ed. da UFMT, 2008. p. 95-106.
Resumo: Mesmo conhecendo todos os procedimentos usuais que envolvem a produo de
fontes orais, registradas em vdeos ou provenientes de entrevistas, e dominando a arte da edio
de textos, ainda assim o pesquisador encontra-se frente empreitada mais intricada: construir
um discurso historiogrfco. O objetivo deste artigo levantar os principais problemas que
envolvem as relaes entre os diferentes tipos de testemunho e o estatuto metodolgico da
histria oral. Dar-se- especial ateno a depoimentos colhidos com fnalidades jornalsticas e
jurdicas como os de Hannah Arendt, presente no livro Eichmann em Jerusalm (1963), e os de
Paul Aussaresses em Services spciaux Algrie 1955-1957 (2001).
Palavras-chave: histria oral, testemunhos orais, escrita histrica, controvrsias metodolgicas.
Te incorporation of the oral testimony in the writing historical: difculties and
controversies
Abstract: Same knowing all the usual procedures that involve the production of oral sources,
registered in videos or coming of interviews, and dominating the art of the edition of texts,
nevertheless the researcher meets front to the most intricate taskwork: to build a historical
speech. Te objective of this article is to lif the principal problems that involve the relationships
between the diferent testimony types and the methodological statute of the oral history. It will
feel special attention to depositions picked with journalistic and juridical purposes: Eichmann
in Jerusalem by Hannah Arendt (1963) and Services spciaux Algrie 1955-1957 (2001) by
Paul Aussaresses.
Keywords: oral history, oral testimonies, historical writing, methodological controversies.
Recebido em 02/10/2010
Aprovado em 15/12/2010
Você também pode gostar
- Atlas Eolico MG PDFDocumento84 páginasAtlas Eolico MG PDFHugo PereiraAinda não há avaliações
- Formar Professores Como Profissionais Reflexivos Donald SchonDocumento14 páginasFormar Professores Como Profissionais Reflexivos Donald SchonThiago Zangali86% (7)
- Kirchhoff5 NM PDFDocumento12 páginasKirchhoff5 NM PDFThiago ZangaliAinda não há avaliações
- Kirchhoff5 NM PDFDocumento12 páginasKirchhoff5 NM PDFThiago ZangaliAinda não há avaliações
- Lei 1269 - Rosa e Silva - 15.11.1904Documento25 páginasLei 1269 - Rosa e Silva - 15.11.1904Thiago ZangaliAinda não há avaliações