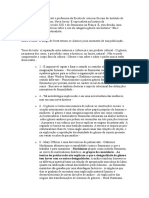Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
SCOTT, Joan. A Invisibilidade Da Experiencia
SCOTT, Joan. A Invisibilidade Da Experiencia
Enviado por
Berlano Andrade0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações29 páginasSCOTT, Joan. a Invisibilidade Da Experiencia
Título original
SCOTT, Joan. a Invisibilidade Da Experiencia
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoSCOTT, Joan. a Invisibilidade Da Experiencia
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações29 páginasSCOTT, Joan. A Invisibilidade Da Experiencia
SCOTT, Joan. A Invisibilidade Da Experiencia
Enviado por
Berlano AndradeSCOTT, Joan. a Invisibilidade Da Experiencia
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 29
A INVISIBILIDADE DA EXPERIENCIA*
Joan W. Scott"
Tradugdo: Liicia Haddad”
Revisao Técnica: Marina Maluf’””*
Tornando-se visivel
Hé um fragmento na magnifica meditagao autobiografica de Samuel Delany, The
motion of light in water, que coloca enfaticamente o problema de escrever a historia
da diferenga, isto é, a historia da designag4o do outro, da atribuigao de caracteristicas
-
“The Evidence of Experience”, Critical Inquiry, summer 1991, vol. 1 n° 4, University of Chicago Press.
Sou grata a Tom Keenan pelo convite para participar da conferéncia “History today — and Tonight”
(Universidades de Rutgers e Princeton, margo de 1990), onde testei algumas dessas idéias, e as
pessoas cujas indagagdes e comentérios propiciaram revisdes ¢ reformulagées. Em seminério que
dei na graduago em Rutgers na primavera de 1990, a ajuda dos alunos foi de grande valia no
esclarecimento de minhas idéias sobre “experiéncia” e a importiincia de historicizar. A critica de
membros do seminsrio de “Histéria” em 1990-1991, na Escola de Ciéncias Sociais no Instituto de
Estudos Avangados ajudaram a dar a este artigo sua forma final — e, creio, bastante methorada.
Como sempre, Elizabeth Weed deu as sugestées cruciais para a conceitualizagéo desse artigo. Tam-
bém sou grata as importantes contribuigées de Judith Butler, Christina Crosby, Nicholas Dirks,
Christopher Fynsk, Clifford Geertz, Donna Haraway, Susan Harding, Gyan Prakash, Donald Scott
€ Willem Sewell Jr. Os comentérios pertinentes de Karen Swann levaram-me a repensar € a reescrever
a parte final deste artigo. Aprendi muito com ela e com este exercicio. Reginald Zelnick, em carta
escrita em julho de 1987, me propés o desafio de articular uma definigio de “experiéncia” que fosse
apropriada ao campo dos historiadores. Embora eu ndo tenha certeza de que ele encontraré neste ensaio
a resposta que procurava, devo-lhe muito por aquele desafio.
Professora de Ciéncia Social no Instituto de Estudos ‘Avancados em Princeton, New Jersey.
*** Professora de Tradugao Literéria na Associago Alumni.
**** Professora do Departamento de Histéria da PUC-SP.
Proj. Hist6ria, Sao Paulo, (16), fev. 1998 297
que distinguem categorias de pessoas a partir de uma norma presumida (e muitas vezes
no explicitada).!
Delany (homossexual, negro, escritor de ficgao cientifica) relembra sua reagdo quan-
do esteve pela primeira vez, em 1963, na sauna St. Marks. Ele se recorda que ficou
parado na entrada de uma “sala do tamanho de um gindsio” parcamente iluminada por
luzes azuis. A sala estava repleta, algumas pessoas de pé enquanto outras formavam
uma massa ondulante de corpos masculinos, nus, espalhados por toda a sala. Minha
primeira reagdo foi de total espanto, préxima do medo. Eu j4 havia escrito sobre um
espaco com certa impregnagio libidinosa. Nao foi isso 0 que me assustou. Mas sim
© fato de que nfo se tratava de impregnagao apenas cinestésica, mas visfvel.?
A cena observada confirmou para Delany um “fato que o atingiu em cheio”, isto
&, a representagao que se tinha dos homossexuais na década de 50, vistos como “seres
pervertidos, isolados”, “desviados”. A “apreensio de uma massa de corpos” deu-lhe
(como daria, ele sustenta, a qualquer pessoa, fosse “homem, mulher, operério ou mem-
bro da classe média”) uma “consciéncia de poder politico”.
essa experiéncia mostrou que havia uma populagio — nao de individuos ho-
mossexuais... ndo de centenas, nao de milhares, mas sim de milhGes de homossexuais,
e que a hist6ria j4 havia ativamente criado para nés exposicdes completas de insti-
tuigdes, boas e mds, para acomodar 0 nosso sexo. (M, p. 174)
Para Delany, a consciéncia de possibilidade politica foi assustadora e estimulante.
Ele enfatiza nao a descoberta de uma identidade, mas a consciéncia de participagéo em
um movimento; na verdade é a dimensao (bem como a existéncia) destas praticas sexuais
que tém maior importancia em sua narrativa: Nimeros — corpos em massa — confi-
guram um movimento e este, mesmo subterraneo, desmente siléncios impostos sobre a
extensdo e a diversidade das prdticas sexuais humanas. Tornar o movimento visivel
quebra o siléncio sobre ele, desafia nogGes prevalescentes ¢ abre novas possibilidades
para todos. Delany imagina, mesmo do ponto de vista de 1988, uma futura utopia de
genuina revolugao sexual, “uma vez que a crise da AIDS estaré sob controle”:
1 Para uma importante discussio sobre o “dilema da diferenga”, ver Martha Minow, “Justice Engendered”,
introdugo a “The Supreme Court, 1986 Term”, Harvard Law Review, 101 (nov., 1987), pp. 10-95.
2° Delany, S. R. The motion of light in water: sex and science fiction writing in the East Village,
1957-1965 (Nova York, 1988), p. 175; daqui por diante abreviado como M.
298 Proj. Historia, Séo Paulo, (16), fev. 1998
A revolugao vird precisamente gragas a infiltragao de uma linguagem clara e articulada
nas dreas marginais de exploraco sexual humana, como este livro vez por outta
descreve, e do qual é apenas 0 mais modesto exemplo. Quando um numero signifi-
cativo de pessoas comegar a ter uma idéia mais clara acerca das diversas possibilidades
existentes de prazer humano em passado recente, heterossexuais e homossexuais, tanto do
‘sexo feminino quanto masculino, haverao de explord-las em maiores detalhes. (M, p. 175)
Ao escrever sobre a sauna, Delany nao procura “romantizar aquela época transfor-
mando-a em cornucépia de abundancia sexual”, mas sim quebrar um “siléncio publico
absolutamente sancionado” nas questdes de prdtica sexual, revelar algo que existia, mas
que fora suprimido.
‘Apenas as mengdes mais indiretas ¢ timidas podiam ocasionalmente indicar os limites
de um fendmeno sobre 0 qual nao se podia falar ou escrever, mesmo de modo figu-
tado; e era uma timidez nao s6 médica e legal, como também literria: e, como
Foucault j4 nos havia dito, tratava-se em sua timidez de um discurso vasto e pene-
trante. Mas essa timidez indicava que nao havia nenhum modo de compor a partir
dela um quadro nitido, preciso ¢ detalhado das instituigSes sexuais ptiblicas existentes.
Esse discurso apenas tocava em limites altamente selecionados quando transgrediam
os padres legais e/ou médicos de uma populagao que desejava energicamente afirmar
que tais instituigdes nao existiam. (M, pp. 175-176)
O objetivo da descrigio de Delany, na verdade de todo seu livro, € documentar a
existéncia dessas instituigdes em toda a sua variedade e multiplicidade, escrever sobre
elas e, assim, tornar histérico 0 que fora escondido da histéria.
No meu ponto de vista, uma metéfora de visibilidade como transparéncia literal €
crucial para o seu projeto. As luzes azuis iluminam uma cena da qual ele jé havia
participado (em caminhées escuros estacionados ao longo das docas sob a West Side
Highway, em banheiros masculinos de estagdes de metré), mas compreendidas apenas
de um modo fragmentado. “Ninguém nunca viu o seu todo” (M, p. 174; a énfase é
minha). Ele atribui o impacto da cena na sauna & sua visibilidade: “Vocé podia ver 0
que estava acontecendo por todo o aposento” (M, p. 173; a énfase é minha). Ver
capacita-o a compreender a relago entre suas atividades pessoais e a politica: “A pri-
meira consciéncia direta de poder politico vem da apreensdo dos corpos em massa’.
Recontar aquele momento também Ihe possibilita a explicagao do objetivo de seu livro:
mostrar um “quadro nitido, preciso e detalhado das instituigdes sexuais piblicas
existentes” de modo que outros possam aprender e explord-las (M, pp. 174-176; a
Proj. Histéria, Sao Paulo, (16), fev. 1998 299
énfase € minha). O conhecimento é adquirido através da visaio; a visio € uma apreensio
direta de um mundo de objetos transparentes, Nesta conceitualizacao o visivel € privi-
legiado; escrever é, portanto, colocado a seu servigo.’ Olhar é a origem do saber. Es-
crever & reprodugo, transmisso — a comunicagao do conhecimento adquirido através
de experiéncia (visual, visceral).
Hé4 muito tempo esse tipo de comunicagio tem sido a missdo de historiadores que
documentam as vidas das pessoas omitidas ou negligenciadas em relatos do passado.
Ela produziu uma riqueza de novas evidéncias anteriormente ignoradas sobre essas pes-
soas, chamou a atengdo para dimensées da atividade e da vida humanas normalmente
consideradas indignas de mengo para serem citadas nas histérias convencionais. Essa
abordagem também provocou uma crise na histéria ortodoxa ao multiplicar nao apenas
historias mas também temas, e ao insistir que histérias so escritas de perspectivas ou
pontos de vista fundamentalmente diferentes — na verdade inconciliéveis — nenhum
dos quais completo ou totalmente verdadeiro. Como as memérias de Delany, essas
histérias tém fornecido evidéncias de um mundo de praticas e valores alternativos cuja
existéncia desmente construgdes hegeménicas de mundos sociais, sejam essas constru-
des suporte para a‘ superioridade politica do homem branco, a coeréncia e unidade de
individualidades, a naturalidade da monogamia sexual, seja a inevitabilidade de pro-
gresso cientifico e desenvolvimento econdmico. O desafio a histéria normativa tem sido
descrito, em termos de entendimentos hist6ricos convencionais de evidéncia, como uma
ampliagdo do quadro, uma corregao do que foi negligenciado como resultado de uma
visio incerreta ou incompleta, e tem reivindicado legitimidade sobre a autoridade da
experéncia, a experiéncia direta de outros, bem como a do historiador que aprende a
observar ¢ iluminar a vida desses outros em seus textos.
Documentar a experiéncia de outros dessa forma j4 foi no passado uma estratégia
altamente bem-sucedida, e ao mesmo tempo limitadora para historiadores da diferenga.
Bem-sucedida porque se mantém de modo bastante confortaével dentro da estrutura dis-
ciplinar da hist6ria, trabalhando de acordo com regras que permitem colocar velhas
narrativas em questao quando nova documentagao é descoberta. O status de prova é
ambiguo para historiadores. Por um lado, eles reconhecem que “evidéncia apenas conta
como evidéncia e é apenas reconhecida como tal em relagdo a uma narrativa potencial,
3 Sobre a distingdo entre ver e escrever em formulagées de identidade, veja Homi K. Bhabha, “Interrogating
Wentity”. In Identily: the real me, ed. Lisa Appignanesi (Londres, 1987), pp. 5-11.
300 Proj, Histéria, Sao Paulo, (16), fev. 1998
de forma que a narrativa possa ser considerada como determinante da evidéncia, tanto
quanto a evidéncia determinante da narrativa’.* Por outro lado, o tratamento retérico
que os historiadores dao aos documentos e o uso que deles fazem para refutar inter-
pretagdes existentes depende de uma nogio referencial de evidéncia, que nega que ela
seja qualquer coisa, menos uma reflexdo do real.> A descrigo de Michel de Certeau €
pertinente. O discurso histérico, escreve ele
da a si mesmo credibilidade em nome da realidade que ele deve representar, mas esta
apresentagao autorizada do “real” serve precisamente para camuflar a prdtica que na
verdade a determina. Assim, a representagdo esconde a praxis que a organiza.°
Quando a documentagiio apresentada diz respeito a experiéncia, a assergao de re-
ferencialidade é mais reforcada, o que afinal de contas poderia ser mais verdadeiro do
que 0 relato da prépria pessoa a respeito do assunto que ela vivenciou? E precisamente
este tipo de apelo a experiéncia como prova incontestével e como ponto de explicagéo
originério — como fundamento sobre o qual a andlise se baseia — que enfraquece o
impulso critico de histérias da diferenga. Ao permanecerem dentro da moldura episte-
molégica da hist6ria ortodoxa esses estudos perdem, primeiramente, a possibilidade de
examinar pressuposi¢Ges e praticas que excluiram consideragées de diferenga. Tomam
como auto-evidentes as identidades daqueles cuja experiéncia est4 sendo documentada
e, dessa forma, tornam naturais suas diferengas. Estes estudos localizam a resisténcia
fora de sua construcao discursiva e ratificam a representagdo como um atributo inerente
aos individuos, descontextualizando-a. Quando a experiéncia é tomada como origem do
conhecimento, a visdo do sujeito (a pessoa que teve a experiéncia ou o historiador que
a reconta) torna-se 0 suporte da evidéncia sobre a qual a explicagdo é elaborada. Ques-
tées sobre a natureza construida da experiéncia, como assuntos sdo constituidos como
diferentes, como a visdo de alguém é estruturada — sobre linguagem (discurso) e his-
téria — s&o deixadas de lado. A visibilidade da experiéncia se torna entdo evidéncia
4° Gossman, L. Towards a Rational Historiography, Transational of the American Philosophical Society,
ns. 79, pt. 3 (Philadelphia, 1989), p. 26.
5 Sobre o modelo “documentério” ou “objetivista” usado por historiadores, veja LaCapra, D. “Rhetoric and
History", History and Criticism (Ithaca, Nova York, 1985), pp. 15-44.
6 De Certeau, M. “History: Science and Fi 1". In Heterologies: Discourse on the Other, trad. Brian
Massumi (Minneapolis, 1986), p. 203; daqui por diante abreviado como H.
Proj. Historia, Sao Paulo, (16), fev. 1998 301
para o fato da diferenga, em vez de se tornar uma forma de explorar como a diferenga
€ estabelecida, como ela opera, ¢ como e de que maneira constitui sujeitos que véem
e atuam no mundo,”
Em outras palavras, a experiéncia, concebida tanto por meio de uma metafora de
visibilidade, quanto por outro modo que tome o significado como transparente, reproduz,
mais que contesta, sistemas ideolégicos dados — aqueles que presumem que os fatos
da histéria falam por si mesmos e aqueles que se fundamentam em idéias de uma
oposigao natural ou estabelecida entre, digamos, prdticas sexuais e convengdes sociais,
ou entre homossexualidade e heterossexualidade. Historias que documentam o mundo
escondido da homossexualidade, por exemplo, mostram o impacto do siléncio e repres-
s&o nas vidas que foram afetadas e trazem a luz a hist6ria de como foram suprimidos
¢ explorados. Mas 0 projeto de tornar a experiéncia visfvel impede o exame critico do
funcionamento do sistema ideolégico em si, suas categorias de representacZo (homos-
sexual / heterossexual, homem / mulher, branco / negro como identidades fixas imuté-
veis), suas premissas sobre 0 que essas categorias significam e como elas operam, e de
suas idéias de sujeito, origem e causa. Praticas homossexuais sio vistas como resultado
do desejo, concebido como forga natural operando fora ou em oposigao a regras sociais.
Nessas historias a homossexualidade é apresentada como um desejo reprimido (expe-
riéncia negada), feita para parecer invisivel, anormal e silenciada por uma sociedade
que legisla a heterossexualidade como a tnica pratica normal.’ Uma vez que esse tipo
7 Visio, como Donna Haraway mostra, nao é uma reflexio passiva, “Todos os olhos, incluindo os organicos,
so sistemas perceptivos ativos, construindo tradugdes e maneiras especificas de ver — quer dizer,
maneiras de vida” (Donna Haraway, “Situated knowledges: the science question feminism and the
privilege of partial perspective", Feminist Studies 14 (outono 1988), p. 583). Em outro ensaio, ela
trata mais detalhadamente a metifora dtica: “Os raios de meu aparelho stico difrazem mais que
refletem. Esses raios difratores compdem padrées de interferéncia, nio imagens refletidas... Um
padréo de difragdo no mapeia onde essas diferengas aparecem, mas sim onde os efeitos dessas
diferengas aparecem”. (Haraway, “The promisses of monsters: reproductive politics for inappropriate/d
others”, datilografado). Veja ainda a discusso de Minnie Bruce Pratt sobre seu olho que “6 deixa
entrar 0 que fui ensinada a ver”, em seu texto “Identity: Skin Blood Heart”, em Elly Bulkin, Pratt,
¢ Barbara Smith, Yours in struggle: three feminist perspectives os anti-semitism and racism
(Brooklin, Nova York, 1984), e a andlise do ensaio autobiogréfico de Pratt por Biddy Martin e Chandra
Talpade Mohanty, “Feminist politics: what's home got to do with it?”. In De Lauretis, T. (ed.), Feminist
Studies/ Critical Studies (Bloomington, Ind., 1986), pp. 191-212.
8 Sobre a natureza disruptiva, anti-social do desejo, ver Bersani, L. A future for Astyanax: character and
desire in literature (Boston, 1976).
302 Proj. Histéria, Sao Paulo, (16), fev. 1998
de desejo homossexual nao pode, em tltima insténcia, ser reprimido — uma vez que
a experiéncia existe — instituigdes sdo inventadas para acomodé-lo. Essas instituigdes
realmente ndo s4o reconhecidas, muito embora nao sejam invisfveis; na verdade, é a
possibilidade de que possam ser vistas que ameaca a ordem e, em tltima andlise, supera
a repressao. Resisténcia e atuagao sao representadas como dirigidas por desejo incon-
troldvel; emancipagao € uma histéria teleolégica na qual o desejo, por fim, vence o
controle social e se torna visfvel. A hist6ria é uma cronologia que torna as experiéncias
visfveis, mas na qual as categorias aparecem, entretanto, como a-histéricas: desejo, ho-
mossexualidade, heterossexualidade, feminilidade, masculinidade, sexo, e mesmo prati-
cas sexuais tornam-se de tal modo entidades fixas, vivenciadas através do tempo, mas
que nao sio em si préprias historicizadas. Apresentar a hist6ria dessa forma exclui, ou
pelo menos descarta, o inter-relacionamento historicamente varidvel entre os sentidos
“homossexual” e “heterossexual”, a forga constitutiva recfproca e a natureza mutdvel
contestada do terreno que cles ocupam simultaneamente. “A importéncia — uma im-
portancia — da categoria ‘homossexual’”, escreve Eve Kosofsky Sedgwich,
vem nao necessariamente de sua relagdo regulat6ria com uma minoria emergente ou
{4 constituida de pessoas ou desejos homossexuais, mas de seu potencial para dar a
qualquer um que cmpunhe armas contrérias uma alavanca de definigao estruturante
sobre todo o espectro de lagos masculinos que dio forma a constituigao social.”
Nao apenas a homossexualidade define a heterossexualidade especificando seus
limites negativos, e ndo apenas as fronteiras entre ambas é mutavel, mas ambas operam
dentro das estruturas da mesma “economia félica” — uma economia cujos funciona-
mentos ndo sao levados em considerag&o pelos estudos que procuram apenas tornar a
experiéncia homossexual visivel. Uma maneira de descrever essa economia é dizer que
© desejo € definido pela perseguigao ao falo — aquele significante velado e evasivo
que est4 imediata e totalmente presente mas inatingivel, e que conquista seu poder
através da promessa que ele contém mas que nunca cumpre inteiramente.'° Teorizado
9 Sedgwich, E. K. Between Men: English literature and male homosocial desire (Nova York, 1985), p. 86.
10 Ver Gallop, J. The daughter seduction: feminism and psychoanalysis (Ithaca, Nova York, 1982); de
Lauretis, Alice doesn’t: Feminism, semiotics, cinema (Bloomingdon, Ind,, 1984), especialmente 0
capitulo 5, “Desire in narrative”, pp. 103-57; Sedgwick, Between Men; ¢ Lacan, J. “The signification
of the phallus”, Ecrits: A selection. Trad. Alain Sheridan, Nova York, 1977, pp. 281-91.
Proj. Historia, Sao Paulo, (16), fev. 1998 303
Você também pode gostar
- Fichamento de SCOTT Joan Gênero Uma Categoria Útil para Análise HistóricaDocumento3 páginasFichamento de SCOTT Joan Gênero Uma Categoria Útil para Análise Históricamyatan666Ainda não há avaliações
- Quem Tem MedoDocumento196 páginasQuem Tem MedoFábio Lula Da Silva Fernandes100% (1)
- Appiah Identidade Como Problema PDFDocumento18 páginasAppiah Identidade Como Problema PDFmyatan666Ainda não há avaliações
- Conversation 1450215170927Documento6 páginasConversation 1450215170927myatan666Ainda não há avaliações
- Anotações Durante A Leitura de Fichamento de A Tecnologia de Gênero - Tereza de LauretisDocumento5 páginasAnotações Durante A Leitura de Fichamento de A Tecnologia de Gênero - Tereza de Lauretismyatan666Ainda não há avaliações