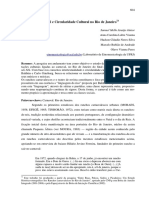Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
CLIFFORD, J. Introdução - Verdades Parciais. in A Escrita Da Cultura PDF
CLIFFORD, J. Introdução - Verdades Parciais. in A Escrita Da Cultura PDF
Enviado por
alvaroneder0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
216 visualizações32 páginasTítulo original
CLIFFORD, J. Introdução_verdades parciais. In A Escrita Da Cultura.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
216 visualizações32 páginasCLIFFORD, J. Introdução - Verdades Parciais. in A Escrita Da Cultura PDF
CLIFFORD, J. Introdução - Verdades Parciais. in A Escrita Da Cultura PDF
Enviado por
alvaronederDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 32
A ESCRITA DA CULTURA:
POETICA E POLITICA DA ETNOGRAFIA
James Clifford e George E. Marcus
Organizacio
‘Traducio:
Maria Claudia Coelho
dD
uer] a
SELVAGENS
Rio de Janeiro
2016
Introducao: Vetdades patciais
James Clifford
trabalho interdisciplinar, tao discutido hoje em dia, nao
se refore ao confronto entre disciplinas jd consttuédas (ne~
niuma delas, na verdade, quer se deixar desfazer). Para
focer algunas coisa interdiseiphinar, nao basta escolber aim
“qhjeto” (umn tema) e colocar i sua volta duas om trés
Gncias, A interdisciplinaridade consiste em eriar tm now
objeto que niio pertence a ninguém.
Roland Barthes, “Jeunes chercheurs”.
ocd vai precisar de mais mesas do que imagina.
Elenore Stith Bowen,
conselho para o trabalho de campo,
em Return to laughter.
Nosso frontispicio mostra Stephen Tyler, um dos colaboradores deste
volume, trabalhando na india, em 1963. O etndgrafo esta absorto, escre-
vendo — anota algo que Ihe é ditado? labora uma interpretacio? Registra
uma observacio importante? Rabisca um poema? Curvado no calor, tem um
pano molhado pendurado sobre 08 dculos. Nao se pode ver sua expresso.
“tras dele, um interlocutor olha para longe — com tédio? Paciéncia? Diver-
imento? Nesta imagem, o emégrafo esté na borda do quadro — sem rosto,
quase extraterreno, uma mio que escreve, Este nfo € 0 retrato coma do
szabatho de campo antropol6gico. Estamos mais acostumados a imagens de
Margaret Mead brincando exuberante com criancas, em. Manus, ou fazendo
32 A cscrita da cultura: pottica e politica da etnografia
perguntas 20s aldedes, em Bali. A observagio participate, a formula clés-
sica do trabalho antropolégico, deixa pouco espaco para textos. Mas, ainda
assim, perdido em algum lugar em seu relato do trabalho de campo entre os
pigmeus Mbuti — correndo por trilhas na mata, sentado noite cantando,
dormindo em uma cabana de folhas lotada —, Colin Turnbull menciona que
carregava pata todos os lados uma mquina de escrever.
Nos Argonautas do Pacifico Ocidental, de Bronislaw Malinowski, em que
uma fotografia da tenda do etaégrafo, em meio as habitagdes de Kiriwina, €
exibida com destaque, nfio ha qualquer exposi¢ao do interior da tenda. Mas
em outra foto, em uma pose cuidadosa, Malinowski registrou a si mesmo
escrevendo a uma mesa. (A tenda esti aberta; ele est4 de perfil ¢ alguns
trobriandeses esto do lado de fora, e observam aquele tito curioso.) Essa
notivel fotografia s6 foi publicada dois anos atris — um sinal dos nossos
tempos, e nio dos dele.' Principiamos no com observacio participante ou
textos culturais (passiveis de interpretacio), mas com a escrita, a constru-
cho de textos. A escrita nfo é mais uma dimensio marginal, ou oculta, mas
vem surgindo como central para aquilo que os antropdlogos fazem, tanto no
campo quanto no que a ele se segue. O fato de que até recentemente a escrita
nao tenha sido retratada ou seriamente discutida reflete a persisténcia de uma
ideologia que reivindica a transparéncia da representacio e 0 imediatismo
da experiéncia. A esctita reduzida a um método: boas anotagdes de campo,
elaboracio de mapas precisos, “redacio minuciosa” de resultados.
Os ensaios aqui reunidos afirmam que essa ideologia se desintegrou.
Neles, a cultura é vista como composta por representages € codigos se-
riamente contestados; neles, assume-se que 0 poético € 0 politico sao in-
separiveis, que a ciéncia esta nos processos histéricos e linguisticos, ¢ nfo
acima deles, Os textos pattem do principio de que os génetos académicos e
literdtios se interpenetram e que a escrita de desctigdes culturais € propria-
mente experimental e ética. Seu foco na construcio de textos e na retérica
serve para destacar a natureza artificial e construida dos relatos culturais.
Esse foco mina modos de autoridade abertamente transparentes ¢ chama
a atencio para as condicGes histéricas da etnografia, para o fato de que a
etnografia esti sempre enredada na invengio, e nfo na tepresentacio das
1 Malinowski, 1961, p. 17. A fotografia dentro da tenda foi publicada, em 1983, por George
Stocking, em History of Anthropology 1, p. 101. O volume contém outras cenas zeveladoras da
escrita emogrifica,
Introdugio: Verdades parciais 33
culturas (Wagner, 1975). Conforme ficara evidente nas préximas paginas, a
gama de tépicos abordados nio é literdria, no sentido tradicional. A maior
parte dos ensaios, embora enfoquem priticas textuais, vio além dos textos,
adentrando contextos de poder, resisténcia, constrangimentos institucionais
e inovacdes.
A tradiclio etnografica é aquela de Herddoto e do Persa de Montes-
quieu. Essa tradicao olha de forma obliqua para todos os arranjos coletivos,
distantes ou prdximos. Ela transforma o estranho em familiar, 0 exético em
cotidiano. A etnografia cultiva uma clareza engajada, como aquela instada
por Virginia Woolf:
Que nunca patemos de pensar — 0 que é esta “civilizagio” na qual nos en-
contramos? O que sio estas ceriménias ¢ por que devemos participar delas?
© gue sio estas profissdes ¢ por que devemos ganhar dinheizo com elas?
Aonde, em resumo, isso est nos levando, esse cortejo dos filhos de homens
educados? (Woolf, 1936, pp. 62-63).
A etnografia situa-se ativamente entre poderosos sistemas de significa-
dos. Coloca suas questdes nas fronteiras entre civilizacées, culturas, classes,
racas € géneros. A etnografia decodifica e recodifica, revelando as bases da
ordem coletiva e da diversidade, da inclusao e da exclusio. Ela descreve pro-
cessos de inovacio de estruturacio e faz parte, ela mesma, desses processos.
‘A etnografia é um fendmeno interdisciplinar emergente. Sua autori-
dade ¢ sua retérica espalharam-se por muitas 4reas em que a “cultura” é um
objeto problematico recente de descri¢io e critica. Este livro, embora parta
do trabalho de campo e de seus textos, abre-se para a pratica mais abran-
gente de escrever sobre, contra e entre culturas. Este taio de agao de alcance
indefinido inclui, para citar apenas algumas perspectivas em desenvolvimen-
to, a etnografia histérica (Emmanuel Le Roy Ladurie, Natalie Davis, Carlo
Ginzburg), a poética cultural (Stephen Greenblatt), a critica cultural (Hayden
White, Edward Said, Fredric Jameson), a andlise do conhecimento implicito
e das praticas cotidianas (Pierre Bourdieu, Michel de Certeau), a critica das
estruturas hegeménicas de sentimento (Raymond Williams), o estudo de co-
munidades cientificas (seguindo Thomas Kuhn), a semiética dos mundos
exéticos € dos espacos fantasticos (T'zvetan ‘Todorov, Louis Martin) e todos
34 Acscrita da cultura: pottica¢ politica da emografia
aqueles estudos que abordam sistemas de significados, tradices em conflito
ou artefatos cultutais.
Essa complexa érea interdisciplinar, cuja abordagem toma aqui, como
ponto de partida, uma crise na antropologia, é diversa ¢ esté em transforma
cao. Por isso, nao quero impor uma falsa unidade aos ensaios exploratérios
que se seguem. Embora compartilhem uma simpatia getal por abordagens
que combinam poética, politica ¢ hist6ria, eles divergem varias vezes entre si.
Muitas contribuicdes combinam teoria literiria e etnografia. Algumas explo-
ram os limites dessas abordagens, sublinhando os petigos do esteticismo ¢ os
constrangimentos do poder institucional. Outras defendem ardorosamente
formas experimentais de escrita. Mas, cada qual a seu modo, todas analisam
priticas atuais e passadas a partir de um compromisso com possibilidades
futuras, Veem a escrita etnogafica como inventiva, em estado de transfor-
macio: “a Historia”, nas palavras de William Carlos Williams, “deveria ser
pata nds como a mio esquerda de um violinista”.
Hk
‘As abordagens “literétias” vém, nos tiltimos tempos, ganhando certa
popularidade nas ciéncias humanas. Na antropologia, esctitores influentes
como Clifford Geertz, Victor Turner, Mary Douglas, Claude Lévi-Strauss,
Jean Duvignaud e Edmund Leach, para mencionar apenas alguns, demons-
traram interesse pela teotia ¢ prética literdrias. Cada um a sua maneira, bor-
raram a fronteira que separa arte e ciéncia. Mas essa atracio nfo é inédita. As
identificagdes autorais de Malinowski (Conrad, Frazet) so bem conhecidas.
Margaret Mead, Edward Sapir ¢ Ruth Benedict viam a si mesmos como ao
mesmo tempo antropdlogos e artistas literarios. Em Paris, 0 surrealismo e a
etnografia profissional trocavam zegularmente tanto ideias quanto pessoas.
‘Mas, até tecentemente, as influéncias literdrias foram mantidas 4 distancia do
cemne “‘rigoroso” da disciplina. Sapir e Benedict tiveram, afinal, que escon-
der sua poesia do olhar cientifico de Franz Boas. E, embora os etndgrafos
tenhham sido muitas vezes chamados de romancistas mangué (ptincipalmente
aqueles que esctevern um pouco bem demais), a nocio de que procedimen-
tos literftios perpassam qualquer trabalho de representagio cultural € uma
ideia nova na disciplina. Pata um nmimero cada vez maior, contudo, a “na-
cureza literéria” da antropologia — ¢, particulatmente, da etnografia — parece
Introducio: Verdades parciais 35
ser muito mais do que uma questo de esctever bem ou de ter um estilo
particular? Os processos literarios — metiifora, figuragio, narrativa — afe-
tam as formas como fendmenos culturais so registrados, desde as ptimeiras
“observagdes” rabiscadas até a versio final do livro, até chegar 4 forma como
essas configuragdes “fazem sentido” em atos de leitura especificos.*
Jé ha muito se afirma que a antropologia cientifica é também uma
“arte”, que as etnografias tém qualidades literdrias. Escutamos com frequén-
cia que um autor escreve com estilo, que determinadas descrigdes sio vividas
ow convincentes (mas qualquer descrigdo precisa nfo deveria ser convincen-
te?), Uma obra é considerada evocativa ou artisticamente composta, além de
ser factual; fungdes expressivas ou retéricas sfio concebidas como decotati-
vas ou apenas como maneiras de apresentar uma anélise ou descricéo objeti-
va de forma mais eficaz. Assim, os fatos podem ser mantidos separados, a0
menos em prinefpio, de seu meio de comunicacio. Mas as dimensées litera-
sia ow ret6rica da etnografia nao podem mais ser compartimentalizadas tio
facilmente. Elas atuam em todos os niveis da ciéncia cultural. Na verdade, a
propria nogdo de uma abordagem ““literéria” de uma disciplina, a “antropo-
logia”, é seriamente enganosa.
Os ensaios aqui teunidos nfo representam uma tendéncia ou perspec-
tiva dentro de uma “antropologia” coerente (pace Wolf, 1980). A defini¢io
da disciplina no modelo dos “quatro campos” — da qual Boas foi, talvez, 0
iltimo virtuoso — inclufa a antropologia fisica (ou biolégica), a atqueologia,
2 antropologia cultural (ou social) ¢ a linguistica. Poucos argumentatiam,
hoje, a sério que esses campos compartilham uma abordagem ou objeto uni-
ficados, embora 0 sonho continue, gracas, em larga medida, a arranjos ins-
titucionais. Os ensaios deste volume ocupam um novo espaco aberto pela
desintegracio do “Homem?” como #e/as de toda uma disciplina, ¢ recorrem a
desenvolvimentos recentes nos campos da critica textual, da historia cultural,
da semidtica, da filosofia hermenéutica ¢ da psicandlise. HA alguns anos, em
> Uma lista parcial de obras que exploram esse campo em expansio do “literitio” na antropo-
logia inclui (sem mencionar os colaboradotes deste volume): Boon (1972, 197, 1982); Ge-
extz (1973, 1983); ‘Turner (1974, 1975); Fernandez (1974); Diamond (1974); Duvignaud (1970,
1973); Favret-Saada (1980); Favret-Saada e Contreras (1981); Dumont (1978); Tedlock (1983);
Jammin (1979, 1980, 1985); Webster (1982); Thornton (1983, 1984).
> Para uma teoria tropologica de realidades “pré-figuradas”, vet a obta de Hayden White (1973,
1978); ver, também, Latour ¢ Woolgar (1979), para uma concep¢io da atividade cientifica
como “inscricio”.
3: poéticae politica da etnografia
um ensaio vigoroso, Rodney Needham passou em teyista as incoeréncias te-
dricas, as raizes entrelacadas, as companhias impossiveis e as especializagdes
divergentes que pareciam estar conduzindo a uma desintegracio intelectual
da antropologia académica. Ele sugeriu, com uma imparcialidade ir6nica, que
© campo poderia, em breve, ser redistribuido por diversas disciplinas vizi-
nhas. A antropologia, em sua forma atual, iria passar por uma “metamorfose
iridescente” (Needham, 1970, p. 46). Este conjunto de ensaios faz parte des-
sa metamorfose.
Mas, se sio pés-antropologicos, séo, também, pés-literirios. Michel
Foucault (1973), Michel de Certeau (1983) e Tetry Eagleton (1983) argumen-
taram recentemente que “literatura” é, em si mesma, uma categoria transi-
téria. Desde o século XVII, sugerem eles, a ciéncia ocidental teria excluido
certos modos expressivos do seu repertorio legitimo: a retdrica (em nome
da significagao transparente e “evidente”), a fic¢io (em nome do fyto) e a
subjetividade (em nome da objetividade). As qualidades eliminadas da ci-
éncia foram alocadas na categoria de “literatura”. Os textos literarios eram
considerados metaféricos ¢ alegdricos, compostos de invengGes ao invés de
fatos observados; concediam ampla elasticidade as emogées, as especulaces
¢ a0 “génio” subjetivo de seus autores. De Certeau observa que as ficcGes
da linguagem literaria cram cientificamente condenadas (e esteticamente
apreciadas) por carecerem de “univocidade”, do relato supostamente sem
ambiguidades da ciéncia natural e da historia profissional. Nesse esquema, 0
discurso da literatura e da ficco é inerentemente instavel; ele “joga com a es-
tratificacio do sentido; narra uma coisa para dizer outta; esboca a si mesmo
em uma linguagem da qual retira continuamente efeitos de significado que
no podem ser circunscritos ou verificados” (De Certeau, 1983, p. 128). Esse
discurso, reiteradamente banido da ciéncia, mas com sucesso irregular, é in-
cutavelmente figurativo e polissémico. (Sempre que seus efeitos comecam
a ser sentidos muito abertamente, um texto cientifico parecera “literario”;
a impressio sera de que usa metéforas demais, de que se apoia no estilo, na
evocacao etc.)*
“Pode-se objetar que estilo figurativo nao é o unico estilo, ou mesmo 0 tinico estilo poético, e
‘que a ret6tica também esta presente naquilo que € chamado de estilo simples. Mas, na verda-
de, esse € apenas um estilo menos decorado, ou melhor, um estilo decorado de maneira mais
simples, ¢ ele tem também, como 0 litico 0 épico, suas proprias figuras especiais. Um estilo
do qual a figura esteja estritamente ausente nfo existe”, afirma Gérard Genette (1982, p. 47).
Introdugio: Verdades parciais, | 37
Por volta do século XIX, a literatura havia despontado como uma
instituicao burguesa intimamente aliada da “cultura” e da “arte”. Raymond
Williams (1966) mostra como essa sensibilidade especial e refinada funciona-
+a como uma espécie de tribunal de recutsos, em reagao aos deslocamentos
© A vulgatidade atribuidos & sociedade industrial de classes. A literatura ¢ 2
arte eram, de fato, zonas circunscritas, nas quais os valores “mais clevados”
nio utilitatios eam preservados. Ao mesmo tempo, exam dominios para
encenacio de transgress6es expetimentais € avant-garde. Sob essa luz, as
Formacdes ideol6gicas da arte ¢ da cultura nao tém qualquer sfafus essencial
ou eterno. Encontram-se em mudanga ¢ em contestagio, como a retérica
especial da “literatura”. Os ensaios que se seguem nfo recorrem, na verdade,
2 uma pritica literétia demarcada como um dominio humanizados, estético
ou criativo, Lutam, cada um a seu jeito, contra as definigbes prontas de arte,
Ireratura, ciéncia ¢ historia. E, se as vezes sugetem que a etnografia ¢ uma
“arte”, devolvem a palavra a um uso mais antigo — antes que fosse associada
2 uma sensibilidade mais elevada ou rebelde -, a0 significado que tinha no
<éculo XVII, tal como recuperado por Williams: a arte como modelagem
habilidosa de artefatos uteis. A construcio da etnografia é artesanal, ligada ao
srabalho mundano da escrita.
‘A eserita etnografica é determinada a0 menos de seis maneitas: (1)
contextualmente (cla ctia e se apoia em meios sociais significativos); (2) reto-
ricamente (usa e é usada por convengGes expressivas); (3) institucionalmente
escreve-se dentro, e contra, tradig6es, disciplinas e publicos especificos); (4)
do ponto de vista do género (uma etnografia pode, geralmente, ser distingui-
«
da de um romance on de um relato de viagem); (5) politicamente (a autosi-
dade para septesentar realidades culturais € distribuida de forma desigual e,
por vezes, contestada); (6) historicamente (todas as convencoes € constran-
gimentos acima esto em mudanca). Essas determinacdes regulam 0 registro
de ficgdes etnograficas coerentes.
Chamar etnografias de ficcdes pode suscitar contendas empiticistas.
Mas a palavra, tal como vem sendo comumente utilizada na teoria textual
recente, perdea sua conotacio de falsidade, de algo que apenas se opde 2
verdade. Sugere a parcialidade das verdades culturais e hist6ricas, as formas
nas quais so sisteméticas e exclusivas. Os esctitos etnogrificos podem ser
adequadamente chamados de ficgBes no sentido de “algo feito ou mode-
lado”, 0 que é o sentido principal da raiz latina da palavea, fingere. Mas €
38 A cscrita da cultura: poética e politica da etnogralia
importante preservar o sentido nio apenas de construcio, mas também de
ctiagio, de invengao de coisas que nao sao de fato reais. (Fingere, em alguns
de seus usos, implica certo grau de falsidade.) Os cientistas sociais inter-
ptetativistas come¢aram, recentemente, a encarar as boas etnografias como
“fiegdes verdadeizas”, mas, em geral, a0 pteco de enfraquecer o oximoro,
reduzindo-o @ alegagiio banal de que todas as verdades so construidas. Os
ensaios aqui reunidos preservam a perspicdcia do oximoro. Por exemplo,
Vincent Crapanzano retrata os etndgrafos como malandros, prometendo,
como Hermes, nio mentit, mas sem nunca se comprometer também a con-
tar toda a verdade. Sua retérica fortalece ¢ subverte sua mensagem. Outros
ensaios reforcam 0 ponto ¢ enfatizam que as ficgdes culturais se baseiam em
exclusdes sistematicas e questiondveis. Essas exclusées podem envolver 0
silenciamento de vozes incongruentes (“O caso de Dois Corvos nega isso!”)
ou 0 emprego recorrente de uma forma de citar, “falando em some de”,
traduzindo a realidade dos outros. Circunstincias histdricas ou pessoais su-
postamente irrelevantes também serio excluidas (nao se pode contar tudo).
Além disso, 0 ctiador (mas por que somente um?) de textos etnograficos
nao pode evitar figuras de linguagem, imagens ¢ alegorias que selecionam
¢ impdem sentido 4 medida que o traduzem. Nesta visio, mais nietzschiana
do que tealista ou hermenéutica, todas as verdades construfdas sao tornadas
possiveis pot meio de “mentiras” poderosas de exclusio e retérica. Mesmo
os melhores textos etnograficos — ficcSes sétias, verdadeiras — so sistemas,
ou economias, de verdade. O poder e a histéria atuam por seu intermédio,
de formas sobre as quais os autores nfo tém pleno controle.
As verdades etnograficas so, assim, inerentemente parviais— engajadas
€ incompletas. O ponto é hoje amplamente reiterado — e questionado em
aspectos estratégicos por aqueles que temem o colapso de padrées claros
de verificagio. Mas, uma vez aceito e incorporado @ arte etnografica, um
senso tigoroso de parcialidade pode set uma fonte de juizo representacio-
nal. Uma obra recente de Richatd Price, First-Time: The historical vision of an
Afro-American people (1983), € um bom exemplo de parcialidade séria ¢ auto-
consciente. Price reconta as condigées especificas de seu trabalho de campo
entre os Saramaka, uma sociedade Maroon do Suriname. Somos informados
a respeito dos limites externos ¢ autoimpostos da pesquisa, sobre informan-
tes especificos e sobre a construcio do artefato escrito final. (O livro evita
uma forma aplainada, monolégica, apresentando-se literalmente como uma
montagem, cheia de buracos.) First-Time € uma evidéncia do fato de que
Inerodugio: Verdades parciais, 39
uma autoconsciéncia politica e epistemol6gica aguda nio precisa levar a uma
antoabsoroio etnogrifica, ou A conclusio de que é impossivel ter certeza de
qualquer coisa sobre outros povos. Em vez disso, 0 livro nos conduz a uma
percepgio concreta de por que um conto popular Saramaka, nartado por
Price, ensina que “conhecimento é poder, e que nunca se deve revelar tudo
o que se sabe” (Price, 1983, p. 14).
Uma complexa técnica de revelagio ¢ de segredo regula a comunica-
co (reinvengiio) do conhecimento dos “Primeiros Tempos”, um saber so-
bre as lutas cruciais da sociedade pela sobrevivéncia no século XVIII. Com
© emptego de técnicas de frustracio, digressio ¢ incompletude deliberadas,
os anciZos transmitem seu conhecimento histérico aos parentes masculinos
mais jovens, de preferéncia na hora do canto do galo, que antecede ama-
shecer, Essas estratégias elipticas, de ocultacio e revelacio parcial, determi-
nam as relagdes etnograficas tanto quanto a transmissao de hist6rias entre
gerages. Price tem que aceitar 0 fato paradoxal de que
[..] qualquer natrativa Saramaka (inclusive aquelas natradas durante 0 canto
do galo, com a intengio explicita de comunicagio de conhecimento) deixara
de fora muito daquilo que o natrador sabe sobre 0 acontecimento em ques-
tio, O pressuposto é de que 0 conhecimento de uma pessoa deve aumentar
Ientamente, ¢ s6 se conta a alguém, sobre qualquer aspecto da vida, um pou-
quinho mais do que o falante supde que cle ja sabe (Price, op. cit, p. 10).
Logo se toma evidente que nfo existe um corpus “completo” de conhe-
cimento dos “Primeiros ‘Tempos”, que ninguém — ainda mais etnégtafo
visitante — pode ter acesso a esse saber, a nfo ser por meio de uma sétie
infinita de encontros citcunstanciais ¢ perpassados pelo poder. “Aceita-se
que os diversos histotiadores Saramaka terio versdes diferentes, ¢ cabe a0
ouvinte compot para si mesmo a versio de um acontecimento que ele, na-
quela ocasiio, aceita” (ibid., p. 28). Embora Price, o historiador e etndgrafo
escrupuloso, armado com a escrita, tenha construido um texto que supera
em extensio aquilo que os individuos sabem ou contam, esse texto, ainda
assim, “representa apenas a ponta do iceberg que os Saramaka preservam cole-
finamente sobre os Primeiros Tempos” (ibid., p. 25).
‘As questdes éticas levantadas pela formagio de um arquivo escrito de
um saber secteto € oral sfio consideraveis, e Price lida com elas abertamente,
40 Acscrita da cultura: poéticae politica da etnografia
Parte da solugio adotada foi minar a completude (mas niio a setiedade) de
seu préprio relato por meio da publicacio de um livro que é uma série de
fragmentos. O objetivo nio é indicar lacunas lamentaveis que permanecem
em nosso conhecimento acerca da vida Saramaka no século XVIII, mas, em
vez disso, apresentar um modo de conhecimento intrinsecamente imperfei-
to, que gera lacunas a medida que as preenche. Embora 0 proprio Price nio
esteja livte do desejo de esctever uma etnogtafia ou uma histéria completas,
de retratar “todo um modo de vida” (ibid., p. 24), a mensagem da parcialida-
de ecoa por todo 0 livto.
Os etnégtafos sio mais ou menos como 0 cacador Cree que (de acor-
do com a hist6ria) veio a Montreal para testemunhar em um julgamento
relativo ao destino das terras onde cacava, no novo projeto hidrelétrico de
James Bay. Ele deveria descrever seu modo de vida. Mas, quando foi fazer 0
juramento, hesitou: “Nao tenho certeza se posso dizer a vetdade... S6 posso
dizer 0 que sei”.
E importante lembrar que a testemunha falava de forma astuta, em
um determinado contexto de poder. Desde 0 ensaio seminal de Michel Lei-
ris, em 1950, “L’Bthnographe devant le colonialisme” (mas por que tio tar-
diamente?), a antropologia vem tendo que lidar com a determinacio hist6-
rica € 0 conflito politico em seu meio. Uma década veloz, de 1950 a 1960,
vin 0 fim do impétio transformar-se em um projeto amplamente aceito, se
nao um fato concreto. A “stixation colonialé’ de Georges Balandier tornou-se
siibrtaiare bviarel (19S5)RAs aelagUCStimipetiais ommnis'e iifotmaielalaNo
eram a regra aceita do jogo — a ser reformado gradativamente, ou ironica-
mente ultrapassado, de diversas maneiras. Essa “situagao” foi sentida, em
primeiro lugar, na Franca, em larga medida devido aos conflitos vietnamitas
e argelinos e através dos esctitos de um grupo etnogtaficamente consciente
de intelectuais e poetas negtos, o movimento négritude de Aimé Césaire, Lé-
opold Senghor, René Ménil ¢ Léon Damas. As paginas de Présence Africaine,
no inicio dos anos 1950, criaram um férum incomum pata a colaboragio
entre esses esctitores € cientistas sociais, tais como Balandier, Leiris, Marcel
Griaule, Edmond Ortigues e Paul Rivet. Em outtos paises, a crise de conscience
elo tit ponco nals tates Pade-se jpensar'no influctite: ensaiorde Jacques
Tnwodugio: Verdades parciais 41
Maquet, “Objectivity in Anthropology” (1964), em Reinventing Anthropology de
Dell Hymes, nas obras de Stanley Diamond (1974), Bob Scholte (1971, 1972,
1978), Gérard Leclere (1972) ¢, em particular, na coletinea Anthropology and
the colonial encounter de Talal Asad (1973), que estimulou um debate bastante
esclarecedor (Firth et al., 1977).
Nas imagens populares, o etndgrafo passou de um observador soli-
diario ¢ dotado de autoridade (cuja melhor encarnagio, talvez, seja Margaret
Mead) para a figura pouco lisonjeira retratada por Vine Deloria em Custer died
fr your sins (1969). Na verdade, o retrato negativo acentuou-se, por vezes, 20
ponto da caricatura — 0 ambicioso cientista social que se apropria do conhe-
cimento tribal sem oferecer coisa alguma em toca, divulga retratos toscos
de povos refinados ou (mais recentemente) se deixa iludir por informantes
sofisticados. Essas imagens sfo tao realistas quanto as vers6es heroicas an-
reriores da observacio participante. O trabalho etnografico de fato enredou-
se em um mundo de desigualdades de poder duradouras ¢ em estado de
sransformacio, e essas implicacdes continuam. Esse trabalho coloca em cena
relacdes de poder. Mas sua fungio nessas relacdes é complexa, por vezes
ambivalente, e potencialmente contra-hegeménica.
Em muitas partes do mundo surgem, hoje, regtas diferentes pata o
jogo da etnografia. Um estranho que estude as culturas nativas ameticanas
pode esperar, talvez como exigéncia para que possa continuar sua pesquisa,
ser chamado a testemunhat em favor de conflitos em torno de reivindicagdes
de terras. E muiltiplas restricdes formais so agora impostas ao trabalho de
campo pelos governos nativos, em niveis nacional ¢ local. Essas restrigdes
condicionam a partir de novas formas aquilo que pode, e, especialmente, que
nao pode ser dito sobre povos especificos. Uma nova personagem entrou
em cena: 0 “etndgrafo nativo” (Fahim (org), 1982; Ohnuki-Tierney, 1984).
Nativos que estudam suas proprias culturas oferecem novos angulos de vi-
s&o ¢ ptofundidade de entendimento. Seus relatos séo, ao mesmo tempo,
empoderados ¢ restritos, de formas muito particulares, As diversas regras
pos ¢ neocoloniais para a pratica etnogrifica no necessariamente geram re-
latos culturais “melhores”. Os critérios para se avaliar um bom telato nunca
foram definidos ¢ esto em transformacio. Mas o que surgiu a partir de todas
essas mudancas ideolégicas, alteracdes nas regras ¢ novos compromissos é
© fato de que uma sétie de pressdes histdricas comecou a reposicionar a
antropologia em relacio a seus “objetos” de estudo. A antropologia jé nao
fala com uma autotidade automatica em nome de outtos definidos como in-
42 Accrita da culeura: poéticae politica da exnografia
capazes de falar pot si mesmos (“primitivos”, “sem escrita”, “sem hist6ria”).
Outros grupos stio mais dificeis de alocar em tempos especiais, quase sempre
passados ou passando — representados como se nio estivessem envolvidos
em sistemas mundiais atuais, que ligam os etndgrafos com os povos que
estudam. As “culturas” no posam para fotografias. As tentativas de fazé-las
posat sempre envolvem simplificagdes ¢ exclusdes, a selegio de um foco
temporal, a construg&o de uma telagio eu-outto especifica € a imposicio ou
a nepociagio de uma relagao de poder.
‘A ctitica do colonialismo no perfodo do pés-guerta — uma fragilizacio
da capacidade do “Ocidente” de representar outtas sociedades — foi reforca-
da por um processo importante de teorizagao quanto aos limites da propria
representacio. Nao ha forma alguma de avaliar adequadamente essa critica
multifacetada daquilo a que Vico se referiu como 0 “poema sério” da his-
t6tia cultural, H4 uma proliferacio de posigdes: “hermenéutica”, “estrutu-
talismo”, “histéria das mentalidades”, “neomarxismo”, “genealogia”, “pds-
-estruturalismo”, “pés-modernismo”, “pragmatismo”; hd, também, uma
avalanche de “epistemologias alternativas” — feminista, étnica e nfo ociden-
tal. © que esta em questo, embora nem sempre seja admitido, é uma critica
em cutso dos discursos mais tipicos ¢ arraigados do Ocidente. Ha varias
filosofias que talvez tenham esse olhar critico implicitamente em comum.
Por exemplo, 0 deslindamento do logocentrismo de Jacques Derrida, dos
gregos a Freud, ¢ 0 diagnéstico bastante distinto de Walter J. Ong das conse-
quéncias da escrita compattillham uma rejeigo mais abrangente das formas
institucionalizadas pelas quais uma grande parte da humanidade construiu,
ha milénios, 0 seu mundo. Novos estudos histéricos dos padrdes hegems-
nicos de pensamento (o marxismo, a Ficole des Annales, o foucaultianismo)
compartilham com estilos recentes de critica textual (a semidtica, as teorias
da recepcio, 0 pés-estruturalismo) a conviccio de que aquilo que parece
“real” na histétia, nas ciéncias sociais, nas artes, ¢ até mesmo no senso co-
mum, pode sempre set analisado como um conjunto restritivo € expressivo
de cédigos e convengées sociais. A filosofia hetmenéutica em seus diversos
estilos, de Wilhelm Dilthey ¢ Paul Ricoeur a Heidegger, lembra-nos de que
os mais simples relatos culturais sio criagdes intencionais, que os intérpretes
constantemente constroem a si mesmos através dos outros que estudam. As
ciéncias da “linguagem” do século XX, de Ferdinand de Saussure e Roman
Jakobson a Benjamin Lee Whorf, Sapir ¢ Wittgenstein, tornaram impossivel
fagir as estruturas verbais sistematicas e situacionais que determinam todas
Tncrodugo: Verdades parciais 43
as representagoes da realidade. Finalmente, a volta da retérica a um lugar im-
portante em muitas Areas de investigacio (cla havia sido, durante milénios, 0
cerne da educagio ocidental) possibilitou uma anatomia detalhada de modos
expressivos convencionais. Aliada 4 semistica e 4 anilise do discurso, a nova
ret6rica esti voltada para o estudo daquilo que Kenneth Burke chamou de
“esttatégias para englobar as situacdes” (Burke, 1969, p. 3). Trata-se menos
de como falar bem do que de como falar, e de como agir de forma significa-
tiva, em um mundo de simbolos culturais publicos.
© impacto dessas criticas est comegando a se fazer sentir na percep-
co da etnografia em relagio a seu proprio desenvolvimento. Histérias no
celebratérias esto se tornando comuns. As novas histérias tentam evitar o
mapeamento da descoberta de algum saber atual (as origens do conceito de
cultura, e por af vai); e so suspeitas de promover ou destituir precursores
intelectuais com 0 objetivo de confirmar um patadigma especifico. (Para essa
liltima abordagem, ver Harris [1968] e Evans-Pritchard [1981]). Ao invés
disso, as novas hist6tias tratam as ideias antropolgicas como enredadas nas
priticas locais e nos constrangimentos institucionais, como solugdes circuns-
tanciais e muitas vezes “politicas” para problemas culturais. Elas entendem a
ciéncia como um ptocesso social. Enfatizam as descontinuidades historicas,
bem como as continuidades, das priticas passadas ¢ atuais, coma mesma fre-
quéncia com que fazem 0 conhecimento atual parecer permanente, estivel.
A autoridade de uma disciplina cientifica, nesse tipo de relato histérico, sera
sempre mediada pelas reivindicacées de retdrica ¢ de poder?
Outro impacto importante da critica politico/tedrica da antropologia
que vem se avolumando pode ser brevemente resumido como uma rejeicio
do “visualismo”. Ong (1967, 1977), entre outros, estudou as formas pelas
quais os sentidos sio organizados hictarquicamente em diferentes culturas
Exclai dessa categoria as diversas historias das ideias “antropolégicas”, que precisam sempte
ter uma organizasao evolucionista. Incluo 0 vigoroso historicismo de George Stocking, que
muitas vezes tem 0 efeito de questionar as genealogias disciplinares (ver, por exemplo, Sto-
cking, 1968, pp. 69-90). A obra de Terry Clark sobre a institucionalizacio das ciéncias sociais
(1973) e a de Foucault (1973) sobre a constituicio sociopolitica das “formacdes discursivas””
apontam nessa direcio que estou indicando. Ver, também, Hastog (1980), Duchet (1971), di-
versas obras de De Certeau (por exemplo, 1980), Boon (1982), Rupp-Fisenreich (1984) e 0
volume anual History of Anthropology, organizado por Stocking, cuja abordagem vai muito além
da historia das idcias ou da teoria. Uma abordagem semelhante pode ser encontrada em estu-
dos sociais zecentes da pesquisa cientifica: por exemplo, Knorr-Cetina (1981), Latour (1984),
Knorr-Cetina e Mulkay (1983).
44 Acscrita da cultura: poticae politica da etnografia
© épocas. Ong argumenta que a verdade da visio nas culturas letradas oci-
dentais predominou sobre as evidéncias do som e da intetlocucio do tato,
do olfato e do paladar. (Mary Pratt obsetvou que as referéncias ao cheiro,
muito proeminentes em relatos de viagem, so virtualmente ausentes das
etnografias.") As metiforas predominantes da pesquisa antropolégica tém
sido a observacio participante, a coleta de dados e a descricao cultural, que
pressupdem, todas elas, uma visio externa — observar, objetificar ou, um
pouco mais de petto, “ler” uma dada realidade. A obra de Ong foi utilizada
como uma critica da etnografia por Johannes Fabian (1983), que explora as
consequéncias de se tomar os fatos culturais como coisas observadas, a0
invés de, por exemplo, escutadas, inventadas em didlogo ow transcritas, Se-
guindo Frances Yates (1966), 0 autor argumenta que a imaginagio taxondmi-
cano Ocidente tem uma natureza fortemente visual, constituindo as culturas
como se fossem teatros da meméria, ou arranjos espacializados.
Em uma polémica de mesmo tipo contra o “orientalismo”, Edward
Said (1978) identifica imagens recorrentes por meio das quais os europeus
norte-americanos visualizaram as culturas orientais e arabes. O Oriente fun-
ciona como um teatro, um palco no qual se repete uma performance, a set
assistida de um ponto de vista privilegiado. (Barthes [1977] atribui a estética
burguesa emergente de Diderot uma “perspectiva” semellnante.) Para Said,
© Oriente é “textualizado”; suas hist6rias miultiplas e divergentes ¢ suas ca-
tegorias existenciais sio entrelagadas de forma coerente de modo a compor
um corpo de signos que pode ser lido pelos virtuoses. Esse Oxiente, ocul-
to e fragil, é trazido 4 luz amorosamente, resgatado na obra do intelectual
estrangeiro. © efeito de dominac&o nesses embates espaciais/temporais (¢
que nio se limitam, é claro, a0 orientalismo em si) é a attibui¢io ao outro de
uma identidade nitida, enquanto a0 mesmo tempo fornecem, ao observador
consciente, um Angulo de observacao a partir do qual pode ver sem set visto,
pode ler sem set interrompido.
Uma vez que as culturas no sejam mais prefiguradas visualmente —
como objetos, teatros, textos —, torna-se possivel pensar em uma poética
cultural que seja uma interacio entre vozes, entre elocugées posicionadas.
Em um paradigma discursivo, ¢ nao visual, as metdforas predominantes
© Observacio feita por Pratt no seminério de Santa Fé. A relativa desatencio para com 0 som esti,
comecando a ser corrigida nos escritos etnogrificos recentes (por exemplo, Feld, 1982). Paza
cexemplos de uma obra que dedica uma atengio incomum ao sensorial, ver Stoller (1984a, 1984b).
Introdugio: Verdades parciais 45
na etnografia afastam-se do olho observador em diregio 8 fala (€ a0 gesto)
expressivos. A “voz” do esctitor perpassa ¢ situa a anilise, ¢ renuncia-se
retdrica objetiva e distanciada. Renato Rosaldo argumentou e exemplificou
recentemente esses pontos (1984, 1985). Outras alteracdes na encenacio
do texto sio advogadas por Stephen ‘Tyler neste volume. (Ver, também,
Tedlock, 1983) Os elementos evocativos ¢ performativos da etnografia
so, assim, legitimados. E 0 problema poético crucial de uma etnografia
discursiva passa a set como “alcangar, por meios esctitos, aquilo que a fala
ctia, e como fazé-lo sem simplesmente imitar a fala” (Tyler, 1984c, p. 25). Por
outro Angulo, podemos notar quanto foi dito, como critica e elogio, sobre o
olhar etnogrifico. Mas, e a escuta etnogrifica? E nesse ponto que Nathaniel
‘Tarn quer chegar, em uma entrevista na qual fala sobre sua experiéncia
como um homem tricultural, um francés/inglés em processo interminavel
de transformago em americano.
¥ possivel que se trate moais uma vez do etnégrafo ou do antropdlogo com os
ouvidos bem abertos para aquilo que considera como exético em oposi¢io
ao familiar, mas ainda acho, quase todos os dias, que estou descobrindo algo
novo no uso da lingua aqui. Aprendo expresses novas quase todos os dias,
como se a linguagem estivesse brotando a partir de toda fonte concebivel
(Tarn, 1975, p. 9).
ee
O interesse nos aspectos discursivos da representagio cultural chama
a atengio nio pata a interpretagdo de “textos” culturais, mas para suas rela-
ces de produgio. Estilos divergentes de escrita esto, com graus variados de
sucesso, digladiando-se com essas novas otdens de complexidade ~ regras €
possibilidades diferentes no hotizonte de um momento histérico. As prin-
cipais tendéncias experimentais foram revisadas, detalhadamente, em outro
lugar (Marcus ¢ Cushman, 1982; Clifford, 1983a). Aqui, basta mencionar a
tendéncia geral em direcio a uma especficagao dos discursos na etnografia: quem
fala? Quem escteve? Quando ¢ onde? Com quem ou pata quem? Sob quais
limites institucionais e histéricos?
Desde a época de Malinowski, 0 “método” da observacao partici-
pante oscilou em um equilibrio delicado entre subjetividade e objetivida-
46° Acscrca da cultura: ptties politica da etnografia
de. As experiéncias pessoais do etnégrafo, principalmente as experiéncias
de participagao e empatia, sio teconhecidas como centrais no processo
de pesquisa, mas sio firmemente contidas pelos padrdes impessoais de
observagio e de distancia “objetiva”. Nas etnografias classicas, a voz do
autor sempre estcve manifesta, mas as convengées da apresentacio textual
¢ da leitura proibiam uma conexdo muito proxima entre o estilo autoral ea
realidade representada. Embota possamos facilmente discernit 0 sotaque
tipico de Margaret Mead, de Raymond Firth ou de Paul Radin, ainda assim
nfio podemos nos referir aos samoanos como “meadianos” ou chamar os
Tikopia de uma cultura “firthiana” to livremente como falamos de mun-
dos dickensianos ou flaubertianos. A subjetividade do autor € separada
do referente objetivo do texto. Na melhor das hipéteses, a voz pessoal do
autor é vista como um estilo em seu sentido mais fraco: uma tonalidade, ou
uma ornamentacio dos fatos. Além disso, a experiéncia de campo teal do
etnégrafo s6 € apresentada de maneiras muito estilizadas (por exemplo, as
“historias de chegada” discutidas adiante por Mary Pratt), Os momentos
de séria confusio, sentimentos ou atitudes violentas, censuras, fracassos
importantes, mudancas de rumo e prazeres excessivos sio excluidos dos
relatos publicados.
Nos anos 1960, esse conjunto de convengdes expositivas se estilhacou.
Os etnégrafos comegaram a esctever sobre suas experiéncias de campo de
formas que perturbaram o equilibrio predominante entre subjetivo/objetivo.
Perturbagdes anteriores ja haviam ocorrido, mas foram mantidas 4 margem:
© extravagante L'Arique fantime de Leitis (1934); Tristes tropiques (cujo impac-
to mais forte fora da Franga sé se deu apés 1960); ¢ o importante Return to
Jaughter de Elenore Smith Bowen (1954). Ei sintomatico que Laura Bohannan,
no inicio dos anos 1960, tenha tido que se disfarcar como Bowen e aptesen-
tar sua narrativa de campo como um “romance”. Mas as coisas estavam mu-
dando sapidamente, ¢ outros — Georges Balandier (L’Afrigue ambigué, 1957),
David Maybury-Lewis (The savage and the innocent, 1965), Jean Briggs (Never in
Anger, 1970), Jean-Paul Dumont (The Headman and I, 1978) e Paul Rabinow
(Reflections on fieldwork in Morocco, 1977) — logo estavam escrevendo “factual-
mente” com scus prdprios nomes. A publicagio dos diétios de Malinowski
em Mailu e Trobriand (1967) estragou todos os planos. A partir dai, um pon-
to de intettogacio implicito passou a set colocado ao lado de qualquer voz
Inccodugio: Verdades parciais 47
etogrifica abertamente confiante e estiivel. Quais desejos e confusées ela
estaria atenuando? Como a sua “objetividade” era construida textualmente?”
Um subgénero da escrita etnografica surgiu: 0 “relato de campo” au-
torreflexivo. As vezes sofisticados, as vezes ingénuos, ora confessionais, ora
analiticos, esses relatos criam um forum importante de debates sobre uma
ampla gama de temas epistemol6gicos, existenciais ¢ politicos. O discurso
do analista cultural nfo pode mais ser, sinaplesmente, 0 discurso do “obser-
dot” experiente, descrevendo e interpretando costumes. Os ideais da ex-
periéncia etnogrifica e da observacio participante passam a ser vistos como
>roblematicos. Novas estratégias textuais sio experimentadas. Por exemplo,
imeira pessoa do singular (nunca banida das etnografias, sempre pessoais
de forma estilizada) passa a ser empregada de acordo com novas conven-
es. Com 0 “relato de campo”, a ret6rica da objetividade experienciada
de o lugar 4 autobiografia e ao autorretrato irdnico. (Ver Beaujour, 1980, ¢
une, 1975.) O etndgrafo, um petsonagem de uma ficco, ocupa 0 ptos-
. Ele ou ela podem falar sobre t6picos antes “irrelevantes”: violencia
esejo, confusées, brigas ¢ transagdes econdmicas com os informantes.
es assuntos (desde ha muito discutidos informalmente na disciplina) sai-
com das margens da etnografia e passaram a ser vistos como constitutivos €
capaveis (Honigman, 1976).
Alguns telatos reflexivos buscaram especificar 0 discurso dos infor-
ates, bem como 0 discurso do etnégrafo, encenando didlogos ou narran-
> confrontos interpessoais (Lacoste-Dujardin [1977], Crapanzano [1980],
Duyer [1982], Shostak [1981], Mernissi [1984]). Hssas ficgdes de diélogo tem
efeito de transformar o texto “cultural” (um ritual, uma instituigio, uma
ia de vida, ou qualquer unidade de comportamento tipico a ser descrita
interpretada) em um sujeito falante, que vé tanto quanto é visto, que se
iva, discute e investiga de volta. Nessa concepeio de etnografia, o refe-
re adequado de qualquer relato nfio é um “mundo” representado; trata-se,
zora, de instincias especfficas de discurso. Mas o ptincfpio da produgio
cual dialdgica vai muito além da apresentagio mais ou menos habilidosa
eacontros “reais”. Ele aloca as interpretacdes culturais em muitos tipos
contextos reciprocos e obriga os escritores a encontrar diversas maneiras
Explorei a relagio entre subjetividade pessoal e relatos culturais dotados de autotidade, vistos
Ficedes que se reforcavam mutuamente, em um ensaio sobre Malinowski e Conrad
ford, 19852).
48 Acscrica da cultura: postica ¢ politica da etnografia
de apresentar realidades negociadas como multissubjetivas, atravessadas pelo
poder ¢ incongruentes. Nessa visio, a “cultura” € sempre zelacional, uma ins-
cric&o de processos comunicativos que existe, historicamente, ere sujeitos
em telacées de poder (Dwyer [1977], Tedlock [1979)).
Os modos dialégicos nfo sio, em principio, autobiograficos; aio
precisam levar a uma hipetautoconsciéncia ou autoabsor¢io. Conforme
mostrou Bakhtin (1981), os processos dialdgicos proliferam em qualquer ¢s-
paco discursivo reptesentado de forma complexa (como a etnografia ou, no
caso dele, um romance realista). Muitas vozes clamam por expresso. A poli-
vocalidade foi restringida ¢ orquestrada nas etnografias tradicionais por meio
da concessio 2 uma voz de uma funcao autoral onipresente ¢ da alocagio
das outras no papel de fontes, “informantes” a serem citados ou parafrase-
ados, Quando 0 dialogismo ¢ a polifonia sio reconhecidos como modos de
produgio textual, a autoridade monofSnica passa a ser questionada e apon-
tada como caracteristica de uma ciéncia que reivindicou representar culturas. A
tendéncia a especificar os discursos — historicamente © intersubjetivamente
— muda o lugar dessa autoridade, e, nesse processo, altera as questes que
fazemos 4s descrigdes culturais. Basta citarmos dois exemplos recentes. O
primeiro envolve as vozes ¢ leituras dos nativos norte-americanos, 0 segun-
do diz respeito as mulheres.
James Walker é amplamente conhecido por sua monografia cléssica
The Sun Dance and other ceremonies of the Oglala division of the Teton Sioux (1917).
Trata-se de um trabalho de interpretacio cuidadosamente observado ¢ do-
cumentado. Mas nossa leitura precisa agora set complementada — ¢ alterada
~ por um vislumbre extraozdinario de suas “construgdes”. Foram publicados
trés titulos em uma edigio em quatro volumes de documentos coletados
pelo autor quando trabalhava como médico e etndgrafo na Reserva Sioux
de Pine Ridge, entre 1896 e 1914.0 primeizo (Walker, Lakota belief and ritual
[1982a], editado por Raymond DeMallie ¢ Elaine Jahnet) é uma colagem de
anotacdes, entrevistas, textos e fragmentos de ensaios escritos ou falados por
Walker e por diversos colaboradores Oglala. Esse volume lista mais de trinta
“qutoridades”, ¢, sempre que possivel, as contribuigdes trazem 0 nome de
seu enunciador, escritor ou transctitor. Esses individuos nao sao “{nforman-
tes” etnograficos. Lakota belie’ & uma obra esctita de maneira colaborativa,
editada de uma forma que atribui o mesmo peso retérico a diversas verses
Introdugio: Verdades parciis 49
tradigio. As descrigdes e interpretagdes do proprio Walker sao fragmen-
tos entre fragmentos.
O etnégrafo trabalhou junto com os intérpretes Charles ¢ Richard Ni-
nes, e com Thomas 'Tyon e George Sword, os quais redigitam extensos en-
saios em Lakota antigo. Esses ensaios foram agora traduzidos e publicados
pela primeira vez. Em uma longa segio de Lakota belief; Tyon apresenta expli-
cagdes que obteve junto a diversos xamis de Pine Ridge; ¢ é muito revelador
ex questes de crenca (como, por exemplo, a qualidade crucial e de dificil
definigao de “wakan”) interptetadas em estilos diferentes e idiossincriticos.
O resultado € uma versio da cultura em processo que resiste a qualquer sin-
rese final. Em Lakota belief os editores fornecem detalhes biogtaficos sobre
Walker, com pistas sobre as fontes individuais dos escritos em sua colecio,
reunidos pela Colorado Historical Society, pelo American Museum of Natu-
zal History e pela American Philosophical Society.
O segundo volume publicado foi Lakota society (1982b), que retine do-
cumentos que guardam alguma relaciio com aspectos da organizacio social,
bem como com conceitos de tempo e histéria. A inclusao de extensas Con-
zagens de Inverno (os registros histéricos Lakota) e de lembrancas pessoais
de eventos histéricos confirma as tendéncias recentes de questionar distin-
ces excessivamente claras entre os povos “com” e “sem” historia (Rosaldo,
1980; Price, 1983). O terceito volume é Lakota myth (1983). E 0 Ultimo traz
08 escritos traduzidos de George Sword. Sword foi um guerreito Oglala, que
mais tarde se tornou juiz do Tribunal de Causas Indigenas* de Pine Ridge.
Com o incentivo de Walker, ele escreveu um registro vernacular detalhado
da vida cotidiana, incluindo mitos, rituais, guerras e jogos, complementado
por uma autobiografia,
‘Tomadas em conjunto, essas obras oferecem um registro incomum
da vida Lakota, com multiplas atticulagdes, em um momento crucial da sua
hist6ria — uma antologia em trés volumes de interpretagées ¢ transcri¢des
ad hoe pot mais de vinte individuos ocupantes de um espectro de posicées
distintas em relagao 4 “tradi¢ao”, actescidas de uma visio claborada do con-
junto tedigida por um escritor Oglala em posicio privilegiada de observacio.
Isto torna possivel avaliar criticamente a sintese feita por Walker desses di-
versos materiais. Quando completos, os cinco volumes (incluindo The Sun
Danéé) constituirio um texto expandido (disperso, no coeso) representando
® “Court of Indian Offenses”. (N. do‘T:)
50 A cscrita da cultura: pocicae politica da etnografia
um momento particular de producio etnografica (€ nao a “cultura Lakota”). E
esse texto extenso, ao invés da monografia de Walker, que precisamos agora
aprender a ler.
Esse conjunto abre novos significados ¢ desejos em uma poesis cultural
continua, A decisio de publicar esses textos foi provocada por reivindica-
c6es feitas A Colorado Historical Society por membros da comunidade de
Pine Ridge, na qual eram necessarias cépias para as aulas de historia Oglala.
Para outros leitores, a “Colegio Walker” oferece licées diferentes, propician-
do, entre outras coisas, um modelo pata uma etnopoética contendo histéria
(e individuos). E dificil dar a esses materiais (muitos dos quais sio muito
bonitos) a identidade atemporal e impessoal de, digamos, um “mito Sioux”.
Além disso, a questio de quem esoreve (representa? transcreve? traduz? edita?)
afitmagées culturais é inescapavel quando se trata de um texto expandido
dessa natureza. Aqui, o etnégrafo j4 no detém direitos inquestionaveis de
resgate: a autoridade hd muito associada 4 tarefa de dar a um saber oral esqui-
vo, “em extingao”, uma forma textual legivel. Nao est4 clato se James Walker
(ou qualquer outro) pode ser considerado como autor desses escritos. Essa
falta de clareza é um sinal dos tempos.
Os textos ocidentais sio, tradicionalmente, atrelados a autores. As-
sim, talvez seja inevitavel que Lakota belief, Lakota society Lakota nyth se-
jam publicados sob o nome de Walker. Mas, a medida que a poesis plural e
complexa da etnografia se tora mais aparente — ¢ politicamente catregada
=, as convencées comecam, de formas sutis, a se alterar. A obra de Walker
pode ser um caso incomum de colaboracio textual. Mas ela nos ajuda a ver
‘os bastidores. Uma vez que os “informantes” comecem a set considerados
como coautores, € 0 etndgrafo como um esctiba e arquivista, bem como um
observadot intérprete, poderemos colocar questdes novas ¢ ctiticas a todas
as etnografias. Qualquer que seja sua forma monolégica, dialégica ou polifo-
nica, as etnografias sfo arranjos hierirquicos de discursos.
Um segundo exemplo da especificagio dos discursos diz respeito ao
género, Abordarei primeiro as formas pelas quais o género pode se impor &
eitura de textos etnograficos ¢, em seguida, explorarei como a exclusio de
perspectivas feinistas deste volume limita e direciona seu ponto de vis-
ta discursivo. Meu primeiro exemplo, entre os muitos possiveis, é Divinity
and experience: the religion of the Dinka, de Godfrey Lienhardt (1961), que esta,
seguramente, entre as mais refinadas etnografias da literatura antropologi-
ca recente. Sua interpretagio fenomenoldgica da percepcio Dinka do seif
Introdugdo: Verdades parciais. 51
Go tempo, do espaco e dos “Poderes” € inigualavel. Por isso, é um choque
mando percebemos que o retrato de Lienharde diz respeito, quase que exclu-
ivamente, a experiéncia dos homens Dinka Quando fala sobre “os Dinka”,
pode ou nfo estar falando também sobre as mulheres. Muitas vezes, nao é
el saber com base no texto publicado. Os exemplos escolhidos sio,
da forma, esmagadoramente centrados em homens. Uma répida leitura
apitulo de introducio do livro sobre os Dinka ¢ seu gado confirma esse
ato. H4 uma tinica mengao & visio de uma mulher, ¢ ela se refere & afirma-
2 relaciio dos homens com as vacas, nada dizendo sobre a forma como
sulheres vivenciam o gado. Essa observacio introduz uma ambiguidade
passagens tais como “os Dinka mnuitas vezes interpretam acidentes ou
idéncias como atos de Divindade, distinguindo 0 verdadeiro do falso
com base em sinais que aparecem aos homens” (Lienhardt, 1961, p. 47). O
do pretendido da palavra “homens” é, com certeza, genético, mas, cer-
exclusivamente de exemplos extraidos da experiéncia masculina, desliza
um sentido generificado. (Esses sinais aparecem para as mulheres? As
encas sio significativas?) Termos como “os Dinka” ou “Dinka”, usados
longo de todo o livro, tornam-se igualmente ambiguos.
O ponto, aqui, ndo é acusar Lienhardt de parcialidade; seu livro aborda
zénero em uma medida incomum, O que extraimos dai, a0 contritio, so a
ria e a politica que intervém na nossa leitura. Os intelectuais britinicos
certa casta e época dizem “homens” quando se teferem a “pessoas” com
frequéncia do que outros grupos, um contexto histérico e cultural que
je menos invisivel do que jé foi. A parcialidade do género que esté em
stio aqui no era um problema quando o livro foi publicado, em 1961.
fosse, Lienhardt o teria abordado dietamente, como etndgtafos mais te-
tes se sentem agota obtigados a fazer (como, por exemplo, Meigs, 1984,
xix). Nao se lia “A Religiéo dos Dinka” na época como se deve ler hoje,
a teligiio dos homens Dinka ¢ apenas, talvez, das mulheres Dinka.
Nossa tarefa é pensar historicamente sobre 0 texto de Lienhardt € suas pos-
veis leituras, incluindo a nossa, a medida que o lemos.
Dividas sisteméticas sobre géneco na representacio cultural s6 se torna-
2 correntes a partir da década passada, em alguns ambientes, sob a pressio
do feminismo. Muitos retratos das verdades “culturais” parecem agora refletit
s dominios masculinos da experiéncia. (E hi também, é claro, casos inver-
os, embora muito menos comuns: por exemplo, a obra de Mead, que muitas
vezes se concentrava nos dominios femininos e generalizava, a partir dai, para
52 Acscrita da culeura: poéticae politica da eumnografia
a cultura como um todo) Ao reconhecer esses vieses, contudo, é importante
Jembrar que nossas préptias versbes “completas” irio inevitavelmente parecer
parciais; e, se muitos retratos culturais agora parecer mais limitados do que
antes, isso é um indicio da contingéncia € do movimento histérico de todas
as leituras. Ninguém Ié a partir de uma posisio neutra ou definitiva. Essa
precaugio Sbvia é muitas vezes esquecida em novos relatos que se propdem
consertar as coisas ou a preenchet uma lacuna no “nosso” conhecimento.
Quando se percebe uma lacuna no conhecimento, e quem a pet-
cebe? De onde vém os problemas?” Obviamente, trata-se de mais do que
simplesmente perccber um eto, um bias ou uma omissio. Escolhi exemplos
(Walker e Lienhards) que enfatizam 0 papel dos fatores politicos ¢ historicos
na descoberta da parcialidade discursiva. A epistemologia ai implicada nao
pode fazer as pazes com uma nocio de progresso cientifico cumalativo, ¢ a
parcialidade em questio € mais forte do que o ditame cientifico normal de
que estudemos os problemas por partes, de que no genetalizemos em de-
masia, de que o melhor quadzo é construido pela justaposi¢ao de evidéncias
sigorosas. As culturas no sio “objetos” cientificos (presumindo-se que tais
coisas existam, mesmo nas ciéncias naturais). A cultura, bem como as visbes
gue temos “disso”, so produzidas historicamente ¢ ativamente contestadas.
Nio existe um quadro integral que possa ser “preenchido”, ja que a percep-
cio e o preenchimento de uma lacuna conduzem 4 consciéncia de outras
Jacunas. Se a experiencia das mulheres tem sido significativamente excluida
dos relatos etnogrificos, 0 reconhecimento dessa auséncia, bem como sua
corregio em muitos estudos recentes, agora jlumina o fato de que a experi-
éncia dos homens (como sujeitos generificados, € fio como tipos culturais
_ “Dinka” ou “Trobtiandeses”) é, ela também, largamente subestudada. A
medida que t6picos canénicos tais como “parentesco” séo submetidos a um
escrutinio critico (Needham, 1974; Schneider, 1972, 1984), novos problemas
relativos 4 “sexualidade” tornam-se visiveis. E por af vai. B evidente que
sabemos mais sobre os Trobriandeses do que se sabia em 1900. Mas este
“nds” exige uma identificagao historica. (Talal Asad argumenta, em seu texto
neste volume, que o fato de que esse conhecimento costume ser inscrito em
determinadas linguas “fortes” nao é cientificamente neutro.) Se a “cultura”
no é um objeto a ser descrito, entio também no é um corpus unificado
3” Rio foi a cegonha que trouxe!” (David Schneider, em conversa pessoal). Foucault descreven
sua abordagem como uma “histéria das probleméticas” (1984).
Introdusio: Verdades parciais, | 53
¢ simbolos e significados que podem ser definitivamente interpretados. A
cultura é contestada, temporal e emergente. A representago ¢ a explicagio
— tanto por parte de nativos quanto de estranhos — estfio implicadas nesse
argimento, A especificagio dos discursos que venho tracando é, assim, mais
) que uma questio de se fazer reivindicagées claramente delimitadas. Essa
especificagio é intciramente historicista ¢ autorreflexiva.
Com este espirito, volto-me agora para o presente volume. Todos se-
o capazes de se lembrar de individuos ou perspectivas que deveriam ter
do incluidos, O foco da coletanea a limita de uma forma que seus autores
zganizadores podem apenas esbocat. Os leitores poderiam observar que 0
seu bias antropol6gico deixa de lado a fotografia, o cinema, as teorias da per-
formance, 0 documentario, o romance nio ficcional, o “novo jornalismo”, a
hist6ria oral e diversas formas de sociologia. O livro dé relativamente pouca
atengao as novas possibilidades etnogrificas que tém surgido a partir da ex-
periéncia no ocidental e da teoria e da politica feministas. Deixem que eu
me detenha nessa iltima exclusao, pois ela diz respeito a uma influéncia in-
selectual e moral pazticularmente forte ao ambiente universitétio, a partir do
gual esses ensaios foram produzidos. Por essa razfo, sua auséncia exige um
comentario. (Mas, 20 me dedicar a essa exclusio em particular, nao pretendo
com isso afirmar que ela ofereca um ponto de vista privilegiado a partir do
gual é possivel perceber a parcialidade do livro.) As teorizagdes feministas
slo, obviamente, de grande relevincia potencial pata se repensar a escrita
ognifica, Elas colocam em questo a construgio politica e histérica das
identidades e das relagées self/outro, ¢ examinam as posigdes generificadas
que fazem com que todos os relatos de, ou feitos por, outros povos sejam
inevitavelmente parciais."° Por que, entio, este livro nfo inclui texto algam
escrito sob um ponto de vista essencialmente feminista?
Muitos dos temas que abordei acima se apoiam em obtas feministas recentes. Alguns teéri-
cos problematizaram todas as perspectivas totalizantes € arquimedianas (Jehlen, 1981). Muitos
repensaram seriamente a construcio social da relacio ¢ da diferenga (Chodorow, 1978; Rich,
1976; Keller, 1985). Muito da pritica feminists questiona a separago estrita entre subjetivo €
objetivo, enfatizando formas processuais de conhecimento, estabelecendo intimas conexdes
entre processos pessoais, politicos e representacionais. Outeas vertentes aprofundam a critica
de modos de vigilincia e descrigio de base visual, relacionando-os 4 dominagio € ao desejo
masculino (Mulvey, 1975; Kuhn, 1982). Formas narrativas de representacio sio analisadas
quanto as posigdes genetificadas que reencenain (De Lautetis, 1984). Alguns escritos feminis-
tas trabalharam para politizar e subverter todas as esséncias ¢ identidades naturais, incluindo
2 “feminilidade” e a “mulher” (Wittig, 1975; Irigaray, 1977; Russ, 1975; Haraway, 1985).
54 Acsctia da cultura: podtica e politica da etmografia
O volume foi planejado como publicagio de um seminario limitado
pela instituigiio promotora a dez participantes. Foi definido institucionalmen-
te como um seminario “avangado”, ¢ seus organizadores, George Marcus ¢
eu, aceitamos esse formato sem question4-lo. Decidimos convidar pessoas
que estavam fazendo trabalhos “avangados” sobre nosso tpico; com isso,
queriamos dizer pessoas que j4 houvessem contribuido significativamente
pata a anilise da forma textual etnogrifica. A bem da coeréncia, situamos o
seminario dentro, ¢ nas fronteiras, da disciplina antropolégica. Convidamos
participantes bem conhecidos por suas contribuigdes recentes para a aber-
tura de possibilidades para a escrita etnografica, ou que sabiamos estar com
pesquisas adiantadas relevantes para o nosso foco. O seminatio foi pequeno,
e sua formacio, ad hoc, refletindo nossas redes intelectuais e pessoais espect-
ficas, bem como nosso conhecimento limitado dos trabalhos adequados em
curso. (Nao vou abordar petsonalidades individuais, amizades etc., embora
sejam também evidentemente relevantes.)
‘Ao planejar o seminario, fomos confrontados pelo que nos pareceu
um fato ébvio — importante ¢ lamentavel. O feminismo nao havia contri-
buido muito pata a andlise tedrica das etnografias como textos. Nos espa-
os em que mulheres haviam feito inovages textuais (Bowen, 1954; Briggs,
1970; Favret Saada, 1980, 1981), clas nao fizeram sobre bases feministas.
Algumas poucas obras muito recentes (Shostak, 1981; Cesara, 1982; Mer-
nissi, 1984) haviam refletido, em sua forma, alegagdes feministas quanto &
subjetividade, & relacionalidade e a experiéncia feminista, mas essas mesmas
formas textuais eram compartilhadas pot outras obras experimentais néio
feministas, Além disso, suas autoras nio pareciam estar dialogando com as,
teorias sobte texto e retdrica que queriamos aproximar da etnografia. Nosso
foco estava, assim, na teoria textual bem como na forma textual: um foco
defensavel e produtivo.
Com esse foco, no podiamos recorrer a quaisquer debates ja desen-
volvidos getados pelo feminismo sobre priticas textuais ctnogrificas. Algu-
mas poucas indicacdes muito iniciais (por exemplo, Atkinson, 1982; Roberts
(org), 1981) etam tudo 0 que jf havia sido publicado. B, desde eatfo, a si-
macio nfio mudou muito. O feminismo coatribuiu claramente com a teoria
‘gozizs “antropoldgicas” tais como natureza e cultura, pablico e privado, sexo e género foram
também questionadas (Ortner, 1974; MacCormack e Strathern, 1980; Rosaldo ¢ Lamphere,
1974; Rosaldo, 1980; Rubin, 1975).
|
5
Inerodusio: Verdades parciais 55
antropoldgica. E diversas etnégrafas, como Annette Weiner (1976), estio
vamente reescrevendo o cénone masculino. Mas a etnografia feminista
se dedicado ou 4 corregio do que se diz sobre as mulhetes ov 4 tevisio
¢ categorias antropolégicas (por exemplo, a oposigao natureza/cultura). A
ografia feminista nao produziu formas no convencionais de escrita ou
ama reflexio desenvolvida sobre a textualidade etnografica em si.
As razdes para este quadxo getal precisam de uma investigaco cuida-
dosa, ¢ este nfo é 0 lugat para isso." No caso do nosso seminario e do nosso
‘0, ao enfatizar a forma textual e privilegiar a teoria textual, delimitamos
-Spico de uma maneira que excluiu determinadas formas de inovacio et-
gréfica. Esse fato apateceu nas discussdes travadas durante o seminatio,
quais ficou claro que havia forcas institucionais concretas — tais como
os padrdes da obtencio de estabilidade no emprego, os cAnones, a influ-
das autoridades disciplinares, as desigualdades de poder em nivel glo-
— que eram inescapfveis. Sob essa perspectiva, questes de contedo na
ografia (a exclusio € a incluso de experiéacias diferentes no arquivo an-
poldgico, a reescrita de tradigdes estabelecidas) tornaram-se diretamente
-vantes. E, foi aqui que os esctitos feministas ¢ no ocidentais tiveram seu
maior impacto.” Sem ditvida, nossa separa¢io nitida entre forma e conteido
— nossa fetichizagio da forma — foi, e é, contestavel. E um bias que pode
‘0 bem estat implicito no “textualismo” modernista. (A maioria de nds,
rante 0 seminirio, com excegio de Stephen Tyler, ainda nfo era inteira-
ate “pés-moderna”!)
O easaio inédito de Marilyn Strathern (1984), “Dislodging a World View”, também discutido por
"zal Rabinow neste livro, inaugura a investigagio. Deborah Gordon esti desenvolvendo uma
-nilise mais completa, em uma tese em preparaciio no Programa de Histéria da Consciéncia da
Universidade da Califéenia, em Santa Cruz. Devo muito as conversas que mantive com ela.
No original, “tenure patterns”. (N. do T.)
ossivel que seja geralmente verdade que grupos ha muito excluidos das posices de poder
rucional, tais como as mulheres ou as pessoas de cor, tenham menos liberdade de fato
para empreender experimentacdes textuais. Para escrever de forma heterodoxa, sugere Paul
Rabinow neste livro, é preciso primeiro alcangar a estabilidade. Em contextos especificos, a
prsocupacio com a autorreflexividade com o estilo pode ser um indicio do esteticismo dos
Pavilegiados. Porque, se uma pessoa nao precisa se preocupar com a exclusiio ou com a repre-
seatagio verdadeiea de sua experiéacia, ela tem mais liberdade para questionar as formas de
rar, para privilegiar a forma em detrimento do contetido. Mas fico pouco 4 vontade com a
cio geral de que um discusso privilegiado pode se conceder o prazer da reflexdio sobre su-
-as estéticas ou epistemolégicas, enquanto 0 discurso marginal “dria como as coisas sio”.
itas vezes 6 0 contratio, (Ver o ensaio de Michael Fischer neste volume)
BG Acscrica da cultura: pottica e politica da etnografia
Enxergamos tudo isso melhor, é claro, agora que a tarefa esté conclu-
ida e 0 livto, terminado. Mas, mesmo antes, em Santa Fé, tivemos intensas
discussdes sobre a exclusio de diversas perspectivas importantes ¢ sobre 0
que fazer com elas. Como organizadores, decidimos nao tentar “preencher”
© volume buscando novos textos. Isso nos pareceu uma forma falaciosa de
“acio afirmativa intelectual”,!* que tefletiria uma aspiragio a uma falsa com-
pletude. Nossa resposta ao problema dos pontos de vista excluidos foi deixa-
-los ostensivos. © presente volume é, assim, uma intervencio limitada, sem
qualquer aspitacio 4 abrangéncia ou a dat conta de uma area. A luz que lana
é forte e parcial.
kee
Uma consequéncia importante dos movimentos histéricos ¢ tedricos
tragados nesta “Introdugio” foi abalar as bases a partir das quais pessoas ¢
grupos representam com seguranca os outros. Uma guinada conceitual, de
implicacdes “tectOnicas”, teve lugar. Apoiamo-nos, hoje, sobre uma terra
em movimento. Nio hé mais um angulo abrangente de observagio (no topo
da montanha) a partir do qual mapeat os modos de vida humanos, nenhum
ponto atquimediano a partir do qual representar 0 mundo. As moatanhas
estio em movimento constante, bem como as ilhas: pois nao se pode ocu-
par, sem qualquer ambiguidade, um mundo cultural de froateizas nitidas, a
partir do qual se aventurar e analisar outras culturas. Os modos humanos de
vida cada vez mais influenciam, dominam, parodiam, traduzem ¢ subvertem
uns aos outros. A anilise cultural esta sempre perpassada por movimentos
globais de diferenga ¢ poder. Um “sistema mundial”, seja ld como for que
seja definido — e aqui usamos a expresso de modo lato — conecta, hoje, as
sociedades do planeta em um proceso hist6rico comum.'*
Diversos ensaios deste volume partem desse pressuposto. Suas énfa-
ses variam. Como, pergunta George Marcus, pode a etnografia — em casa ou
naio — definir seu objeto de estudo de formas que permitam ao mesmo tem-
po uma anilise detalhada, local e contextual ¢ a descticio de forcas de im-
* No oziginal, “tokenism”. (N. do T)
+5 O termo, é claro, é de autoria de Wallerstein (1976). Considero, contudo, que seu forte senso
de uma direcio tinica para 0 processo histérico global é problematico, ¢ concordo com as
observacdes de Ortner (1984, pp.142-43).
Introdugio: Verdades parciais. 57
plicagio global? As estratégias textuais aceitas para a definicio de dominios
turais, com a separaciio dos niveis micro e macro, nao so mais adequadas
desafio. Marcus explora novas possibilidades de escrita que nublam a
cinco entre antropologia e sociologia, subvertendo uma divisto do traba-
iho improdutiva. Talal Asad também discute a interconexio sistematica das
ciedades do planeta. Mas revela a existéncia de desigualdades duradouras
dlaciais, que impdem formas excessivamente coerentes sobre a diversidade
coundial e posicionam fitmemente qualquer pratica etnografica. “Tradugdes”
cultura, no importa quio sutis ou inventivas sejam em sua forma textual,
rem dentro de relagdes entre linguas “fortes” e “fracas” que controlam ©
internacional de conhecimento. A etnografia ainda é, em larga medida,
ema mua de mio tinica. O ensaio de Michael Fischer sugere que nogées de
Você também pode gostar
- Neder. On The Razor's Edge (Versão Definitiva)Documento27 páginasNeder. On The Razor's Edge (Versão Definitiva)alvaronederAinda não há avaliações
- NEDER, Álvaro - MÚSICA, SUBJETIVAÇÃO E CULTURA - PUBLICADO EM 2012 - PP6 - Varia9Documento12 páginasNEDER, Álvaro - MÚSICA, SUBJETIVAÇÃO E CULTURA - PUBLICADO EM 2012 - PP6 - Varia9alvaronederAinda não há avaliações
- ARAÚJO, Samuel Et Alii. Carnaval e Circularidade Cultural No Rio de Janeiro III ENABETDocumento6 páginasARAÚJO, Samuel Et Alii. Carnaval e Circularidade Cultural No Rio de Janeiro III ENABETalvaronederAinda não há avaliações
- FREIRE, PAULO. ALFABETIZAÇÃO COMO ELEMENTO DE FORMAÇÃO DA CIDADANIA. IN Politicaeeducacao-P1-FreireDocumento6 páginasFREIRE, PAULO. ALFABETIZAÇÃO COMO ELEMENTO DE FORMAÇÃO DA CIDADANIA. IN Politicaeeducacao-P1-FreirealvaronederAinda não há avaliações
- ULHÔA, Martha. Urubu - Texto e Contexto Na Música Instrumental. Anais III ENABET - 2006-2Documento5 páginasULHÔA, Martha. Urubu - Texto e Contexto Na Música Instrumental. Anais III ENABET - 2006-2alvaronederAinda não há avaliações
- Livro de Receitas A - C - Camargo - Cancer CenterDocumento10 páginasLivro de Receitas A - C - Camargo - Cancer CenterMárcia Oliveira de AlmeidaAinda não há avaliações
- SAVIANI, Dermeval. A Concepção Pedagógica Tecnicista.Documento4 páginasSAVIANI, Dermeval. A Concepção Pedagógica Tecnicista.alvaronederAinda não há avaliações
- SIMÕES, Julia Da Rosa Na Pauta Da Lei Trabalho, Organização Sindical e Luta Por Direitos Entre Músicos Porto-Alegrenses PDFDocumento224 páginasSIMÕES, Julia Da Rosa Na Pauta Da Lei Trabalho, Organização Sindical e Luta Por Direitos Entre Músicos Porto-Alegrenses PDFalvaronederAinda não há avaliações
- Brandão (Resenha) - Repensando A Pesquisa Participante PDFDocumento5 páginasBrandão (Resenha) - Repensando A Pesquisa Participante PDFalvaronederAinda não há avaliações