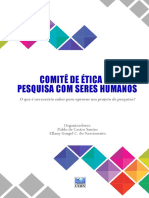Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
SIBILIA P Redes Ou Paredes PDF
SIBILIA P Redes Ou Paredes PDF
Enviado por
1234mhbc0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
18 visualizações57 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
18 visualizações57 páginasSIBILIA P Redes Ou Paredes PDF
SIBILIA P Redes Ou Paredes PDF
Enviado por
1234mhbcDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 57
Redes ou paredes
Aescola em tempos de dispersao
— O que vocés esperavam ao me denunciar
para o diretor?
— Que 0 senhor fosse castigado, como nés.
— Ah, querem me castigar?
— O senhor nos insultou e merece castigo... 0
senhor disse “ordinarias” e nds dissemos “filho
da puta”, é a mesma coisa!
— Mas vocés tém que entender que eu sou 0
professor, e pronto!
Laurent Cantet, Entre os muros da escola (2008)
Antes de mais nada, é necessdria'a obediéncia
no carater da crianga, particularmente no do
aluno. [...] A obediéncia pode nascer da coa¢ao,
e entdo € absoluta, ou da confianga, e entao é
raciocinada. Esta obediéncia voluntdria €é muito
importante, mas aquela é extremamente neces-
sdria, porque prepara a crianga para 0 cumpri-
mento das leis que depois ela tera de cumprir
como cidada, ainda que nao lhe agradem.
Immanuel Kant, Sobre a pedagogia (1803)
Introdugao: Para que serve a escola?
O colégio como tecnologia de época
O molde escolar ea maquinaria industrial
Educar 0 soberano disciplinando os selvagens
Os incompativeis: outros ti
pos de corpos
e subjetividades
O desmoronamento do sonho letrado:
inquietacao, evasao e zapping
As subjetividades midiaticas querem se divertir
Do aluno ao cliente, da lei a negociagao
Da crianga ao consumidor: cai o mito da transmissao
Do empregado ao empresario, da formagio
a capacitagao
Mercado em vez de Estado:
das adverténcias ao bullying
Violéncia e inseguranga: do reformismo moral
a blindagem policial
Do quadro-negro as telas: a conexao contra
o confinamento
Salas de aula informatizadas e conectadas:
muros para qué?
Resistir a0 confinamento ou sobreviver 4 rede?
Conclusao: Inventar novas armas
Notas
13
27
35
45
63
81
93
105
123
141
181
199
207
213
INTRODUCAO
Para que serve a escola?
Este ensaio comega com uma pergunta ¢ corre o saudavel risco
de desembocar, ao final de todo seu percurso, num mar de
ecos emitidos pela mesma indaga
10. Enquanto deslizamos
velozmente a bordo deste século XXI que tantas surpresas nos
tem trazido, ostentando seus feiticos tecnoldgicos e seu estilo
de vida globalizado, sera que a escola se tornou obsoleta?
E munto dificil responder a esta interrogacao de modo ca-
tegorico; talvez as possiveis respostas ainda sejam impronun-
ciaveis. A finalidade destas paginas é aprofundar esse ques-
tionamento, explorando algumas de suas arestas, nao com 0
proposito de oferecer solugdes tranquilizadoras, mas para re-
finar sua formulagao e tornd-lo mais fecundo. As ferramentas
de que dispomos para realizar essa tarefa nao sao as do espe-
cialista em educagao, com as vantagens e desvantagens que
isso implica. Em vez de surgir da vasta tradigao pedagdgica, e
ainda que sem duvida aspire a dialogar com algumas de suas
vertentes, nossa anilise parte de um terreno que ainda costu-
ma ser considerado muito distante dos rituais escolares, quase
seu antagonista: 0 dos meios de comunicagao. Sobretudo em
sua rutilante conjugacao informatica, digital ¢ interativa, que
vem se colocando em sintonia, no nivel mundial, com os avan-
Gos j4 mais assentados da cultura audiovisual.
Tentaremos também, e com énfase especial, langar um
olhar antropoldgico e genealdgico sobre o problema, no intui-
to de detectar algumas tendéncias proprias de nossa era: aque-
la que nos impregna, a0 mesmo tempo que a tecemos € cruza-
mos a toda a velocidade, motivando a incerteza da indagagao
inicial. Se ainda emudecemos ou titubeamos na hora de res-
TO TSASIBIGAS REDES Ou parenes,
Pondé-la, a0 menos 5
© Menos este clima de epoca properciona algo in-
solito, que deveriamos aproveitar como uma rara dadiva: ele
Permite por o presente em questa. Por nos encontrarmos de
Fepente em uma encruzilhada, vemos como explodem as cer-
cas erguidas a Partir de velhas convicgdes e certezas que ja nao
funcionam. Sermos contemporaneos nao é uma tarefa isenta
de riscos: se estivermos atentos aos sinais do mundo, talvez
tenhamos a sorte de eles nos perturbarem a ponto de suscita-
Tem © pensamento; mas isso s6 ocorrerd se ConseguirMos es-
capar dos perigos que aparecem quando pisamos terrenos tio
Pantanosos sem evitar a complexidade dos fendmenos nem
desprezar suas contradigdes. O desmoronamento em curso
€ doloroso e desconcertante, mas, a partir dessa abertura, a
visao se expande para outras diregdes. Em consequéncia disso,
os caminhos podem se multiplicar.
Por tais motivos, o foco deste ensaio nao aponta somente
para a escola nem para o peculiar entorno sociocultural, eco-
nomico e politico que a viu nascer e se desenvolver com sua
orgulhosa missao ci
ilizadora. Além de contemplar esse marco
com suma curiosidade, o estudo tende a se concentrar no con-
texto atual, que sem duvida mudou bastante e em varios sen-
tidos em relagao aqueles tempos cada vez mais remotos. Com
esta premissa como pano de fundo, nossa analise tem em vista
um componente vital dessa maquinaria, cuja modelagem
constituiu seu principal objetivo: os corpos e as subjetividades
Para Os quais essa institui¢do foi criada, no momento de sua
invengao e durante sua gradativa consolidagao. A natureza
humana ndo € imutavel, constituida como uma entidade inal-
teravel através das historias e das geografias; pelo contrario, as
subjetividades se constroem nas praticas cotidianas de cada
cultura, € os corpos também se esculpem nesses intercambios.
Este texto busca acompanhar Os itinerarios que compuseram
€ssa trama até ela chegar a sua configuragao mais atual, deten-
10
do-se prioritariamente nos modos de ser e estar no mundo
que surgem hoje em dia, e que costumam se relacionar com
a escola de modos contlitivos.
Um primeiro desdobramento da questio que nos ¢
pode ser o seguinte: que tipos de corpos e de subjetividades
a escola tradicional produziu em seu apogeu? Essa localizaygo
historica remete principalmente a segunda metade do secu-
lo XIX e boa parte do XX, ou seja, a um denso bloco temporal
durante o qual essa instituicao irradiava ares de plena sol-
uia
vencia, longe de ser acusada de obsolescéncia ou de estar po-
tencialmente ultrapassada. Ha outra pergunta latente nessa
averiguagao: por que e para que nossa sociedade — ocidental,
moderna, capitalista, industrial — se propds, naquela epoca,
gerar esse tipo peculiar de seres humanos? Este trajeto indaga-
torio é fundamental, mas sobretudo porque em sua meta cin-
tilam os nds problematicos que privilegiaremos aqui: que Upo
de modos de ser e estar no mundo sao criados agora, no des-
pontar da segunda década do século XXI? Como, por que €
para qué?
Avancando um pouco mais nesta aventura, surgird 2 pet
gunta mais interessante € também mais espinhosa, cuja res-
posta talvez ainda deva permanecer aberta e pulsante: que ti-
pos de corpos e subjetividades gostariamos de forjar hoje em
dia, pensando tanto no presente quanto no futuro de nossa
sociedade? Uma vez definida essa sondagem tao complexa,
até no intuito de contribuir para depura-la ou aprofunda-la,
também seria preciso justificar as possiveis respostas, tornan-
do a indagar sobre seus pontos-chave: por que e para qué? Por
Ultimo, nesta tentativa de desentranhar a medula do assunto,
caberia introduzir a duvida crucial que inspirou a redacao
deste livro, como um disparo para novos rumos: de que tipo
de escola — ou de que substituto dela — necessitamos para
alcangar esse objetivo?
i
Ocolégio como
tecnologia de época
Vritre tantas perguntas em aberto e cada vez mais dificeis de
Fespondlet, em tung ao de sua crescente especitividade e da di
heuldade de imaginar alternativas para o nosso futuro, uma
certeza € quase obvia ¢ paderia servir aqui como ponto de
partid: a escola esta cm crise, Por qué? Os tatores que levaram
dessa situaydo sdo mnumeros ¢ sumamente complexos, mas
um caminhe para compreender os motives desse mal estar
consiste em recorrer a sta genealogia. Ao observa-la sob o
Prisma historiogratico, essa instituigae ganha os contornos de
uma fecnologia: podemos pensa-la como um dispositive, uma
terramenta ou um intrincado artetato destinado a produzir
algo. E nao € muito dificil verificar que, aos Poucos, essa apa-
relhagem vai se tornando incompativel com os cOrpos e as
subjetividades das criangas de hoje. A escola seria, entao, uma
Maquina antiquada. Tanto seus componentes quanto seus
modos de funcionamento ji nao entram facilmente em sinto-
nia com os jovens do século XXL.
sim e€ apesar de tudo, insiste
Nessa jungdo — que, ainda a
em acontecer todos os dias durante longas horas, em quase
todos os cantos do planeta —, as pegas nao se encaixam bem:
descobrem-se ressaltos imprevistos em suas engrenagens ¢ os
equéncia, ocasionando toda sorte
circuits se obstruem com fi
de atritos, ruidos, transbordamentos ¢ até cnormes desastre
Trata-se,em suma, de organismos que nao se ajustam (a0 har-
Moniosamente quanto costumava suceder algum tempo atras,
€ que, por conseguinte, ao serem postos em contato, tendema
desencadear conthitos de toda espécie ¢ da mais variada grave
dade. Para além das particularidades individuais de cada estu-
13
PEDES ou eapeoes
dante ¢
q nte ¢ das diversas institui
escola’, tambem deixando
relativas aos contextos socic
cada caso, se
icOes acolhidas na ampla cate oria
de lado as significativas diterencas
vECONOMICOS € até ZEOPOliticos de
a tia dificil negar essa incompatibilidade. Ha uma
Wergencia de época: um desajuste coletivo entre 05 colégios ¢
seus alunos na contemporaneidade, que se confirma e prova
velmente se reforca dia a dia na experiéncia de milhoes de
Criangas e jovens de todo o mundo. E algo que ja parece cons.
tituir a marca de uma geracao e€ que, alids, tem sido teorizado
Por Varios autores recorrendo a nomes relacionados com cer-
tas letras do alfabeto — geragao Y ou Z, por exemplo, assim
como N de net e D de digital — ou, entao, ao melancélico r6-
tulo “pos-alfa’, bem como a exitosa expressdo “nativos digitais”
€ outras no mesmo estilo.
Seja como for, e embora ninguém ignore que esse desen-
caixe jd vem se engendrando ha bastante tempo, talvez até
ao longo de todo o extenso e conturbado século XX, a brecha
tornou-se incontestavel nos ultimos anos. A primeira década
do novo milénio foi decisiva nesse sentido, e é provavel que
© sejam ainda mais as que virao. Esta constatagao ocorre jus-
tamente quando se esta soldando um encaixe quase perfeito
entre, de um lado, esses mesmos corpos e subjetividades e,
de outro, um novo tipo de maquinaria, bem diferente da pa-
rafernalia escolar e talvez oposta a ela. Referimo-nos, € claro,
aos aparelhos moveis de comunicagao e informagao, tais como
05 telefones celulares ¢ os computadores portateis com acess
a internet, que alargaram num abismo a fissura aberta ha mats
de meio século pela televisao e sua concomitante “cultura au-
diovisual”, A partir da evidéncia desse choque, originaram-se
as diversas tentativas de fundir de algum modo os dois un
versos: 0 escolar e 0 midiatico. Essas iniciativas se deflagram
atualmente em varias partes do mundo, respondendo a urges-
cia do conflito e procurando resolvé-lo de modos inovadores,
14
© COMO TFECNOLOGIA DE EPOCA
se bem que ainda com metodos experimentais € resultados.
incertos.
E claro que nao se trata de um fendmeno fortuito nem
muito enigmatico: ha explicagdes historicas ¢ até antropolo-
gicas para essa discrepancia crescente entre os colegios € os
jovens de hoie, assim como para a hostilidade e os dilemas
que costumam acompanha-la. Essas justificativas abarcam um
amplo leque de fatores econdmicos ¢ politicos, alem de impor-
tantes mudangas sociais, culturais ¢ morais que se foram de-
sencadeando nas ultimas decadas, com uma brusea aceleragao
em anos recentes. De que transtormagoes se trata? Embora
estejam em jogo certos movimentos contraditorios ou de alta
complexidade, que nada mais fazem do que acrescentar in-
certezas ao quadro atual, seus contornos basicos revelam-se
quase obvios para os que transitaram por algumas decadas
do século passado e se tornaram adultos no inicio do sécu-
lo XXI. E estao longe de poder sintetizar-se mediante a alusao
exclusiva aos avangos técnicos.
Provavelmente iniciada no periodo do apos-guerra, Ou,
mais seguramente, a partir da década de 1960, a germinagao
desses processos demorou bastante, mas agora seus frutos se
consolidam com um triunfalismo que nao da margem a duvi-
das. E, embora seja evidente que a causa de tao complexo
movimento hist6rico nao se limita aos dispositivos tecnoldgi-
cos recentemente popularizados, sua confluéncia com essa
crise que ja se vinha propalando levou, precisamente, a que 4
fissura se tornasse cada vez mais iniludivel. Por um lado, en-
tao, temos a escola, com todo o classicismo que ela carrega nas
costas; por outro, a presenga cada vez mais incontestavel des-
ses “modos de ser” tipicamente contemporaneos. Tornou-se
ficil evitar tamanha desarticulagao com um olhar
muito dif
para outro lado, ou um fingir que nao ha nada acontecendo,
ou um buscar em vao remendar esse artefato abstruso que, a0
45
ate ¢ das diversas mstirunaes acolhid
Ay Ha ampla ¢
als signaticatiy
208 CONTE aS sOCIOECONOMICOS &
cada caso, seria dial neg,
Megoria,
as dilerencas
ate Beopoliticos de
st esst incompattbilidade,
clivergenaa de epoca unr desaruste
essoid, tambeny denando de lado
relativas
Ha uma
voletive entre os Colegios ¢
seus GUNS Na Contemporancidade, que se confirma ¢
velmente se retorya dia a dia na experiencia de
enlangas ¢ jovens de todo o mundo, E
Prova.
milhoes de
algo que ja parece cons.
alias, tem sido teorizado
a nomes relacionados com cer-
htuir a marca de uma gerayao e que,
Por varios autores recorrendo
tas letras do altabeto —
erayao Y ou Z, por exemplo, assim
como N de nete D de digital — ou, entao, ao melancolico r6-
tulo “pos-aita’, bem como a exitosa expressio “nativos digitais”
€ Outras nO Mesmo estilo.
Seja come tor, € embora ninguém ignore que esse desen-
caixe ja vem se engendrando ha bastante tempo, talvez até
ao longo de todo o extenso e conturbado século XX, a brecha
tornou-se incontestavel nos ultimos anos. A primeira década
do novo milénio toi decisiva nesse sentido, e € Provavel que
© seam ainda mais as que virao. Esta constatagao ocorre jus-
tamente quando se esta soldando um encaixe quase perfeito
entre, de um lado, esses mesmos corpos e subjetividades e,
de outro, um novo tipo de maquinaria, bem diferente da pa-
raternalia escolar € talvez oposta a ela. Ret
ferimo-nos, é claro,
aos aparelhos méveis de comunicas ao ¢ informagao, tais Como
9s teletones celulares € 05 computadores portateis com aces
sO
a internet, que alargaram num abismo a fissura aberta ha mais
de meio século pela televisae © sua concomtante “cultura au-
diovisual”, A partir da evi
Vota desse Che que, Originaram-se
fund de alyumn
versos: 0 escolar eo midiitico, b
ay diversas tentativas de
cos dors unt
As intichativas se deflagram
atualmente em varias partes
vido mundo, tespondende a urgen
cia do contite & procurande resolve
lode modoy inovadores.
4
ue ainda com metodos experimentais € resultados
se bem 4
incertos.
£ claro que 9
9 enigmatico: ha explicagdes historicas € até antropolé-
ara essa discrepancia crescente entre os colégios e os
de hoje, assim como para a hostilidade e os dilemas
m acompanha-la. Essas justificativas abarcam um
jo se trata de um fendmeno fortuito nem
muit
ge as Pp
jovens
que costuma
amplo leque de fatores econdmicos e politicos, além de impor-
tantes mudangas sociais, culturais e morais que se foram de-
sencadeando nas ultimas decadas, com uma brusca aceleragao
em anos recentes. De que transformagées se trata? Embora
estejam em jogo certos Movimentos contraditorios ou de alta
complexidade, que nada mais fazem do que acrescentar in-
certezas a0 quadro atual, seus contornos basicos revelam-se
quase Obvios para os que transitaram por algumas décadas
do seculo passado e se tornaram adultos no inicio do sécu-
lo XX1. E esto longe de poder sintetizar-se mediante a alusdo
exclusiva aos avangos técnicos.
Provavelmente iniciada no periodo do apds-guerra, ou,
mais seguramente, a partir da década de 1960, a germinacao
desses processos demorou bastante, mas agora seus frutos se
consolidam com um triunfalismo que nao da margem a duvi-
das. E, embora seja evidente que a causa de tao complexo
movimento histérico nao se limita aos dispositivos tecnoldgi-
cos recentemente popularizados, sua confluéncia com essa
crise que ja se vinha propalando levou, precisamente, a que a
Assura se tornasse cada vez mais iniludivel. Por um lado, en-
Bo, temos a escola, com todo 0 classicismo que ela carrega nas
mde a Presenga cada vez mais incontestavel des-
muito dif ita ev contemporaneos. Tornou-se
para outro lado, - tamanha desarticulacao com um olhar
Ou um buscar em wae rin ae me ha nada acontecendo,
artefato abstruso que, a0
15
que tudo indica, parece ter perdido boa Parte
: de sua e
seu sentido ao se deparar com a nova P.
ficac
: “a
MSA8EM Que cre =
aseu redor. ne
Em virtude da generalizagao desse Panorama, este
beste @y
5 Ns,
pretende examinar em que consistem essas Mudangas Salo
0 pro.
as subjetividades No:
ultimos tempos, e que agora permitiriam vislumbrar a con,
f " a consy.
magao de uma metamortose. De fato, ainda que ela tenh,
= a
prosperado no curto prazo de uma mesma geracdo, tr:
fundas que vem afetando os corpos e
, ‘ata-se de
uma transformagao tao intensa que costuma despertar toda
sorte de perplexidades, especialmente naqueles que nao nasce.
ram imersos no novo ambiente, Mas atravessaram essa muta-
GO € agora sentem seus efeitos na propria pele. Afinal, esta-
mos aludindo a uma transigao entre certos modos de sere
estar no mundo, os quais, sem duvida, eram mais compativeis
com o colegio tradicional e com as diversas tecnologias adscri-
tas a linhagem escol.
Essas novas subjetividades que flores-
cem atualmente manifestam sua flagrante desconformidade
com tais ferramentas, ao passo que se encaixam alegremente
com outros artefatos
A partir desta perspectiva, portanto, fica claro que a es-
cola € uma tecnologia de época. Ainda que hoje pareca tio
“natural”, algo cuja inexisténcia seria inimaginavel, o certo é
que essa institui¢ado nem sempre ey
tiu na ordem de uma
eternidade improvavel, como a Agua e 0 ar, tampouco como as
ideias de crianga, infancia, filho ou aluno, igualmente natu-
ralizadas mas tambem passiveis de historicidade. Ao contrario:
© Tegime escolar foi inventado algum tempo atras em uma
cultura bem definida, isto é, numa confluéncia espagotempo-
ral conereta ¢ identificay
Para ter se
fato,
el, diriamos até que recente demais
arraigado a ponto de se tornar inquestionavel. De
“ssa Instituigao foi concebida com 0 objetivo de atender
a um conjunto de demandas especificas do projeto historico
16
a planejou e procurou po-la em pratica: a modernidade
ue antes houvera escolas ou colégios, mas eles nac
es termos, No
que
F claro q
equivaliam ao que hoje denominamos por
Idade Média, por exemplo, “eram reservados a um pequenc
misturavam as diferentes idades den
numero de clérigos ¢ a
tro de um espirito de liberdade de costumes’, relata Philippe
Aries, esclarecendo que somente “no inicio dos tempos mo-
dernos [tornaram-se] um meio de isolar cada vez mais as
criangas durante um periodo de formagao tanto moral como
intelectual, de adestra-las, gragas a uma disciplina mais auto-
ritaria, e, desse modo, separa-las da sociedade dos adultos”.
Mas, como sublinha o mesmo historiador francés, “essa evolu-
gao do século XV ao XVIII nao se deu sem resisténcias”!
Sem duvida, foi uma estratégia sumamente ousada, que em
contrapartida também requeria certas condigdes basicas para
poder funcionar: além de estipular metas e objetivos, foi pre-
ciso estabelecer determinados requisitos de indole variada
Para que essa maquinaria pudesse funcionar com eficacia.
Entre as exigéncias histéricas a que a criagdo dessa curiosa
entidade procurou responder figuraram os compromissos
desmedidos da sociedade moderna, que se pensou a si mesma
— pelo menos idealmente — como igualitaria, fraterna e de-
a. Por conseguinte, assumiu a responsabilidade de
educar todos os cidadaos para que ficassem & altura de tio
Magno projeto, servindo-se para esse fim dos potentes recur
sos de cada Estado nacional. Era preciso alfabetizar cada habi-
tante da nagao no uso correto do idioma patrio, por exemplo,
ensinando-o a se comunicar com seus. contemporaneos e com
as proprias tradigdes por intermédio da leitura e da escrita
Além disso, era necess
‘rio instruir todos para que soubessem
fazer calculos ¢ lidar com os imprescindiveis numeros. Em
Suma, umn conjunto de aprendizagens uteis e praticas, que fo
tam substituindo uma multidao de dogmas e mitos sem res
v7
paldo cientifico ou cuja inutilidade se tornava flagrante, ou
seja, tudo aquilo que ja nao servia para nada, apés ter Perdido
o substrato cultural que antes Ihe dera sentido. Por ultimo,
embora nao menos essencial, era preciso treinar os homens do
futuro nos usos e costumes ditados pela virtuosa “moral laica”
desfraldada pela burguesia triunfante: um cardapio inédito de
valores e normas que se impos com esse imenso projeto poli-
tico, econdmico e sociocultural.
Submersa nessa atmosfera em ascensao, a plataforma sobre
a qual se ergueu tal programa ostentava um lema muito claro:
disciplina. Em suas conferéncias ministradas no fim do século
XVIII e publicadas alguns anos mais tarde, em 1803, sob o
titulo Sobre a pedagogia, ninguém menos que Immanuel
Kant deixou claro que seria esse 0 objetivo prioritario da edu-
cagao. “A disciplina converte a animalidade em humanidade”,
afirmava o filésofo alemao ha mais de duzentos anos, asseve-
rando que s6 com esse instrumento nas maos seria possivel
“dominar a barbarie”.* Assim se explicitou a fungao basica da
instituicéo escolar, entéo em seus primordios: humanizar o
animal da nossa espécie, disciplinando-o para modernizé-lo e,
desse modo, iniciar a evolugdo capaz de converté-lo num bom
cidadao. Uma vez atingida essa primeira meta, em segundo
lugar caberia tornar os homens capazes de desenvolver deter-
minadas habilidades, como ler ¢ escrever ou aprender outras
destrezas mais especificas. Essa tarefa tequereria “a instrugao e
© ensino”, mas s6 poderia consumar-se a partir do trabalho
civilizador previamente realizado sobre a natureza crua dos
alunos. Nesse sentido, para Kant, a disciplina seria um traba-
Iho negative, destinado
a anular uma etapa prévia: “a agao pela
qual se apaga no homem a animalidade”. Assim se expurgaria
a condi¢ao primitiva oua barbarie origindria que se verificava
m algo gravissimo para o Projeto moderno: 0 desconheci-
mento da lei.
18
Em contrapartida, a instrucao ja constituiria a parte positi
vada ed' al do
ado anterior, uma vez que s6 “a disciplina submete o ho
ucagao, necessariamente inscrita na supressao vit.
est
as leis da humanidade e comega a fazé-lo sentir a coagao
mem
desta’.’ Portanto, essa fase basica nao consistiria apenas em
ensinar as criangas quais sao as regras concretas que coman
dam a sociedade, porém em algo muito mais elementar e im-
prescindivel: saber que a lei existe e, como tal, deve ser respei-
tada. Seguindo a escala de prioridades da pedagogia kantiana,
além da disciplina e da instrugao, em terceiro lugar seria ne-
cessdrio propagar a “civilidade”, logrando que cada homem
adquirisse “boas maneiras, amabilidade e certa prudéncia”
para poder adaptar-se com éxito aos costumes e usos sociais.
Por ultimo, o fildsofo destacava que “é preciso cuidar da mo-
ralizacao’, a fim de que, havendo aprendido a executar um
conjunto de tarefas com finalidades distintas, cada um tivesse
também “um critério conforme o qual [escolhesse] somente
os bons objetivos”. Em sintese, a pedagogia teria como meta
propiciar “o desenvolvimento da humanidade’, de maneira
cumulativa e cada vez mais aperfeigoada, procurando fazer
com que ela fosse nao apenas “habil, mas também moral”, pois
“nao basta o adestramento; 0 que importa, acima de tudo,
é que a crianca aprenda a pensar”; e, fundamentalmente, que
saiba se comportar como convém.* Esse exercicio da raciona-
im pautada, era
lidade, transmitido pela educagao formal ass
também — e, talvez, principalmente — normalizador: ensina-
va-se a pensar e a agir do modo considerado correto para os
Parametros da época.
O texto de Kant, sem duvida, merece a atengao que the
dedicamos aqui, ja que sua obra constituiu um dos pilares da
modernidade; por isso nao convém desdenhar do vinculo que
essa pena selou entre a educagao formal e a disciplina come
um projeto basilar do Iuminismo. Esta ultima deveria se:
19
aplicada ¢ infundida de imediato em cada recém-nascidg
“pois, de outro modo, depois € muito dificil modificar g h
0.
mem’, explicava 0 filosofo, Do contrario, aconteceria algg
muito perigoso: » homem ficaria a mercé de seus caprichgy,
por isso a capacidade de se curvar A razdo e a disciplina de.
veria ser Muito precocemente inculeada na trajetéria Vital
de todos os cidadaos. “Se, em sua juventude, ele é deixado en.
tregue 2 sua vontade, conservard alguma barbdrie durante
entando que “de nada The
serve, tampouco, ser mimado na infancia pela excessiva terny.
toda a vida’, advertia 0 autor, act
ra materna, pois, mais tarde, nao fara sendo chocar-se com
obstaculos por toda parte ¢ sofrer continuos fra
logo interfira nos assuntos do mundo”. Por tais motivos, com.
a e 0 controle familiar, foi
‘ASSO, tig
plementando a severidade paterr
necess.rio instituir a escola moderna para reforgar essa mis-
sao, cuja utilidade seria tanto individual quanto coletiva.
Nao foi por razOes banais, entao, que se adotou o novo
habito: desde muito pequenos, os meninos da era burguesa
tiveram que ser enviados todos os dias as escolas, “nao ainda
com a inteng3o de aprenderem algo’, como repisou o proprio
Kant, “mas com a de habitua-los a permanecerem tranquilos e
a cumprirem pontualmente o que lhes [fosse] ordenado’.* Por
isso, para o cidadéo moderno, nao ter sido instruido a fim de
dominar certas habilidades implicaria um problema, sem du-
vida; porém, muito pior que qualquer impericia — mais grave
ate que certa ignorancia ou necedade — seria o fato de nao ter
disciplina. Isso o levaria a se equiparar a um selvagem ou um
barbaro e, uma vez consumada essa falha na crianga, ela ja n40
Poderia ser remediada, mais tarde, com ensinamentos pon-
tuais: convertido num adulto indisciplinada, esse homem €s-
taria arruinado, sem possibilidade de emenda para os fins bus-
sados pela civilizagao. De fato, além de denunciar com firmez
essas falhas de cardter nos pequenos mal-educados, que fatal-
20
> converteriam em adultos sem disciplina — por isso
iment “los” _, esse autor identificava algo semelhante “entre
on que, ainda que prestem servigos durante muito
te 08 europeus, Nunca se acostumam com oO modo de
tempo : 5 an
ver destes”. Ao explicar os motivos de tal resisténcia ao rigor
viver d .
s provenientes de outras culturas, 0 fildsofo
disciplinar nos seres
se neles “uma
emao desmentiria categoricamente que houve:
al
nobre inclinagdo pata a liberdade, como creem Rousseau e&
outros tantos” Em vez disso, Kant denunciou uma espécie de
“O animal
prutalidade que seria inerente a essas criaturas
ainda nao desenvolveu em sia humanidade.”
Ainda que essas palavras provoquem certo desconforto nos
eitores do seculo XX1, convém esclarecer que foram redigidas
sem hesitagao, ha dois longos séculos, por um dos pensadores
de maior relevancia em nossa tradigio; e, certamente, suas
reflexdes contribuiram para consolidar a instituigao escolar tal
como a conhecemos. E que a educagao formal constituiu um
importante brago armado do Huminismo: além de desenvol-
ver seus impetos modernizantes e secularizadores, libertando
0 soberano das trevas da ignorancia, também acabou sendo
cao cultural, capaz de des-
qualificar ¢ asfixiar sob sua hegemonia racionalista todas as
um forte movimento de uniformiza
(muitas) manifestagdes consideradas inferiores. Um exemplo
tipico foi o dos idiomas que se impuseram como linguas na-
cionais, com a forca da coagao estatal, esmagando os milhares
de dialetos falados nos tempos pré-modernos, tanto nos terri-
torios europeus quanto em suas colénias ultramarinas. O en-
Sino irradiado nos colégios foi fundamental para consolidar
essa homogeneizagao em torno da norma e sob a firme tutela
de cada Estado, contribuindo para cimentar os valores com-
Partilhados no territério delimitado pela simbologia nacional.
oe representativa exige que os cidadaos dele-
ler aqueles que manejarao diretamente os recur-
21
sos do Estado e tomarao decisdes politicas capazes de
- | . - Aleta,
toda a populagao do pais. Por isso se fez necessarig « :
educar y
i ; i “Algo que 56 se
poderia conseguir por meio de relatos referentes
soberano” forjando sua “consciéncia nacional”
brim 2 UM Passady
comum a todos os cidadios de uma mesma nacao, capares d
ye : as azes de
constituir certa identidade ligada a ideia de pove. Com efeit
0,
no século XIX, o “sujeito da consciéncia’, filosoficamente ins.
tituido duzentos anos antes, tornou-se “sujeito da consciéneia
nacional”, como uma exigencia da sofisticagao do aparato is
ridico moderno.® Assim, sobre essa “ficgao ideologica” de um
passado comum que seria causador do presente comparti-
lhado — um relato gerado pelo discurso historico — recaiu a
fungao de dar consisténcia coletiva a cada povo. Sua solene
materialidade compds-se do classico repertorio escolar: hinos
cantados orgulhosamente de pé; comemoragoes patrias enga-
lanadas com feriados ¢ atos presididos por porta-bandeiras
sob declamagdes circunspectas; manuais ou livros de leitura
carregados de relatos edificantes sobre préceres, heroismos e
gestas nacionais; e até museus €e MONUMeNtos a serem visita-
dos nas esporddicas excursdes extramuros.
Para que tudo isso pudesse frutificar, com os sentidos con-
tundentes que tal mitologia soube conquistar naquele periodo
historico, era preciso plantar uma semente muito especial na
terra fértil constituida por cada crianga escolarizada. Median-
te o ensino da historia e a ritualizacao das comemoragoes &
colares, dever-se-ia conseguir que brotasse em cada future
cidadao a consciéncia da identidade nacional. Cabe lembrat
que na palavra discipulo ressoa sua entranha disciplinas cura
origem etimoldgica remeteria a discere e pueris, dizer as crian-
Sas: explicar-lhes o que é certo e o que € errado, inculand
-lhes 6 que se supunha que deveriam saber e fazer ae
mesma linha, 0 curioso vocabulo aluno também escom
a : iment0:
lagos significantes que o ligam a estirpe do esclarec™
22
-_ |
) COLEGIO COMO TECNOLOG IS EE UT TT”
alta de luz e 2 conseguinte necessidade
enguanto outros &
studiosos da
ual o aluno
escer. Mas,
alguns 0 associa J
de ser iuminado (ate
ia de nutrigao, segundo aq
eset alimentado para poder er
n filologica que revela a plas-
ser cultivado, cabe
pelo Estado nesses
\final, essa entidade a de
constituindo-se camo um solo firme,
jas
sublinham a ide
seria aquele que dev
ssaltar essa linhag
e sua capacidade de
do alunate
» papel crucial desempenhado
aleangou a envergadur:
processos.
uma megainstituiys
rantir o bom funcionamento de tod.
tidoeg
ad SO-
capaz de dar sen
is instituigdes em torno das quais se OF
ais como a familia, a escola, a fabrica, ©
nizou
as den
ciedade moderna, t
Exército ¢ a prisdo.
Nesse contento historico, cujas bases hoje parecem se dis-
solver em contato fluido com as légicas do consumo e dos
meios de comunicacaio, o Estado encarnava a solidez do insti-
tituidor. De sua
tuido, que ao mesmo tempo era fortemente ins
sobria investidura surgia a lei universal, sob cujo amparo se
gerou um tipo de subjetividade que alguns autores denomi-
nam, precisamente, “estatal” ou “pedagogica”. Segundo o his-
toriador e filosofo argentino Ignacio Lewkowicz, por exemplo,
seus dispositivos institucionais a
“o Estado-nagao delegava a
produgdo e a reprodugio de seu suporte subjetivo: 0 cida-
dao” Esse tipo de sujeito era tanto a fonte quanto o efeito do
principio democratico que postulava a igualdade perante a lei,
ou seja, um individuo constituido em torno desse codigo, o
qual, por sua vez, apoiava-se em duas instituigdes fundamen-
tails a familia e a escola, ambas encarregadas de gerar os cida-
dios do amanha. Trata-se, portanto, de um modo peculiar de
sere estar no mundo, que se ia formando minuciosamente
desde o nascimento de cada individuo; assim, em seu desen-
_ Volyimento progressive rumo a idade adulta, ele seria capaz de
fansitar entre todas essas instituigdes irmanadas por um fim
eae ee 23
idéntico, que usavam a mesma linguagem e se alinha
Vv,
Por isso, a0 atravess, ams
uma causa comum arem pela Prime,
vez o circunspecto portico escolar, vestindo Uniformes im
culados e esgrimindo suas maletinhas cheias de materian m
estudo, as criangas ja chegavam preparadas gragas a uma ta
delagem prévia que ocorria entre as paredes do lar. Algo sen
lhante acontecia na transicao do colégio para a universida.),
ow a fabrica: todos esses recintos eram compativeis entre g
com seu respectivo material humano, j4 que funcionavam ,,
gundo a mesma logica
Em virtude desse encadeamento, “cada uma das instit.,
goes operava sobre as Marcas Prev iamente forjadas”, exphca
Lewkowicz, assegurando e reforgando assim a eficacia do fun
cionamento disciplinar: “A escola trabalhava sobre as mare.
oes familiares; a fabrica, sobre as modulagées escolares:
prisio, sobre as molduras hospitalares.”'” Nesse sentido, cada
uma dessas instituiges poderia pensar-se como um disposit:
vo que exigia dos sujeitos a manutengao de certos tragos e 3
execucao de determinadas operagdes para nelas permanecer
Além de produzir as subjetividades de seus habitantes, na pra-
tica cotidiana desse conjunto de atos e gestos, o proprio dispe-
sitivo se consolidava em sua agao: ambos eram fabricados em
unissono. Desse modo, jd convenientemente disciplinados
instruidos, civilizados e moralizados — para retomar os qu:-
tro pilares pedagogicos destacados por Kant —, os sujeites
Podiam ingressar em cada uma dessas instituigées munides
das premissas que as guiavam, Compreendiam entao seus c0-
digos e cram capazes de colocd-los em pratica, para além das
rom is can ca a
resistencia que oer dle individuais e da cepecl .
Ihagem, Ao ce ra revelaria essencial para mobi liza
ai S€ dirigirem a cada nova instancia, ess
‘viam ser reforcados no cidadao, depurando dess¢
tal aparel
tracos d
24
modo a configuragdo de subjetividades cada ve7 mais compa
tiveis com esses estilos de vida.
A perda de eficacia no funcionamento bem azeitado das
engrenagens disciplinares ¢. justamente, um dos indicios do
crise atual, Um ingrediente primordial de
Estado no papel de megainstituigde ¢
ssa deteriotagde ¢ 0
enfraquccimento do
paz de avalizar ¢ dotar de sentido todas as demais. Em conse:
iincia com esse declinio, perdem peso € gravidade as invest:
duras que revestiany figuras chave da autoridade moderns,
como o pai ¢ © professor, por exemplo, cujas definiyoes, att:
butos ¢ poderes se transformaram amplamente nos ultimos
tempos. Assim, a incompatibilidade aqui sugerida —- entre
escola como tecnologia de (outra) época ¢ a garotada de hoi
— seria um sintoma sumamente eloquente desse desajuste
historico que hoje vivemos.
25
O molde escolar e
a maquinaria industrial
iragrafos anteriores resumimos os principais motivos
Nos pa
simo sistema
que le
escolar, semeando suas ramificagdes por toda parte, tanto nas
aram ao desenvolvimento do complexis
metrdpoles mais pujantes do momento como nos confins da
civilizagao. Por outro lado, para que esse novo e tio ambicioso
artefato sociotecnico pudesse entrar em operagao, uma condi-
gao basica era contar com sua matéria-prima indispensavel:
certos tipos de corpos infantis. Em seu livro Vigiar e punir,
isdo e
Michel Foucault explica que, ao tomar por modelo a pr
0 Exército, a escola concebida pelas sociedades industriais teve
de ser uma instituigao em que “cada corpo se constitui como
pega de uma maquina”! Um projeto bastante temerdrio e
nada modesto, até descomunal, mas em perfeita concordancia
com a configuragao disciplinar dos estilos de vida e com a
inabalavel ambigao do progresso cientifico-industrial. No en-
tanto, como sabe qualquer um que tenha mantido contato
ias dezenas delas, reuni-
formi-las em
com criangas — mais ainda com v
das num mesmo recinto —, nao é facil trans
pecas de um aparelho bem calibrado, nem agora nem nunca,
provavelmente. Mais arduo ainda é conseguir a proeza de
manter essa ordem todos os dias e sem falta, durante varias
horas ao longo de tantos anos, pelo menos até que os peque-
nos componentes desse mecanismo se convertam em adultos
e passem a integrar outros aparatos.
Por causa dessa dificuldade recorreu-se ao confinamento
iplinar de importancia vital, nao s6 nos
como um recurso di
colégios, mas também nas diversas instituigdes que subsidia-
ram a industrializagao do mundo. Sua chave consiste em en-
27
cerrar os individuos num espago delimitado por Paredes, gy,
des e fechaduras, com o interior idealmente diagramado bs
os fins especificos de cada instituigdo, em itervalos Tegular,
de tempo, cujos limites ¢ pautas devem ser igualmente €Strites
ais, Condigo..,
com frequeéncia didria e¢ durante longos periodos da Vida
cada sujeito. Nao se deve subestimar a importancia desse tre;
namento corporal, tio metédico e a portas fechadas, visto que
— como afirmara Kant em suas ligdes pedagogicas — a fun
¢a0 primordial da escola nao consistia Prioritariame
Rotinas idénticas e progressivas se repetem em t.
nte em
instruir os alunos em determinados saberes ou conhecimentyy,
praticos, mas em “habitua-los a permanecer tranquilos ¢ a
observar pontualmente o que thes é ordenado”" 4 Primeira ¢
mais capital etapa do adestramento infantil deveria ser dedi-
cada, portanto, a acostumar as criangas a ficar sentadas em
seus lugares durante periodos regulares e previamente estabe
lecidos, obedecendo as ordens dos superiores. Ou, como tra-
duz o especialista brasileiro Alfredo Veiga Neto, “ensinar as
criancas a ocupar melhor seu tempo e seu espago’, ou seja, “de
forma ordeira, disciplinada” e “de uma forma comum ou pa-
dronizada”. O primordial, portanto, era forcar essa adaptacio
dos corpos infantis as definigoes radicalmente novas do tempo
e do espaco que se enunciaram na modernidade, ja que “qual-
quer um pode aprender as coisas relativas a cultura mais tarde.
até mesmo fora da escola” !5
Mas conseguir que todas as criaturas humanas de curta
idade aprendam a usar adequadamente o tempo e 0 espace
nunca foi tarefa menor. £ Provavel que a faléncia desse projet:
na atualidade, seja outro indicio da crise que afeta a escola
Por um lado, Porque tal meta se tornou subitamente inviavel:
Por outro lado, porque se alteraram tanto as definicoes &*
Pavotemporais quanto os usos dessas entidades que se ons!”
deram corretos ou €quivocados. E também porque os colégis
28
cerrar os individuos num espaco delimitado Por pared
aredes,
> Bra.
fs i )
os fins especificos de cada instituigao, em intervalos x a
egulares
des e fechaduras, com o interior idealmente diagramad,
gramadc
de tempo, cujos limites ¢ pautas devem ser igualmente estrit,
Rotinas idénticas € progressivas se repetem em tais condi te
com frequéncia diaria ¢ durante longos periodos da vida
cada sujeito, Nao se deve subestimar a importancia desse ir
namento corporal, tio metédico e a portas fechadas, visto que
— como afirmara Kant em suas ligdes pedagégicas — a fun-
¢40 primordial da escola nao consistia prioritariamente em
instruir os alunos em determinados saberes ou conhecimentos
praticos, mas em “habitua-los a permanecer tranquilos ¢ a
observar pontualmente 0 que thes é ordenado’."' A primeira e
mais capital etapa do adestramento infantil deveria ser dedi-
cada, portanto, a acostumar as criangas a ficar sentadas em
seus lugares durante periodos regulares ¢ previamente estabe-
lecidos, obedecendo as ordens dos superiores. Ou, como tra-
duz o especialista brasileiro Alfredo Veiga Neto, “ensinar as
criangas a ocupar melhor seu tempo e seu espaco’, ou seja, “de
forma ordeira, disciplinada” e “de uma forma comum ou pa-
dronizada”. O primordial, portanto, era forgar essa adapta¢ao
dos corpos infantis as definigdes radicalmente novas do tempo
e do espago que se enunciaram na modernidade, ja que “qual-
quer um pode aprender as coisas relativas a cultura mais tarde,
até mesmo fora da escola”.'*
Mas conseguir que todas as criaturas humanas d
idade aprendam a usar adequadamente o tempo ¢ 0 espace
nunca foi tarefa menor. £ provavel que a faléncia desse projeto.
na atualidade, seja outro indicio da crise que afeta 4 escola.
Por um lado, porque tal meta se tornou subitamente inviavel
por outro lado, porque se alteraram tanto as definigoes sal
Pacotemporais quanto 0s usos dessas entidades que se con”
deram corretos ou equivocados. E também porque 0S colégio®
je curta
28
er as instituigdes mais aptas a ensinar tais novi-
m ser as
ais ainda se encontram em plena mutacao e nao
scitar toda sorte de confusées. No entanto, foi
nao parece
dades: as qui
deixam de st
assim que Fou
nalmente Se dese!
aprendizagem - Em set ' se
laa partir dos arquivos e outros vestigios deixados pela hist6-
ria, numa investigagao realizada na década de 1970, 0 filésofo
francés relatou que em tais espacos fechados se exercia uma
“combinagao cuidadosamente medida de forgas”, que exigia
“um sistema preciso de comando” e na qual “todo o tempo de
todos os alunos estava ocupado, ensinando ou aprendendo”.'®
Sem diivida, tampouco naquela época foi simples implemen-
tare manter em funcionamento tal aparato tecno-humano:
toda uma plataforma teve de ser construida para sustenta-lo e
justifica-lo, articulando uma multiplicidade de praticas e dis-
cursos capazes de se infiltrar de modo capilar nos ambitos
mais reconditos. Essa estrutura colossal foi montada com o
objetivo de conseguir algo sumamente improvavel: transfor-
mar a carne tenra das criancas num ingrediente adequado
para alimentar as engrenagens vorazes da era industrial. Algo
muito trabalhoso, unico na hist6ria da humanidade e sur-
preendentemente recente para a nossa compreensao.
Tal faganha nao 6 foi consumada com sucesso, como tam-
bém se manteve de pé e bem alinhada durante um bom tem-
Po, a ponto de ser imensamente dificil a mera tentativa de
imaginar como seria um mundo sem escolas — mesmo sa-
bendo-se que houve, sim, uma época nao téo remota em que
tais instituices teriam sido impensaveis. Por isso vale a pena
empreender aqui tal esforco de desnaturalizagdo de algo tio
enraizado em nossa cultura, no intuito de compreender os
Mee ae invengdo extremamente eficaz, que, no entanto,
ameagada. Se, antes da clivagem modernizadora —
cault descreveu os cubiculos em que tradicio-
nvolvia o ensino primario: “uma maquina de
u afa de reconstruir a trajetoria da esco-
29
tanto na cultura ocidental como em todas as demais
escolas nao existiam. deveria haver bons motivos ee
a
Para essa
incrivel omissao. Uma exphicacao ¢ muito simples.
colégios porque eles nao eram necessdrios. Sua
S40 erg
cindivel uele » de sociedades ¢. Zon:
prescindi ] naquele npo de soc edades €, Por conseguinte,
nao faria sentido investir tanto empenho em cor
custea-los. Em suma: nao havia necessidade de adest
corpos pré-modernos para que fossem capazes de trabalhar
em fabricas, por exemplo, sintonizande seus gestos ¢ ritmos
com a frequéncia mecanica de linhas de montagem, cron
metros € seus diversos automatismos. Tampouco era preciso
instrui-los para que fossem cidadaos de bem, sensatos pas
ou maes de familia e, quando fosse 0 caso, corajoses soldados
capazes de sacrificar tudo pela patria. defendendo 2 sobera-
nia nacional. Os brotes mais precoces dessas demandas mal
comecaram a se disseminar, anunciando seu pronto Hloresci-
mento, na segunda metade do seculo XVII. Nao e a toa que.
precisamente nessa epoca, surgiram as primeiras * scolas de
aprendizagem” nos paises europeus.
Essa implementa¢ao foi lenta e titubeante em seus primor-
dios, mas tambem nao admira que tenha se irradiado a partir
dos povos protestantes do norte da Europa, como assinala 0
inglés Colin Hevwood em seu livro dedicado a historia da in-
fancia. Todavia, o mesmo autor esclarece que a substituisse de
trabalho pela educagdo escolar, como ocupayao principal das
criancas, so viria a se consumar bem mais tarde, numa data
que soa espantosamente recente para o olhar contemporine
no final do século XIX ¢ inicio do XX." Mas entio, antes disse
como se aprendiam as coisas? Em primeiro lugar, vale assina-
lar que, entre as imensas transformagdes implicadas pela mo”
dernizagao do mundo, mudou muito o que s€ considerava que
convinha aprender: quem tinha de saber 0 qué, 3trave* ©
quais procedimentos ¢ com que objetivos. Por isso © que
30
9 MOLDE ESCOLAR EA MAUR
5 “educagao” funcionava de modos diferentes antes
Se ao original dos modernos estabelecimentos de
“ eae Na Idade Média € até nos preltidios da moder-
reine 0s oficios eram diretamente
r exemplo, oS divers 1
m oficinas, nas quais © aprendiz burilava sua peri-
profissional ja versado na habilidade especifi-
la. Nesses casos, sao do saber era
da quando o discipulo recebia a anuéncia
dade pertencentes 2 corporagao que con-
se dessa maneira
ensino co!
nidade, po!
cultivados ¢1
cia auxiliando o
ca a ser adquitid:
considerada conclui
dos habitantes da ci
m questao. Por outro lado,
se reproduziam os saberes praticos no meio popular da vida
medieval, era nos ambientes impolutos dos mosteiros que se
transcrevia a sabedoria emanada dos livros sagrados e da pa-
lavra divina, mediante a exegese biblica ¢ as narrativas prota-
gonizadas por santos ou pecadores. De qualquer modo, tanto
os “contetidos” de tais ensinamentos quanto os sujeitos en-
s estavam muito longe do que viria a
a transmi
gregava 0 servigo el
volvidos nesses rituai:
ocorrer nos ambientes escolares que seriam instituidos varios
séculos depois, e que hoje se encontram ao mesmo tempo
naturalizados ¢ em crise.
Nao houve s6 0 avango do método cientifico, como um
instrumental cada vez mais hegemonico. Além disso, ¢ em es-
treita relacio com esse movimento, a Reforma Protestante
marcou uma ruptura importantissima nesse tecido, fertilizan-
do o solo para que pudesse brotar 0 “espirito do capitalismo’,
que ja lutava por germinar, ¢ junto com o qual surgiria algo até
entao inédito e mesmo impensiavel: os sistemas nacionais de
educagao. O projeto escolar foi um fruto singular da confluén-
Mi protec" dante de pores de madeniae ne
outro, as ideias esclarecidas oc si : a 7
Com a ressalva de certas copecifcidades, que, huunad
meros detalhes, seria possivel dizer : ‘ de fe vas his.
que essas duas forgas his-
31
toricas ansiavam por metas comparaveis: lavrar a alma d,
wed’ seus
fidis ou temperar o carater de seus cidadaas. Fm todo ca
80, ¢
para além das lutas muitas vezes sangrentas que acompant
nha
ram tais empenhos, a educagao formal se for lapidando con
no
uma ferramenta preciosa para consumar tais objectives Na
“ ad
5 situam o “nascimento d.
por acaso, 0s historiador a infancig
justamente nesse interregno: folem algum momento Imprec)
so entre os séculos XVI ¢ XVII, reforgando-se ao final deste
ultimo, que comegou a se cristalizar a figura do filho capaz de
se tornar aluno, a partir de um contexto previo em que crian
gas e adultos se mesclavam de forma muito mais indiferencia
da. Como relata Philippe Aries em suas pesquisas pioneiras
cidade crescente do infantil cons-
sobre 0 assunto, essa espec
tituiu “uma das faces do grande movimento de moralizacio
dos homens promovido pelos reformadores catdlicos ou pro-
testantes ligados a Igreja, as leis ou ao E: stado”; tal dindmica,
é claro, nao teria se concretizado “sem a cumplicidade senti-
mental das familias”.
Em suma: para que houvesse escola, tinha que haver crian-
¢as; por isso, diante da necessidade histérica de realizar o proje-
, indus-
to modernizador anunciado pelas revolugdes cient!
triais e democraticas, foi preciso “inventar” as duas. A familia,
é claro, foi um aliado iniludivel nessa aventura, e o proprio en-
sino formal terminou de consumar tal operagao. Com efeito,
mais de um século antes do pronunciamento kantiano, 0 tedlo-
go e pedagogo moravio Jodo Amés Comenius, que viveu NO
éculo XVII e costuma ser reconhecido como 0 “pai” da educa
i
escola a 7 iea
¢ra que a crianga aprendesse a distinguir entre seU pai
32
0 MOLDE ESCOLAR E A MAQUINARIA INDUSTRIAL
lei: esse cédigo universal constituiu um eixo vital da moderni
dade, dedicado a proibir as mesmas coisas a todos os cidadaos,
de modo impessoal ~ algo que se devia assimilar na escola,
uma vez delineada a fungao paterna no seio do lar. Sem duvida,
trata-se de uma visdo pouco idealizada da institui¢gao familiar,
ainda que os afetos em que ela foi macerada, gragas aos influxos
romanticos que insuflaram o éthos burgués, também tenham
contribuido para aumentar a eficacia desse aparato,
Cabe acrescentar aqui um breve paréntese a respeito da
universidade, um templo do saber que nunca necessitou da
infancia para funcionar ¢ cuja estirpe, talvez por isso, precedeu
amplamente a genealogia escolar, nado 56 no mundo ocidental
mas também em virias culturas orientais, como a chinesa ea
drabe. Na vertente curopeia, seus vinculos com os conventos e
as catedrais sao evidentes até na arquitetura dos claustros mais
tradicionais, por exemplo. Mesmo apos sua dispersao global e
sua atualizagdo inevitivel, ecos cclesidsticos continuam a im-
Pregnar 0 vocabuliria carregado de catedras, decanos, togas,
pulpitos ¢ aulas magnas, assim como 0 clitismo sectario e os
Pomposos rituais de formatura que ainda persistem em varios
estabelecimentos espalhados pelo planeta, ainda que secu nome
JA sugira a mutagao renascentista que converteu esses fausto-
sos edificios em santuarios do saber universal. E claro que eles
também se modernizaram quando foi preciso. Nesse processo,
as universidades converteram-se em instituigdes disciplinares
comparaveis as escolas. Atualmente, no capitulo mais recente
dessa longa historia e com suas proprias especificidades, elas
softem as turbuléncias desencadeadas pela mesma incerteza
que afeta todas as demais organizagoes desse tipo.
3
Educar o soberano
disciplinando os selvagens
: caeeitiar te
ora as escolas concebidas para ser diariamen'
Voltemos ag " ;
pupilos impuberes uniformiza
frequentadas por centenas de
dos: apesar da marca protestante que chancelou esse projet
em suas origens, as sacudidelay provocadas pelo cisma crista”
Ya Espanha,
ambém se fizeram sentir nos paises catélicos.
por exemplo, esse impulso foi seguido de modo exemplar pe
los jestitas, cuja vocagao pedagdgica disseminou-se pelo con
tinente europeu em pleno auge da Contra-Reforma; muito.
especialmente, semeou suas sementes missiondrias nas co
lonias latino-americanas, africanas ¢ asidticas. Nesse sentido
— e isso talvez seja especialmente notério em nossos cost
mes ibéricos —, a elite luminista secularizou as ferramentas
educativas fundadas pelos reformadores religiosos, como ex-
plicam os socidlogos espanhdis Julia Varela e Fernando Alva
rez-Uria em seu livro intitulado Arqucologia da escola.”
Na América colonial, as congregagoes eclesidsticas desem-
penharam um papel de primeira ordem nos assuntos edu
cacionais, papel que nao desapareceu de todo depois das in
surreigdes nacionalistas. Nos territérios norte-americanos,
conquistados a for¢a de massacres para “ampliar as fronteiras
da civilizagdo”, por exemplo, os colonos anglo-saxdes funda
mentaram suas tradigGes muito respeitiveis reproduzindo ce
nas edificantes, dignas do seriado Os pioneiros, nas quais a
Igreja ¢ a escola cram pouco mais que sindnimos. Baseado na
saga autobiografica da verdadeira Laura Ingalls, escritora ¢
professora nascida no estado de Wisconsin em 1867, esse pro-
grama televisivo dos anos 1970-1980 mostrou de que modo
— com base na inquebrantavel e exemplar solidez do compro-
35
misso familiar —- essas duas influéncias se entrelagaram pat
a ra
assentar as bases do novo mundo. O século XIX j4 avangava
velozmente nas agrestes ¢ longinquas paragens do Oeste dos
Estados Unidos, mas ali a modernidade era austera: os Tigidos
preceitos puritanos brotavam tanto da boca do pastor quanto
dos labios da mestra, cujos sermoes eram pronunciados no
mesmo templo rusticamente construido com o suor e as lagri-
mas dos paroquianos.
Enquanto isso, no sul do continente, a luta nao se valey
apenas da eliminagao sumaria dos antigos povoadores; além
disso, exigiu um recurso muito caro a tradic¢ao catolica: a ten-
tativa de conversio mediante a evangelizacgao. E claro que esta
nao contemplava apenas a salvagao espiritual dos indigenas,
mas também os ensinamentos priticos que pudessem servir
aos objetivos buscados pelas autoridades estrangeiras e, acima
de tudo, 4 crenga numa lei abstrata, que s6 poderia ser minis-
trada com fortes doses de disciplina. Retomando as ilustracdes
provenientes da cultura audiovisual, caberia mencionar, neste
so, o filme A missao, dirigido pelo britanico Roland Joffé em
1986, que mostra tanto as dificuldades como as ambiguidades
e até mesmo as crueldades implicitas nesses processos, capazes
de misturar as mais ferozes lutas pelo poder com justificativas
piedosas e boas intengoes. A trama dessa obra se passa nas
florestas do Cone Sul em meados do século XVIII, mas as ce-
nas protagonizadas por sacerdotes jesuitas e guerreiros ligados
a Coroa espanhola, em tenso contato com os indios guaranis,
¢
sao semelhantes as que ocorreram mais ao norte a partir do
século XVI, entre missionarios de origem portuguesa e grupos
tupinambas.
A comparacao vem 4 tona a partir de um relato muito ilus-
trativo dos mal-entendidos gerados nesse choque, extraido do
Sermao do Espirito Santo, escrito em 1657 pelo padre Antonio
Vieira e resgatado pelo antropélogo brasileiro Eduardo Vive
36
ros de Castro em seu ensaio intitulado O midrmore ¢ a murt:
sobre a inconstincia da alma selvagem. O texto do sacerdor
jesuita refere-se a dois tipos de esculturas: as feitay de ma
more ¢ as confeccionadas com arbustos, como metitoras di
duas classes bem distintas de naturezas humanas que, por isso
respondem de modo diferente ay tentativas de domesticag as
“A estatua de marmore custa muito a fazer, pela dureza ¢ rest
téncia da materia; mas, depois de feita uma vez, nao & NEcessi:
rio que Ihe ponham mais a mao: sempre conserva ¢ sustenta
mesma figura’, explicava o religioso portugues cm pleno s¢
culo XVI. Em contrapartida, a escultura lavrada em vegetil
pode ser modelada com menos esforgo, “pela facilidade cons
que se dobram os ramos, mas é necessdrio andar sempre refor
mando ¢ trabalhando nela, para que se conserve". Por isso, “s«
deixa o jardineiro de [a] assistir, em quatro dias sai um rame
que lhe atravessa os olhos, sai outro que Ihe descompoe a
orelhas, saem dois que de cinco dedos the fazem sete, ¢ 0 que
pouco antes era homem ja € uma confusao verde de murtas”,
A alegoria comega a se deixar intuir: “Eis aqui a difereng.:
que ha entre umas nagées ¢ outras na doutrina da fé”, conclut
o clérigo. Em primeiro lugar esto aquelas “naturalmente du
ras, tenazes ¢ constantes, as quais dificultosamente recebem 1
fé € deixam os erros de scus antepassados; resistem com as
armas, duvidam com o entendimento, repugnam com a von
tade, cerram-se, teimam, argumentam, replicam, dao grand
trabalho até se render; mas, uma vez rendidas, uma vez que
receberam a fé, ficam nela firmes ¢ constantes, como estdtua
de marmore: nao é necessario trabalhar mais com elas” Sabe
mos a que tipo de povos se refere 0 missiondrio com ess.
comparagao: aos que integravam o velho continente, dos quais
provinham os impulsos modernizadores. “4 outras nagoes
pelo contrario — e estas sao as do Brasil —, que recebem tudo
o que lhes ensinam, com grande docilidade ¢ facilidade, sem
37
argumentar, sem replicar, sem duvidar, sem Tesistir”, cong
> Confirn,
as de
Murta, que
ardinciro, logo perdem
nova figura, ¢ tornam a bruteza antiga e natur.
em seguida © padre Vieira. “Mas sao estate
em levantando a mao € a tesoura 0 j
am ab al, €a ser may,
como dantes eram.” Em face dessa inconsisténcia constituti
da alma selvagem, “¢ necessdrio que assista sempre a estas ¢
que vicejam ;
olhos, para que ereiam o que ndo veem; outra vez, que Th
tatuas o mestre delas: uma vez, que Thes corte o
cerceie 0 que vicejam as orelhas, para que nado deem ouvids,
as fabulas dos antepassados; outra vez, que thes decepe 0 qu:
vicejam as Mos ¢ os pes, para que se abstenham das agé
e costumes barbaros da gentilidade”. Somente desse modo
“trabalhando sempre contra a natureza do tronco eo humor
das raizes, se pode conservar nessas plantas rudes a forma nav
natural, a compostura dos ramos”."' Para além do lirismo |
tano e de toda a riqueza retorica desse sermao jesuita, nao
dificil associar suas conclus6es as do tratado pedagégico mui
to mais reto ¢ aspero emitido por Immanuel Kant, que, quase
um século e meio depois, denunciou nessas criaturas nao Oci-
dentais uma “certa barbarie” dificil de extirpar por meio da
catequese disciplinar.*?
Sob o olhar do século XXI, entretanto, esses “selvagens” que
habitaram os territorios americanos antes da chegada dos eu
ropeus talvez nao fossem nem ingenuamente bons, por nic
terem sido corrompidos pela civilizagao, na linha de Jean-Jac
ques Rousseau, nem naturalmente brutos, ainda que talver
cultivaveis, segundo 0 raciocinio kantiano ou o jesuita. Talve’
fossem, simplesmente, diferentes. E, conforme se decida julga
los, tao saudavelmente indisciplindveis quanto politicament¢
Tesistentes. Em todo caso, pelo que consta ¢ segundo o teste-
munho dos que tentaram fazé-lo, ha um consenso que s¢ T°
vela muito interessante para alimentar a perspectiva antrop?”
logica deste ensaio: eles eram “exasperadamente dificeis de
38
converter”, come resume Viverros de Castro, A evangclisaao €
taculos no abort
a educagao em geral encontravam ot
sul-americano, nao porque ele fosse “refratario € wntratayel’,
mas porque, “ao contrario, avido de novas formas, mostrava
-se entretanto incapaz de se deixar impresstonar indelevel
eplivos, Mas impassivels de moldar ou
mente por elas” Re
“inconsistentes”, os indios constituiam uma maténia-prima
incompativel com a maquinana escolar. “bram como sua ter
ra, enganosamente fértl, onde tudo parecia se poder plantar,
mas onde nada brotava que nao fosse sufocado incontinents
pelas ervas daninhas”, acrescenita 0 antropdluge com base fos
testemunhos jesuiticos, Por tais motivos, “esse gentio sem fé,
sem let € sem rei nao oferecia um solo psicoldgico € Institucio
nal onde o Evangelho pudesse deitar raizes”
Dir-se-ia que se 05 ensinamentos dirigidos a esses alunos,
tante €
com sua indoléncia tao daramente alheia a ica prote
ao seu credo disciplinador, entravam-lhes alegremente por um
ouvido, saiam de imediato, sem receio — € talvez sem deixar
demasiadas marcas —, por qualquer outro lado. “A gente des-
tas terras € a mais bruta, a Mais ingrata, a mais inconstante, a
mais avessa, a mais trabalhosa de ensinar de quantas ha no
mundo”, queixava-se 0 esforcado clérigo portugues, execrando
essa “deficiéncia da vontade” com uma perseveranga que hoje
desperta certo sarcasmo.“ Segundo 0» missionarios, o proble-
ma dos indios “nao residia no entendimento, alias gil © agu-
do, mas nas outras duas poténcias da alma: a meménia € a
vontade, fracas, remissas’, conclui Viveiros de Castro, confir-
mando assim o fatidico desencaixe entre esses modos de ser €
os métodos escolares que em vao tentavam cultivar neles.”
Porém, muito longe desse tipo de interpreta,oes mais relats-
vistas —~ ou até perspectivistas ~~ que caracterizam nosso
presente multiculturalizado € pés-colonial, a oposicao bindria
entre civilizagao ¢ barbarie marcou a cruzada modernizadora,
19
que nao por acaso se revelou particularmente violenta nas
terras sul-americanas em que persistia essa Tesisténcia “selva.
gem” a disciplina ocidental. Algo que, como ficou claro, nag
poderia ser tolerado pelos impulsos que disseminaram o pro.
gresso industrialista.
Assim, avangando para o final do século XIX e inicio do
XX, figuras como a de Domingo Faustino Sarmiento, na Ar-
gentina no Chile, por exemplo, sao emblematicas dessa gesta,
Uma luta na qual nao apenas se brandiram espadas e canhoes
contra os “barbaros” — que, nesse caso, viviam muito perto de
casa —, mas tambem se enalteceu a escola como um impor-
tante bastido para alcangar a tao esquiva condigao civilizada,
abretudo, nos resplandecentes
Esta se inspirava na Europa e,
Estados Unidos, gragas a sua “superioridade moral” de raiz
protestante, com seu habito exigente das avaliacdes periddicas
e seu culto da autossuperagao. Levando em conta essa densa
linhagem que, a forga de sangue e letra, mesclava puritanismo
e esclarecimento, nao admira que a escola primaria obrigatd-
ria — que se instituiria no cerne do Ocidente no final do sécu-
lo XIX, com suas correspondentes repercussdes de ultramar
— tivesse como firme e nobre propésito o de educar e norma-
lizar todos os cidadaos, ensinando-os a serem produtivos €
obedientes. Aqui ressoam novamente as maximas da pedago-
gia kantiana enunciada no final do século XVIII: disciplinar,
adestrar, civilizar e moralizar. No fim das contas, esse aparato
laico seria uma sofisticada derivacao de seu ancestral mais
rstico, religioso e reformista, de raizes nada menos que puri-
tanas. De modo que a historia da educacao formal esta unida
a do projeto cientifico moderno, mas também “a grande refor-
ma moral, inicialmente cristae a seguir leiga, que disciplinou
a sociedade aburguesada do século XVII e sobretudo do XIX"
segundo Philippe Ariés.* Em outras palavras, 0 processo tam-
bem poderia ser descrito como uma tentativa humanista de
40
domar as tendéncias bestiats & embrutecedoras iat palptae
nas profundezas da natureza humana, por entender q a
trata de “animais influenciaveis” e que “é imperative; portan .
proporcionar-lhes 0 tipo correto de influéncias como reams
Peter Sloterdijk. Assim se consuma a transformacao oO
mem num animal doméstico.” Eis ai uma rapida sintese da
complexa genealogia escolar.
Um exemplo dessa novidade surgida na aurora da era mo-
derna — nesse caso, em territério francés — é a Escola Profis-
sional de Desenho e Tapegaria dos Gobelinos, resgatada por
Foucault em sua analise dedicada a esquadrinhar como e
Por que se constituiram as redes desse tipo de poder que ele
nomeou “disciplinar”. Organizada em Paris no inicio do sécu-
lo XVII, embora ainda segundo os moldes da aprendizagem
medieval, tratava-se de um estabelecimento dedicado a fabri-
car luxuosos tapetes bordados e, nesse mesmo processo, qua-
lificava artesaos especializados nessa técnica. Em 1737, porém,
a institui¢ao sofreu uma reforma que seria sintomatica de sua
€poca: implantou um regulamento que, sob o olhar contem-
Poraneo, parece um ancestral das normas escolares oitocentis-
tas. Esse documento estabelecia varias novidades: “todos os
alunos sao inicialmente divididos Por faixa etaria’, por exem-
plo, e a cada um desses grupos “é imposto certo tipo de tarefa”,
segundo relata o fildsofo a partir do material de arquivo. “Esse
trabalho deve ser realizado em Presenga ou de professores, ou
de pessoas que o vigiam; e deve ser anotado,
Sao anotados o comportamento,
no.” Ademais,
como também
a assiduidade, 0 zelo do alu-
todos esses registros eram conservados em ar-
quivos, que se processavam em diversas
tam como relatérios, se;
ultrapassava o diretor d
Planilhas e se transmi-
‘guindo uma ordem hierarquica que
‘4 institui¢do de ensino e chegava as
la €poca. Assim, em torno das tarefas
7 — convertido, agora, em aluno —,
a
constituiu-se “essa rede de escrita que vai, por um lado, co,
dificar todo 0 seu comportamento, em fungao de certo ny
mero de anotagoes determinadas de antemao, depois esque
matiza-lo e, por fim, transmiti-lo a um ponto de centralizagao
que vai definir sua aptidao ou sua inaptidao””
Foi entao que a prova ou o exame, tais Como Os conhece-
mos, fizeram sua aparigao, unindo-se a vigilancia hierarquica
€ 4 sangao normalizadora como os baluartes dessa forma pe-
culiar de se exercer 0 poder sobre os corpos € as populagées
humanas. A partir dai, a disciplina se fincaria tao visceralmen-
te no Amago dos procedimentos educativos, que até hoje se
confunde com seu substrato naturalizado. “E preciso vigiar as
criangas com cuidado ¢ jamais deixa-las sozinhas em nenhum
lugar, estejam elas sas ou doentes”, dizia o regulamento das
escolas de Port-Royal, promulgado em 1721. Essa “vigilancia
continua” devia ser exercida “com dogura e certa confianga,
que faga a crianga pensar que ¢ amada, ¢ que os adultos s6
estao ao seu lado pelo prazer de sua companhia’, acrescen-
tava; “isso faz com que elas amem essa vigilancia, em lugar de
temé-la"” Inculcar esse gosto pela disciplina e a ordem nao foi
tarefa simples, mas revelou-se fundamental para que todo o
projeto pudesse se colocar em andamento. Essa grande trans-
formacao, que afetou os processos de aprendizagem e come-
cou a alterar suas bases naquele periodo histérico, est longe
de ser um fato isolado: algo semelhante aconteceu com todos
os demais ramos da atividade humana. Como é bem sabido, a
irrupgdo dos tempos modernos significou um cataclismo de
enorme envergadura na histéria ocidental e acabou fundando
um estilo de vida sincronizado em escala planetaria. Milhoes
de corpos se mobilizaram ao compasso dos ritmos urbanos €
industriais, tutelados pelos vigorosos credos da ciéncia, 42
democracia e do capitalismo, rumo a uma meta entéo consi-
derada indiscutivel: o progresso universal.
42
Esse tipo de formagdo historica, que comegou a se implan
tara partir do Renascimento mas teve seu auge ao longo do
século XIX e boa parte do XX, dedicou grandes doses de ener-
gia 4 configuragdo de certas subjetividades, enquanto evitava
cuidadosamente o surgimento de formas alternativas. A escola
© empreendimento, em-
foi um componente primordial de
bora tenha sido apenas mais um entre os diversos moldes aos
quais recorreu a sociedade industrial para formatar seus cida-
iplinante, que constituiu um
daos. Nessa imensa cruzada dis
vetor central de nosso processo civilizador, a atividade que se
desenvolvia nos colégios foi retorgada por um conjunto de
“instituigdes de confinamento’, como as denominou Foucault:
do lar familiar aos reformatorios, da fabrica aos quartéis, dos
hospitais ou asilos a prisdo ¢ a universidade. Gragas a esse mi-
nucioso ¢ persistente labor mancomunado de confinamentos
sucessivos, foram-se gerando subjetividades afinadas com os
Ppropositos da época: certos modos de ser e estar no mundo
que se tornaram hegeménicos na era moderna por serem do-
tados de determinadas habilidades e aptiddes, embora tam-
bem estivessem lamentavelmente marcados Por certas incapa-
cidades e caréncias, Segundo as palavras do p prio Foucault,
nessa época e dessa maneira se construiram corpos “déceis e
Uteis’, organismos humanos treinados para trabalhar na ca-
deia produtiva e para se mover eficazmente nos reluzentes
tragados urbanos da modernidade. Em outras palavras, sujei-
tos equipados para funcionar com eficiéncia dentro do projeto
histrico do capitalismo industrial.
43
Os incompativeis: outros tipos
de corpos e subjetividades
O quadro que acabamos de descrever, herdado de nosso» an
tepassados imediatos, viu-se notavelmente transtornado nos
Gltimos tempos, € a veneravel instituigdo escolar nao for a
Unica vituma dessas turbuléncias. Varios autores tentaram car-
tograhar 0 territorio que emergiu dessa crise, Cujas raizes Te-
montam ao fim da Segunda Guerra Mundial € cujos coro-
larios ainda se encontram em pleno processo de reordenagao,
embora ele ja esteja adquirindo a consisténcia de um novo
drama historico. Um desses pensadores é Gilles Deleuze, que
recorreu a expressao “sociedades de controle” para designar 0
“novo monstro”, como ele mesmo o ironizou num breve e
contundente ensaio publicado em 1990. Ja faz mais de duas
décadas, portanto, que esse fildsofo detectou a implantagao
gradativa de um regime de vida inovador, apoiado nas tecno-
logias eletronicas e digitais: uma organizagao social baseada
no capitalismo mais dinamico do fim do século XX e inicio
do XX1, regido pelo excesso de produgao € pelo consumo exa-
cerbado, pelo marketing e pela publicidade, pelos fluxos finan-
ceiros em tempo real € pela interconexdo em redes globais de
comunicagao.
Outra caracteristica basilar desse novo Mapa é a entroniza-
ao da empresa como uma instituigao-modelo, que impregna
todas as demais ao contagia-las com seu “
‘spirito empresarial”.
Inclusive a escola, é claro, assim como os Corpos € as subjetiv
dades que por ela circulam. Essa nova mutologia propaga um
culto da performance ou do desempenho individual, que deve
ser cada vez mais destacado e eficaz. O grau de éxito obtido
Nessa Missdo j4 nao é avaliado mediante o antiquado instru-
45
mental que catalogava a normalidade e o desvio, Upico da |6.
gica disciplinar; em vez disso, tal comportamento é Medido
por critérios de custo-beneticio e outros parametros exclusiva.
mente mercadologicos, que enfatizam a capacidade de diferen-
ciagao de cada individuo na concorréncia com os demais, As-
sim se dissemina uma ideologia da autossuperagao e uma
busca pela clevagao do rendimento que vai além das capacida-
des de cada sujeito e até dos limites biolégicos da espécie,
quando se procura alcangar estados pds-normais ou sentir-se
“mais do que bem” com a ajuda de produtos quimicos ¢ trei-
namentos especificos. Esses estimulos avivam a aspiracao a
efetuar atualizacdes constantes em todos os planos, inclusive o
educativo. Tais atualizacdes devem ser articuladas gracas a um
bom gerenciamento de si mesmo sob moldes empresariais.
Essa corrida, por sua vez, é constantemente acelerada e ins-
tigada por uma alianga tacita entre trés vetores fundamentais
da contemporaneidade: meios de comunicagao, tecnociéncias
e mercado.
Tudo isso implica a necessidade de desenvolver certas com-
Petencias que a escola tradicional nao s6 parece incapaz de
inculcar, como seria até contraproducente nesse sentido: po-
deria aniquila-las, abortando em seus alunos a incubagao
dessas habilidades tao valorizadas na atualidade. E 0 que sus-
tentam muitos discursos relacionados com o “empreendedo-
rismo” neoliberal, presentes também no ambito das reformas
pedagégicas em curso, quando destacam a importancia da
distingao individual e as vantagens da singularizagao do indi-
viduo como uma marca, explorando a propria criatividade
Para poder ser sempre 0 primeiro e ganhar dos outros. Essas
Propostas aderidas aos novos credos sao as mesmas que assi-
nalam, de modo explicito, que a educagao formal poderia de-
vastar tais aptiddes, cortando pela raiz as potencialidades das
criangas de hoje, principalmente quando se considera a Voc
46
cao uniformizadora, homogeneizadora € normalizadora que
costumava guiar por principio a instituigao escolar.
Porem, antes de serem deflagradas essas mutagoes no am-
biente moderno do ultimo par de séculos, cabe frisar que as
primeiras e mais fundamentais modelagens corporais e subje-
tivas eram efetuadas na privacidade domestica: no seio do lar,
essa doce instituigao de confinamento habitada pela familia
nuclear de inspiragdo burguesa. E tambem nas salas, nos patios:
e nos corredores do colegio. Os resultados desse trabalho, que
era tanto disciplinador como introspectivo, foram conceituali-
zados de diversas formas pelos estudiosos das mudangas hist6-
Ticas que torneiam as subjetividades. § urgiram denominagdes
como homo psychologicus, homo privatus ou personalidades
introdirigidas, que aludem a “interiorizagdo” caracteristica de
certa manifestagao hegemonica do sujeito moderno. Esses r6-
tulos se referem a um elenco de “modos de ser” que estariam
ficando antiquados porque, neste século XXI que ainda esta
comegando — embora avance a uma velocidade assustadora
— do outros os corpos ¢ as subjetividades que se tornaram
Necessarios. Por isso, agora e em toda parte, nao surpreende
que reverberem outros tipos de sujeitos: novos modos de ser e
estar no mundo que emergem e se desenvolvem tespondendo
as exigéncias da contemporaneidade, ao mesmo tempo que
contribuem para gerar e reforcar tais caracteristicas.
Talvez seja nesse sentido que tais configura¢6es mais atuais
seriam “doceis e uteis” a sua maneira e no Novo contexto,
bora ainda seja Preciso indagar como se encarnam essa d.
dade e essa utilidade no tempo presente, e em que medi
sas tendéncias poderiam (ou mereceriam) ser recebida:
Tesisténcia. Perguntas que também nao admitem res
faceis, sobretudo Porque se trata de mudaneas muito r
que ocorrem num cenario extremamente instavel, coi
camentos constantes e um bom numero de contradic.
em-
locili-
ida es-
s com
Postas
ecentes
m deslo-
‘Oes. Ain-
47
da assim, algumas caracteristicas das configuracées Corporais
€ subjetivas atualmente mais valorizadas )4 estao a vista Vale a
pena refletir sobre esses tragos. Em vez de propagar a silencig
sa introspecgao € o retrasmento nas profundesas do Psiquisme
individual, por exemplo, com a ajuda de ferramentas como g
leitura € a escrita — gestos que eram tao habituais em tempos
nao muito distantes € que a escola se Ocupava de inculcar —
nossa época convoca as personalidades a se exibir em telas
cada vez mais onipresentes € interconectadas. Por outro lado,
em vez de cinzelarem nos musculos a rigidez das cadéncias ¢
dos ritmos da maquinaria industrial, sob 0 peso gigantesco do
valor-trabalho € os austeros repertérios da “ética protestante”,
08 novos ritos trabalhistas requerem outras habilidades e dis-
Posigdes corporais ou subjetivas, ao mesmo tempo que des-
prezam certas capacidades ou aptidoes antes valorizadas, mas
que sao consideradas cada vez menos Uteis.
Como fruto das varias lutas € disputas travadas ao longo do
século XX, que dinamitaram certas asperezas dos codigos dis-
Ciplinares € conquistaram a fusao entre trabalho e cio, por
exemplo, hoje se estimulam a criatividade eo Prazer, inclusive
Nos ambientes laborais. E, é claro, também nos outrora cir-
cunspectos territorios escolares. Nessa mesma linha, 0 circuito
Produtivo contemporaneo busca caracteristicas antes comba-
tidas, como a originalidade ass ciada a certa espontaneidade
inventiva, além da capacidade de mudar com rapidez, rec
clando o que se é em veloz sintonia com as tendéncias globais.
Tambem se valorizam a livre iniciativa, a motivacao, o perfil
empreendedor e a vocagao proativa, como atitudes capazes de
mover os mercados e gerar beneficios. Sem esquecer, por ou-
tro lado, que tudo isso se dé numa cultura que enaltece a bus-
ca da celebridade e 0 Sucesso imediato, combinando ness¢
Projeto a realizacao pessoal ea Satisfacao instantanea, exaltan-
do valores como a autoestima, a aparéncia juvenil e 0 go2
constante. Em suma: bem-estar corporal, emocional, profis-
sional e atetivo, derivados de un ideal de teheidade ou de reas
lizayao pessoal que atravessa todos os dmbitos ¢ ja nao parece
encontrar obstaculos nem diques capazes de inibi-lo.
Por isso inscrevem-se Nessa progenie as qualidades e habi-
Nidades mais bem cotadas no mercado de valores da atualida-
de, assim come a capacidade individual de admunistra-las com
desenvoltura e renova-las sem parar, proyetando-as na propria
imagem, como acontece com qualquer outra marca em luta
por veneer nos comercios altamente competitivos — e tao
Assim, numa sociedade fortemen-
Instaveis — das reputagd
te midiatizada, tascinada pela incitagao a visibilidade e instada
a adotar com rapidez os mais surpreendentes avangos tecno-
ClenUficas, eM Meio aos vertiginosos processos de globaliza-
ao de todos os mercados, entra em colapso a subjetividade
interiorizada que habitava o espirito do “homem-maquina’,
isto ¢, aquele modo de ser trabalhosamente conhgurado nas
salas de aula e nos lares durante os dois séculos anteriores. Aos
Poucos, ainda que numa velocidade que pode impedir a com-
Preensdo dos sentidos dos processos, ao thes escamotear a
densidade da experiéneia, desmorona-se toda a arquitetura
Psicotisica que sustentava aquele Protagonista dos velhos tem-
Pos modernos. Saem de cena, assim, um tipo de corpo e um
modelo de subjetividade cujo cenario privilegiado transcorria
em fabricas e colégios, e cujo instrumental mais valorizado era
a palavra impressa em letras de forma.”
Agora, esse eixo “interior” que constituia o n6 dos sujeitos
Oitocentistas ¢ se con:
lerava hospedado nas profundezas de
cada um — e que, por isso, devia ser moldado e nutrido tanto
pelas moralizacées familiares quanto pela aprendizagem esco-
lar, sem descuidar tambem dos entrentamentos cotidianos
contra ambos os tipos de modelagens — transfere-se para
outtas zonas da condigao humana, ao mesmo tempo alimen-
49
tando e respondendo as insistentes demandas de Novos
Mo
de autoconstrugao. Em vez de uma vivéncia “naread, dos
, : pel
forte presenga normativa de uma interioridade confitus la
‘ada’,
como afirma o psicanalista brasileiro Benilton Bezerra, deli.
neia-se “uma subjetividade exteriormente centrada, avessa a
experiéncia de conflito interno, esvaziada em sua dimensag
privada idiossincratica e mergulhada numa cultura cientificis-
ta que privilegia a neuroquimica do cérebro, em detrimento
de crengas, desejos e afetos”."! Assim, junto com os deslum-
brantes espagos ¢ utensilios que a contemporaneidade deu a
luz, proliferam outras formas de construir a propria subjetivi-
dade e também novas manciras de nos relacionarmos com os
outros e de agirmos no mundo.
Buscando entender os sentidos desses fendmenos, alguns
autores referem-se a sociabilidade /fquida ou a cultura somd-
tica de nosso tempo, que fariam surgir um tipo de ew mais
epidérmico e ductil, capaz de se exibir na superficie da pele e
das telas, edificando sua subjetividade nessa exposi¢ao intera-
tiva, Alude-se também as personalidades alterdirigidas e nao
mais introdirigidas, construgdes de si mesmo orientadas para
o olhar alheio ou “exteriorizadas” em sua projegao visual.” Por
outro lado, mas seguindo as mesmas pistas, anali
diversas bioidentidades que proliferam hoje, como desdobra-
mentos de um tipo de subjetividade que se escora nos tracos
biologicos — genéticos ou cerebrais, por exemplo, inclusive
hormonais — ou no aspecto fisico de cada individuo. Essas
novidades estariam substituindo 0 habito j4 meio vetusto
de tecer secretamente a propria identidade em torno daquele
nucleo etéreo que se considerava tao interior quanto essencial
€ que, precisamente por isso, nao s6 era “invisivel aos olhos” €
Mais verdadeiro que as vas aparéncias, mas também se apre-
sentava como refratdrio a decodificagao técnica porque estava
— € sempre estaria — cheio de mistérios.
am-se as
50
Fica claro que 0s dispositivos eletronicos com que convi
Fic
mos € que usamos para realizar as Mais diversas taretas,
vere
com crescente familiaridade € proveito, desempenham um
papel vit
diano nao s6 provocam velozes adaptagoes Corporals € subye
al nessa metamorfose. Esses artefatos de uso cot
tivas a05 NOVOS rtmos € experiencias, permitindo responder
com a maior agilidade possivel a necessidade de reciclagem
constante e de alto desempenho, como também eles mesmos
acabam por se multiplicar € se popularizar em virtude de tais
mudangas nos estilos de vida. De tato, muitos us0s da parafer-
nalia informatica e das telecomunicacoes, assim Como OCOrre
com 05 frutos da mais recente investigacao biomédica ¢ farma-
col6gica, constituem estratégias que Os sujcitos contempora-
neos poem em jogo para se manter a altura das novas coagoes
socioculturais, gerando maneiras inéditas de ser € estar no
mundo.
Por motivos obvios, os jovens abracam essas novidades € se
envolvem com elas de maneira mais visceral e naturalizada,
embora de modo algum se trate de uma exclusividade das ge-
races mais novas. Todavia, surge aqui um choque digno de
nota: justamente essas criancas e adolescentes, que nasceram
ou cresceram no novo ambiente, tém de se submeter todos os
dias ao contato mais ou menos violento com os envelhecidos
rigores escolares, Tais rigores alimentam as engrenagens oxi-
dadas dessa instituicao de confinamento fundada ha varios
séculos e que, mais ou menos fiel a suas tradig6es, continua a
funcionar com o instrumental analdgico do giz e do quadro-
-negro, dos regulamentos e boletins, dos hordrios fixos e das
carteiras alinhadas, dos uniformes, da prova escrita ¢ da ligao
oral. Como diz uma frase que j4 se converteu em cliché quan-
do se trata desse assunto, atribuida ao especialista em inteli-
gencia artificial Seymour Papert: “Imaginemos que, um século
atras, houvéssemos congelado um cirurgiao e um professor, e
$1
agora os devolvéssemos de novo a vida; 0 cirurgiio entraria na
sala de operages e ndo reconheceria nem o lugar nem 8 ob.
jetos, e se sentiria totalmente impossibilitado de gir; em con.
trapartida, o professor reconheceria 0 espago como uma sala
de aula ¢ ainda encontraria um pedago de giz e um quadro-
-negro com os quais poderia comegar a lecionar.”
Apoiado na premissa aparentemente antiquada do Pro-
gresso, 0 relato que acabamos de citar parece autoexplicativo
em sua valorizacao negativa daquilo que teria permanecido
imutavel num mundo que se move aceleradamente; no entan-
to, talvez valha a pena questionar nao s6 o que essa frase afir-
ma explicitamente, mas também certas suposi¢6es nao discu-
tidas que se ocultam em suas entrelinhas. Para comecar, entao,
se a atmosfera em que estamos imersos mudou tanto, caberia
retomar aqui a pergunta central: para que precisamos de esco-
las agora? Ou melhor, 0 que gostariamos que esse artetato fi-
zesse com os corpos e as subjetividades que todos os dias tran-
sitam por seus dominios, cada vez mais cheios de grades ¢
tentativas de controle? Em sua analise sobre a crise das socie-
dades disciplinares e a veloz implantagao de um novo estilo de
vida, Gilles Deleuze foi radical: “Essas instituigdes estao con-
denadas”, diagnosticou o filésofo ha duas décadas. “Os minis-
tros competentes nao param de anunciar reformas suposta-
mente necessarias”, explicou, aludindo a escola ou ao hospital,
ao Exército ou ao presidio. No entanto, o autor entendia que
nao ha conserto possivel para esses inventos vetustos porque
seu ciclo vital terminou. Essas instituicdes perderam seu se0-
tido histérico, “Trata-se apenas de gerir sua agonia e ocupat 3s
Pessoas, até a instalacdo das novas forgas que se anunciam>
sentenciou Deleuze em 1990.
Caso concordemos com tal veredicto, caberia desconfiat™
Mos de que a escola sofre de modo particularmente intens?
@ angustia implicita de aguardar seu proprio atestado de obi
$2
to, enquanto as “novas forcas” se apinham do lado ea omic
ameagam desharata-la. Pois a instituigao escolar se nustentava
— ha menos tempo do que parece — apoiada numa série ae
valores que eram considerados indispensaveis para assegurar
sua estrutura, € esses cimentos morais deviam conservar certa
solidez para permitir 0 bom funcionamento de tao fabulosa
maquinaria ortopédica. O respeito pela hierarquia ¢ 0 reco-
nhecimento da autoridade de professores, diretores e supervi-
sores, por exemplo, era um desses pilares dos quais nao se
podia prescindir. Além disso, exigia-se uma valorizacao posi-
tiva do esforgo e da dedicacao concentrada, com metas a longo
prazo, assim como da obediéncia e do compromisso indivi-
dual no cumprimento de rotinas fixadas com antecedéncia,
segundo rigorosos enquadramentos espacotemporais que de-
viam ser meticulosamente acatados — toda uma série de ceri-
monias, enfim, realizadas com uma constancia compassada e
perseverante, que poderiam ser resumidas destacando-se o
enaltecimento do trabalho como um valor que constituia a
pedra fundamental do “espirito do capitalismo”, a0 menos em
sua configuracao classica, imbuido da “ética protestante”.
Por todos esses motivos, a tenacidade disciplinar inscrita
nos regulamentos da época aurea do sistema escolar — cujo
detalhismo hoje pode nos parecer um tanto disparatado —
internalizava-se, em tempos nao muito distantes, nas profun-
dezas da alma, nao apenas a dos estudantes mas também a dos
Pais € professores. “A alma, efeito e instrumento de uma ana-
tomia politica; a alma, prisao do corpo’, assim o resumiu Fou-
cault num célebre jogo de palavras, depois de refletir longa-
mente sobre a situacdo.™ Isso significa que as normas eram
respeitadas Porque se acreditava serem corretas: Prescreviam
© que era certo ou errado em fungao de um consenso clara-
mente institufdo e enraizado num solo considerado sélido.
Esse acordo, amplamente compartilhado, via-se iluminado
33
pelo brilho de certa “moral laica’, de cujos Propésitos uy
: Sitos uM er,
ode “lihertar as consciéncias da tutela das religides yn
+ Como
explicam os autores do esclarecedor compéndio de Manuai
" IS
la.’ Um credo seculariza.
escolares intitulado A moral na ¢
do, certamente, mas que conservou seu poder de “aprisionar”
os corpos modernos, mesmo apds a libertagao da profunda
reveréncia pelo divino e do pavor do demoniaco que, em ou-
tros tempos, assombraram as almas pecadoras. Ressoam aqui
os parentescos antes assinalados entre a magna instituicao es-
colar — de estirpe esclarecida, nacional e estatal, moderna e
laica — e 0s ancestrais religiosos dessa pratica sociocultural de
origem protestante, que foi depurada por jesuitas e dominica-
nos, assim como pelos severos jansenistas e outras congrega-
des ou ordens conventuais igualmente “disciplinadas”. Nao
surpreende, nesse contexto, que fosse tao ténue a diferenca
entre um pecado e uma desobediéncia a lei, como mostram
certas cenas escolares de filmes ambientados nos séculos an-
teriores, desde Jane Eyre (de Cary Fukunaga, 2011) até Oito
e meio (de Federico Fellini, 1963).
As regras desses regulamentos eram cumpridas porque sé
acreditava firmemente que assim devia ser, sem maiores rebel-
dias nem impertinéncias, nado so porque se estava sob estrita
vigilancia e porque seu descumprimento acarretaria castigos
mais ou menos penosos, mas também porque era assim que 4
maquina funcionava, e assim devia ser. Dai o poderoso efeito
moralizador das adverténcias e suspensdes, assim como de
todo o conjunto de sangées promulgadas pelos codigos ¢ esta-
tutos da excelsa instituicdo escolar. Dai também sua eficacia
funcional para consumar tao extraordindria missao. “Colocat
0s corpos num pequeno mundo de sinais, a cada um dos quis
esta ligada uma resposta obrigatéria e s6 uma’, explicav? Fou-
cault ao radiogratar 0 aparato escolar como uma “técnica de
treinamento que exclui despoticamente [...] 0 menor murmi-
54
rio”, na qual a “obediéncia € pronta e cega”, pois “alaparéncia
de indocilidade, 0 menor atraso, seria um crime™.” Se essa
descrigao soa tao distante dos usos e costumes dos colegios
contemporaneos, isso se deve principalmente a que 0 mundo
mudou muito desde a época em que essa entidade foi idealiza-
da e posta em funcionamento, em virtude de sua utilidade
para perpetrar as metas politicas, economicas € socioculturals
que — segundo se supunha — nos guiariam rumo a evolugao
da humanidade.
Afinal, a educagdo primaria tinha por missdo “a melhora
moral, intelectual e fisica” das populagdes nacionais, segun-
do a célebre postura do mencionado Domingo Faustino Sar-
miento na passagem do século XIX para 0 XX. Ao enunciar
seus principios pedagégicos, quase cem anos antes, Kant tam-
bem havia destacado que “é preciso cuidar da moralizagao’, de
modo que nao bastava aprender a ser habil para todos os fins:
mais que isso, e talvez sobretudo, o aluno adquiriria “um cri-
tério conforme o qual [escolheria] somente os bons objeti-
vos”. A escola devia enraizar nos espiritos infantis os parame-
tros necessarios para sempre avaliar o correto e 0 incorreto,
assimilando as normas que regem os comportamentos, assim
como a ideia de que ha um lugar e um momento adequados
Para cada tipo de acao. Ao aprender o que é certo e o que é
errado, os jovens seriam “capazes de se conscientizar de suas
Proprias acées e de seu proprio lugar no mundo”, conforme
explica Alfredo Veiga Neto, para concluir que assim se espera-
va que, mais tarde, na idade adulta, cada individuo fosse capaz
de julgar os prdprios atos e os alheios, “de modo que cada um
Se autogoverne, isto é, passe a ser juiz de si mesmo”.* Tudo isso
sugere, por outro lado, que os Padrées morais eram menos
frouxos nesée contexto que ja se vai distanciando: se na socie-
dade disciplinar estava tao claro o que era correto ou nao, por
isso mesmo era bem mais facil ensind-lo e castigar seus des-
55
M108. Mas isso nado signitica que naquela Epoca todos possuiy
sem uma moralidade inata ou certa hbra de canter que hoje
escassela: tats codigos cram considerados Wo Untversals © ay
dubitaveis porque eram absor vidos desde muito cedo no con
diano famthar ¢ escolar
Para alem do jogo de toryas ¢ dispulas sempre atuantes,
especialmente na intensa era moderna, acreditava-se que che
Rar a esse Consenso seria UMA virtude das mats civilizadas,
“Uma sociedade em que cada um € capaz de constranger seus
Impetos naturais de dentro para fora, em que cada um € capaz
de pensar, avaliar ¢ censurar previa mente suas ayes, de modo
a direciona-las positiva, produtiva ¢ disciplinadamente”, de.
veria ser “uma sociedade mais segura, mais humana, mats ci-
vilizada e mais feliz”, resume Veiga Neto. E claro que havia
brechas nessas convicgdes, sobretudo a partir do momento em
que a sobria ractonalidade ocidental se viu sugada pelo buraco
negro do romantismo, abrindo os portoes para um lado irra-
cional e inconsciente que seria constitutive de cada sujeito
moderno. No entanto, ainda assim partia-se de um terreno
supostamente firme, constituido pelo que se considerava nor
mal ¢ pela grave falha que imphicaria nao conseguir alcanga-lo.
“Ainda que cada adulto assim disciplinado conserve em si uma
Parte a ser julgada’, continua Veiga Neto, “cada um sera capaz
de olhar para si mesmo a partir de uma parte ja ndo mais
selvagem, ja na maioridade ou, se quisermos, ja civilizada”.
Esse tipo tao peculiar de sujeito, que julga a si mesmo ¢ se
autogoverna, apesar de se saber habitado por uma inteniorida-
de abissal, pensava em si como uma espécie de duplo; “ndo
dissociado, mas retlexivo e em tensao permanente consizo
mesmo’. Essa criatura foi esmiugada pelo sociologo Richard
Sennett em seu livro O declinio do homem publica: se 0 sécu-
lo XVIII se viu marcado por um individualismo de cunho ra-
cional ¢ universal, sob o ideal de igualdade que irmanava (90
56
digna especie, o século XIX ansiou pela singubaridade inelivi
dual e tentou construt la no espago privade da intimidade,
enquanto no Ambito public imperavand oy TOTES MMpEsoaty
da norma.”
Nao toi a toa qu ¢ Lipo de individu acabou inve ntando:
a psicanalise para se converter no objeto dessa terapta: [aly se
de uma personalidade que sotria por ter que reprimin seus
desejos proibidos em nome da lei vigente na sociedade, repre
sentada pela figura autoritaria do pai, do protessor, do Estado,
Por isso era necessario aprender a dobrar essa “parte maldita”
das paixdes descontroladas gragas aos poderes moralizadores.
da culpa organizados em torno do superego, ainda que em seu
aAmago continuassem a pulsar os tesouros contlitivos ¢ eng,
miaticos de cada interioridade. Esse tipo de sujeito, editicado
ao longo do século XIX e durante boa parte do XX, ¢ sem du
vida bem diterente daquele que constitu o foco das biocién
cias mais recentes, ou Mesmo das tecnologias de comuNiCayaod
e informagao que cintilam neste novo milénio. De alyum
modo, enquanto se destazem das dores ¢ delicias dessa confi
guragao “interiorizada’, tanto as subjetividades como os cor-
Pos contemporaneos se tornam transparentes, decodificaveis e
talvez até mesmo reprogramaveis. Nessa metamorfose, nado so
se enfraquece a oposigdo entre espagos puiblicos ¢ privados
como também perde forga a ideia de que valeria a pena repri-
mir os préprios desejos em nome de algum valor transcen-
dental. “A busca da felicidade individual assume um novo sig-
nificado no periodo pos-guerra’, explica o fildsofo canadense
Charles Taylor, em fungao de uma gradativa “erosao das limi-
tagdes impostas a realizagao individual”. Esse tecido de crengas
que escora a atual “era da autenticidade”, segundo a deno-
mina¢ao do mesmo autor, supde que cada um “possui sua
prépria maneira de realizar nossa humanidade, ¢ que é impor-
tante encontrar-se a si proprio e viver a partir de si mesmo, em
57
contraposigao a render-nos ao conformismo
Perante
delo imposto”*! um mo.
Assim, como fruto das transformagoes consum;
. ‘ das na se
gunda metade do século XX, ter-se-ia desvanecido a ideia de
que se deve sacrificar a satisfacao pessoal em nome de alg
0
mais elevado e incontestavel. Até porque os valores desse tipo
chados pelos
questionamentos das ultimas décadas. Nao se trata de que
ja nao se aposte na familia ou no trabalho,
teriam perdido sua consisténcia, igualmente ra
Por exemplo, oy
mesmo na patria € até na religiao; porém, todas essas instan-
Clas se converteram em op¢oes individuai
— nao necessaria-
mente dadas a priori, mas adaptaveis e definiveis ao gosto de
cada um —, em vez de constituirem certezas estabelecidas
com validade universal, de cunho obrigatério Para todos sob
© peso da norma. Algo semelhante, talvez, se poderia dizer a
respeito da escola? De fato, a uniformizacao do ensino formal
em seu molde tradicional comega a ser questionada, mesmo
que seja em busca de
Positivos mais “eficazes” para aqueles
que tem a possibilidade de escolher — e, é claro, o privilé-
gio de poder Pagar pelo acesso a tal vantagem diferencial —,
dando abertura a experimentacao de alternativas que teriam
sido impensaveis algum tempo atras.
Em fungao de todas essas redefini¢6es, num mundo satu-
tado de opcées e estimulos dos Mais diversos tipos, certo S0-
frimento por excesso de dispersao caracterizaria as experién-
Cias contemporaneas, de um modo mais agudo que a classica
Tepressao oitocentista diante do rigor coibitivo da lei. Por isso
Paralelamente a manifesta adesdo aos ritmos atuais, nao € raro
que se procure usar estratégias tendentes a deter um pouce
esse fluxo inesgotavel, tentando capturar 0 que acontece pat
converté-lo em experiéncia ou até mesmo em pensament-
De um modo comparavel, 0 modelo subjetivo descrito rapr
damente como tipico dos séculos XIK e XX tendia a sofrer co
58
a opressao de sua liberdade, por estar encerrado ou aprisio-
nado — inclusive dentro da sala de aula — e, por esse motivo,
procurava se libertar, rompendo muros ou pulando cercas.
Ja nao parece ser isso 0 que acontece nas escolas atuals, por
exemplo. Ou, pelo menos, essa angustia do confinamento ea
urgencia em dinamita-lo nao se impoem como os problemas
mais pungentes que assolam os que as habitam, tendo sido
substituidos por outras duvidas e controvérsias.
Embora nao convenha exagerar nem esquematizar as rup-
turas histéricas, e apesar das evidentes continuidades que
ainda nos atam ao horizonte arduamente tecido durante a
modernidade, nao é dificil constatar até que ponto as coisas
mudaram. A prescri¢ao regular de castigos fisicos nas rotinas
estudantis e a severidade contra a pratica da masturbacao nos
internatos, por exemplo, foram completamente abandona-
das, ja ha varias décadas, e seriam inclusive penalizadas como
graves abusos de autoridade se ocorressem atualmente. A sen-
sibilidade contemporanea costuma rechacar com repulsa a
visdo de cenas habituais em filmes que retratam o universo
escolar da primeira metade do século XX, como Zero de con-
duta (de Jean Vigo, 1933), A sociedade dos poctas mortos (de
Peter Weir, 1989), ou mesmo Cinemia Paradiso (de Giuseppe
Tornatore, 1988), nos quais os alunos sio duramente agoita-
dos por seus professores e diretores por terem cometido pe-
quenas infracdes que hoje nem sequer seriam registradas, ou
que poderiam até vir a ser promovidas pela propria institui-
ao. Essas diferencas de época na apreciacao de tais atos sao
indicios — pontuais, embora bastante contundentes — das
mudangas aqui estudadas.
“A crianga, sem duvida, ainda nado tem nenhum conceito
do moral”, afirmava Kant em 1803. Por isso 0 fildsofo reco-
mendava nao ceder a seus desejos e, em vez disso, prescrever-
-lhe “muitas coisas como um dever” Para assim temperar seu
59
orerers:
espirito € acostuma-la a obediencia, Dese modo se ex
* Waria
estragar a criatura, pots “se ela € acostumada a ver Fealizad,
© dos,
Para que.
brar sua vontade’, e “e preciso empregar Sastigos muito duros
todos os seus Caprichos, depois sera tarde demais
para corrigir o que for corrompido” Essa importante lareta
estava nas Maos da escola, mas, antes, devia ser inculeada pela
familia: as criangas “tambem sdo muito prejudicadas a0 se
acudir a elas quando gritam, cantando-lhes alguma coisa, por
exemplo, como tém o costume de tazer as amas’, esclarecera
0 fildsofo, acrescentando que “essa é, habitualmente, a Primei-
ra perversao da crianga, pois, a0 ver que tudo atende a seus
gritos, repete-os com mais frequéncia
Ao contrario, porem,
“deixando-as gritar, elas mesmas se cansam; todavia, quando
se satistazem todos os seus caprichos na primeira infancia
u
Coragao e seus costumes se pervertem’. Nao se devia ceder,
portanto, a “vontade despotica das criangas”, pois “é muito
dificil reparar esse mal, e dificilmente se chega a consegui-lo”,
No entanto, quando se consegue restringir essas tendéncias
desde 0 inicio, concede-se aos futuros adultos algo inesti-
mavel: “Depois, isso Ihes é da maior utilidade em toda a sua
vida, pois s6 0 dever, nao a inclinagao, pode conduzir-nos nas
imposig6es publicas, nos trabalhos do oficio e em muitos ou-
tros casos.”
Ante essas pinceladas de moral oitocentista em termos
educativos, parece evidente que sao outros os valores reveren-
ciados ao despontar o século XX1, globalizado e multicultural,
tanto dentro como fora das paredes escolares. Por conseguin-
te, nado pode nos surpreender que o edificio inteiro ameace
desmoronar — como Sugere, a propésito, a problematica Te
tratada no filme Entre os muros da escola, dirigido em 2008 por
Laurent Cantet, cujo espirito esta sintetizado na epigrate qve
encabega este livro. A subjetividade da crianga atual “violent
© dispositive pedagégico”, segundo afirma jé no titulo um dos
60
artigos escritos pela semidloga argentina Cristina Corea no
) 2000." Talvez nos encentremos diante de uma situacao
am os missionarios que tentavam
ano
comparavel a que enfrentar
a duras penas “civilizar” os “selvagens” habitantes das colénias
ultramarinas: por incompatibilidades socioculturais muito
diferentes, mas talvez igualmente dificeis de driblar, o alunato
atual também ¢ refratdrio as tecnologias pedagogicas que pre-
tendem inculcar-Ihe sua antiquada catequese. Assim é que
volta a tona, neste ponto, a questao que constitui 0 eixo deste
ensaio: uma vez carcomidas suas bases pela reacomodagao —
¢ pela crescente fluidez — dos solos que sustentam 0 presente,
como se pode pretender que a enferrujada estrutura escolar se
mantenha de pé e continue a funcionar?
61
NOTAS,
Bs, Historns x i
philippe Avies. Historne sonal da erie eda farnil
goo de fanerro: LICGEN # fartilia, trad, Dora Flaksman,
OUP 10
> Immanuel Kant,
* ag | Sobre a pe
nore pedagoyna Buenos Aires: £
agoyin trad. Bra
mem » ed. rev. 1999
ibid. p Se 18
ied. p. 18 19.
ibd. p.5e 8.
thd. P.
Ibid. p. 6.
ignacio Lewkowiez, “Escuela ¥ cidadamia’. In: Cristina Corea ¢ Ignacio
Lewkowicz, Pedagogia del aburrido: escelas destruidas, Jamilias perpleias
Buenos Aires: Paidos, 2010, p. 21
Alfredo Veiga Neto, “Pensar a escola como uma instituigdo que pelo menos
garanta a manutengao das conquistas fundamentais da modernidade (En-
revista)”, In: Marisa Vorraber Costa (org.), A escola tem futuro?, Rio de
faneiro: DP&A, 2003, p. 116.
10, juan Vasen, Las certezas perdidas: padres y maestros ante los desafios del
presente. Buenos Aires: Paidos, 2008, p. 88.
4. Ignacio Lewkowicz, “Escuela y cidadania’, In: Cristina Corea Ignacio
Lewkowicz, Pedagogia del aburrido, op. cit. p. 20.
1D Ibid.
3. Michel Foucault, Vigiar e punir: historia da violencia nas prisdes, trad. Ligia
M. P. Vassallo, Petropolis: Vozes, 1977, p. 148.
ad. Blateph.com, 2001, p.4
asco Cock Fontenella, Ste Paulo: Uni
“ Immanuel Kant, Sobre pedagogta, op. cit., p. 5.
'S Aledo Veiga Neto, “Pensar a escola. Jarisa Vorraber Costa (org.)s
. Ace tem futuro2, op. cit p. 106.
. (ibe Foucault, Vigiar e punir, op. cit, p. 49. /
Van emwood: A History of Childhood: Children and Childhood in the
ida de Medieval to Modern Times. Malden: Blackwell, 2003 | Ura
ra fo tnfanea: da dade Média a épaca contempordnea no Oxides
Ww, Philippe hee Cataldo Costa. Porto Alegre: Artmed, 2004].
Aina qu Histria social da erianga e ca familia, op. cits p. XI
Accoly hi8t Neto, “Pensar a escola... In: Marisa Vorraber Costa (org.)+
haa Van Mitre? OP- cit. p. 116.
a toe gg) Sando Alvarez-Uria, Angueologia de ta escuela, Madris La
Amo ,
v.90 Vieira, 5
be hanuet kan se do Espirito Santo, p. 5-6.
Mado Vivein oe Pedagogia, op. cit., p. 6.
& : op. cit., p.6. / $
Neal Sch ager patter "O marmore ¢ a murta: sobre a inconstineit
Selig agg) Mons da alma sebmagem, Sao Paulo: Cosas
mM
26
28
29
30)
3
36.
Dy.
38.
wae
40.
41.
42.
43.
4A.
45.
47.
48.
Vieira, apud Eduardo Viveiros de Castro, op. cit, p. 185
Ibid. ps 188
Philippe Aries, Hestora social da erianea e da familea, op. cit
p78
eter Sloterdiik. Regras para o Parque humane, tad. lose Oscar de
Marques. Sao Paulo: Estagao Liberdade, 2000, p. 17
Michel Foucault, 0 poder psiquutatrice, trad, Eduardo Brandao, Sao Py
Martins kontes, 2006, p. 62
Philippe Aries, Historia social da erianga e da familia, op. eit... 88
Almeida
ule:
Para aprofundar essay questoes, ver Paula Sibthia, O homem pos onyanuy
corpo, subjetividade € tecnologias digitais. Rio de Janeiro: Contr
12
Be
clinica’, In: Carlos Plastino (org.), Transgressoes. Rio de Janeiro: Conteaca
pa, 2002, p. 232
aponto,
ilton Beverra }r,°O ocaso da interioridade e suas repercussoes sobre a
2. Para aprotundar essas questoes, ver Paula Sibilia, O show do eu: a intims
dade como espetaculo, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008
illes Deleuze, “Post-scriptum sobre as sociedades de controle” In: Con-
versagoes: 1972-1990, trad. Peter Pal Pelbart. Rio de Janeiro: Fditora 34,
1992, p. 220.
Michel Foucault, Vigiar e punir, op. cit., p. 32
Jean Gougaud e Colette Hernandez, La Morale a ecole (1905-1950). Paris:
Berg International Editeurs, 2009.
Michel Foucault, Vigiar e punir, op. cit. p. 149.
Immanuel Kant, Sobre pedagogia, op. cit., p. 19.
Alfredo Veiga Neto, “Pensar a escola...” In: Marisa Vorraber Costa (org,),
A escola tem futuro?, op. cit., p. 116.
Ibid., p.117.
Richard Sennett, O declinio do homem publico: as tiramas da intirndade,
trad. Lygia Araujo Watanabe. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1988
Charles Taylor, Uma era secular, trad. Nélio Schneider ¢ Lucia Araujo, Si
Leopoldo: Unisinos, 2008, p. 569.
Immanuel Kant, Sobre pedagogia, op. cit., p. 37-38 € 74-75.
Cristina Corea, “El nino actual: una subjetividad que violenta el dispostt-
vo pedagogico”, Jornadas sobre violencia social, Univ. Maimonides, 2000.
Disponivel em
Guy Debord, A sociedade do espetaculo, trad. Estela dos Santos Abreu, Rio
de Janeiro: Contraponto, 1997, p. 14, 18 ¢ 189. .
Cristina Corea, “Pedagogia y comunicacion en la era del aburrimiento’ in:
Cristina Corea e Ignacio Lewkowicz, Pedagogta del aburride, op. cit. p43
“Desinteresse afasta alunos das escolas’, O Globo, Rio de kaneiro, 16 abr
2009; e Marcelo Neri, Morivos da evasdo escolar. Rio de Janes: Fa,
2009.
“Desinteresse afasta alunos das escolas’ cit. 7
Helio Schwartsman, “Taxa de analtabetismo recua pouce 90 Pals",
5. Paulo, 19 set. 2009,
otha de
214
Você também pode gostar
- 2 - Geometria PlanaDocumento96 páginas2 - Geometria PlanaChristian Scherer100% (5)
- Guia Ex PostDocumento314 páginasGuia Ex Post1234mhbcAinda não há avaliações
- Comitê de Ética em Pesquisa Com Seres Humanos PDFDocumento161 páginasComitê de Ética em Pesquisa Com Seres Humanos PDF1234mhbc100% (1)
- Gestão Avaliação PP EPTDocumento16 páginasGestão Avaliação PP EPT1234mhbcAinda não há avaliações
- Eng Req Processos - v02 1Documento16 páginasEng Req Processos - v02 11234mhbcAinda não há avaliações
- Sistemas de Banco de Dados Conceitos de Modelagem Conceitual de DadosDocumento9 páginasSistemas de Banco de Dados Conceitos de Modelagem Conceitual de Dados1234mhbcAinda não há avaliações
- Guia Pratico Seguranca Da InformacaoDocumento20 páginasGuia Pratico Seguranca Da Informacao1234mhbcAinda não há avaliações
- 11 Equivocos Nielsen2007Documento65 páginas11 Equivocos Nielsen20071234mhbcAinda não há avaliações
- InfBas - Tecnologias Digitais e Mundo Do TrabalhoDocumento3 páginasInfBas - Tecnologias Digitais e Mundo Do Trabalho1234mhbcAinda não há avaliações
- Fundamentos de Banco de DadosDocumento102 páginasFundamentos de Banco de Dados1234mhbcAinda não há avaliações
- Os Objetivos Do Ensino de Biologia Na Concep o DoDocumento23 páginasOs Objetivos Do Ensino de Biologia Na Concep o Do1234mhbcAinda não há avaliações
- O Risco Biol Gico e A Biosseguran A em Ambiente HoDocumento16 páginasO Risco Biol Gico e A Biosseguran A em Ambiente Ho1234mhbcAinda não há avaliações
- Estereótipos e Preconceitos de Gênero Na Educação Profissional FrancesaDocumento27 páginasEstereótipos e Preconceitos de Gênero Na Educação Profissional Francesa1234mhbcAinda não há avaliações