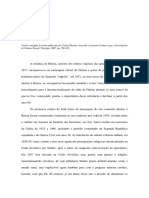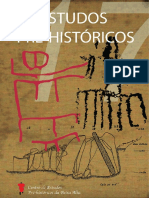Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Sebastião, João - Crianças de Rua - Marginalidade e Sobrevivência (1996)
Sebastião, João - Crianças de Rua - Marginalidade e Sobrevivência (1996)
Enviado por
Pedro Soares0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações25 páginasTítulo original
Sebastião, João - Crianças de Rua_Marginalidade e Sobrevivência (1996)
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações25 páginasSebastião, João - Crianças de Rua - Marginalidade e Sobrevivência (1996)
Sebastião, João - Crianças de Rua - Marginalidade e Sobrevivência (1996)
Enviado por
Pedro SoaresDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 25
SOCIOLOGIA - PROBLEMAS E PRATICAS.
NS 19, 1996, pp. 83-107
Criangas da rua: marginalidade
e sobrevivéncia!
Jodo Sebastiio
Resumo: O aparecimento durante a década de 80, na cidade de Lisboa, de
grupos de criangas a viver na rua, veio chamar a ateng‘lo para as situagdes
de exclusto ¢ marginalidade infantil existentes na sociedade portuguesa. A
fuga de criangas para a rua surge como o resultado de processos estruturais,
que provocam a degradacdo dos seus contextos de integracio, nomeadamen-
te na familia e na escola, levando-os a procurar respostas na rua para a
situagdo vivida. Confrontados com contextos fortemente agressivos desen-
volvem estratégias que integram elementos da chamada cultura de pobreza
¢ processos especificos de reorientagao identitaria, tornando assim possfvel
a sua sobrevivéncia na rua..
1. Exclusio, desvio e marginalidade infantil
Os processos de segregacio socioespacial, tipicos do desenvolvimen-
to urbano contemporaneo, constituem mecanismos de exclusio social cujos
efeitos se repercutem de forma selectiva sobre determinadas zonas da
cidade. As situagdes de exclusdo fazem-se sentir af com especial incidén-
cia, em particular através da existéncia de um espago fisico degradado, de
extensas manchas de pobreza e processos de violéncia simbélica exercida
sobre os seus habitantes, representando uma parte importante daquilo que
Boaventura de Sousa Santos designa como o “terceiro mundo interno”
(B. S. Santos, 1993: 17). Constituem “zonas intersticiais”, para usar a
terminologia da Escola de Chicago, significando estas a retradugio espa-
cial das desigualdades existentes na estrutura social, lugares em que a
acumulagao de factores de exclusao e marginalizagaéo contribuem ainda
mais para reforgar as caracteristicas estigmatizantes ja atribuidas aos grupos
84 Jofio Sebastifio
em situagdo de pobreza. O conceito de subclasse expresso por William J.
Wilson (1993) dé bem o sentido do processo de marginalizagio nesta
areas. A fuga das elites locais e das camadas de classe média, conjugada
com a crise no mercado de trabalho, conduzem a um progressivo isola-
mento e ao enfraquecimento dos lagos e redes de relagdes com o exterior.
Viver num espago desqualificado em termos urbanos representa viver
num espaco com uma carga simbélica negativa muito forte, onde a di
ponibilidade © possibilidade de mobilizagio de recursos materiais e
relacionais é reduzida (J. Remy, e L. Voyé, 1976).
Este quadro agrava-se quando falamos das criangas que af habitam. O
nascimento e desenvolvimento em contextos marcados pela pobreza dei-
Xa poucas alternativas, colocando-as numa situagio de vulnerabilidade,
em particular quando os mecanismos de socializagio tém dificuldade em
desempenhar cabalmente as suas fungOes integradoras.
A reproduciio da pobreza nao se relaciona apenas com a no trans-
missio de bens materiais, embora este seja 0 seu aspecto mais visfvel, ela
diz também respeito a uma heranga alargada de representagGes, atitudes,
valores e saberes pritticos que so fundamentais para os jovens tentarem
antecipar possfveis quadros de vida. Integrando familias cujos modos de
vida poderemos caracterizar como oscilando entre a destituigdo e a res-
trigdo (J. F. Almeida e outros, 1992), as criangas vivem quotidianos mar-
cados pelo imediatismo, a inseguranga e a imprevisiblidade. Existe entao
uma press%io para a sua autonomizagio precoce, no sentido de serem
capazes de alcancar (ou pelo menos ajudar a familia a conseguir) os
meios do seu sustento e satisfazer progressivamente as suas necessidades
de forma independente. Surgem neste caso determinadas grupos margina-
lizados como os vendedores ambulantes, os ciganos (Nunes, 1981), algu-
mas camadas de operarios e trabalhadores nfo qualificados com emprego
precério, sendo a gestdio do quotidiano feita entre a caréncia e 0 excesso
(Benavente e outros, 1987; Almeida e outros: 1992).
A existéncia de experiéncias de insucesso escolar, cumuladas com o
frequente abandono precoce da escolaridade, contribuem para o reforgo dos
factores que levam 4 manutengdo das criangas ¢ jovens em situagdes de
pobreza e marginalizagdo social. A nao aquisic&o, através da Escola ou de
outro sistema de formagio, de instrumentos para competir por um lugar no
mercado de trabalho, € um obstdculo significativo para o estruturar de futu-
ros alternativos a situagao de precaridade em que se encontram, tendo fortes
consequéncias negativas na integrago no mercado de trabalho ¢ no proprio
processo de transi¢fo para a vida adulta (J. Coleman e T. Husén, 1990).
Este quadro pode levar & constituigio ou integracio em redes de
relagdes alternativas como tentativa de alcangar alguns dos objectivos
Criangas da rua, marginalidade ¢ sobrevivéncia 85
culturalmente valorizados. A colisdo entre as restrigGes de contextos fa-
miliares e locais marcados pela precaridade e uma sociedade fortemente
valorizadora do sucesso individual e material constitui, sem dlvida, um
forte incentivo para tal.
HA em certos meios uma linha pouco definida entre o legal eo ilegal,
constituindo a deriva entre ambas uma situagiio corrente e mesmo tolera-
da pelas geragdes mais velhas, como constatou J. Machado Pais (J. M.
Pais, 1990), A chamada de atengio para que os comportamentos desviantes
pressupdem uma mudanga de estatuto, como resultado de um processo de
designagao, realga a importancia da actuagao das agéncias de controlo ¢
producao de normas e do seu papel no estabelecimento dos limites entre
a “normalidade” ¢ 0 “desvio”. A tentativa de normalizagdo das praticas,
através da cada vez maior regulamentagio da vida privada dos cidadios,
constitui um facto que pressuporia a mudanga dos seus quadros de refe-
réncia, 0 que nem sempre é partilhado ou visto positivamente por estes.
O processo de mobilidade espacial dos bairros periféricos em direc-
¢&o ao centro encontra-se em fntima ligagiio com as trajectérias sociais
destes jovens e grupos sociais pobres, migrantes para quem as promessas
de melhoria das condig6es de vida ficaram por realizar, A sua instalag’io
na zona central da cidade, como que atrafdos pelo “caleidoscépio
imagético” que este constitui (W. Rodrigues, 1992), utilizando para isso
prédios degradados ou carros abandonados, constitui um movimento pa-
ralelo e clandestino da progressiva gentrificagio.
As traject6rias percorridas por estes grupos de criangas das varias zonas
da cidade e periferia levantam ainda a questio de saber de que modos se
produzem esses espacos que fazem periferia no centro da cidade (L. Rolleau-
Berger, 1989). Estas criangas vém ocupar zonas da cidade marcadas pelo
anonimato, que tém vindo a perder o seu lugar como espago de identidade,
relacional ou histérico — antigas pragas transformadas em parques de esta-
cionamento, ruas onde j4 ndo se péra porque as lojas se transformaram em
agéncias bancdrias, etc. A apropriagao desses espagos ptiblicos traduz-se
ent&o num fenémeno de privatizagiio, em que o delimitar de fronteiras cons-
titui uma forma de identificar os semelhantes e gerir os recursos potenciais
(trata-se aqui de recursos eventuais e incertos). Transformam, desta forma,
espagos descaracterizados em “lugares antropoldgicos” (M. Augé, 1993),
cuja apropriagdo é uma modalidade fundamental das praticas colectivas ¢
individuais e do processo de construgio da identidade destes grupos de
criangas. E ao mesmo tempo principio de sentido pata os que o ocupam e
de intelegibilidade para os que observam.
Contrariamente as visdes correntes, nem sempre os grupos sao cons-
tituidos por criangas em ruptura total com a famflia ou vitimas de aban-
86 Joao Sebastiio
dono. Mostram os poucos estudos existentes que a estada das criangas na
tua pode apresentar diferentes gradacées, sobrevivendo apenas uma mi-
noria de forma totalmente independente e mantendo a grande maioria
ligagdes pelo menos com um dos familiares mais directos — pai, mae,
av6 (L. Aptekar, 1989a, 1989b ; R. Lucchini, 1990, 1991 ; L. Moselina,
1989, 1991; W. Myers, 1989 ; R.E. Silva, 1992), Estar na rua nao € para
muitos uma situacdio nova, esta nao Ihes é estranha, podendo a permanén-
cia na rua em certos grupos constituir mesmo um contexto central de
socializagiio e de construgio da autonomia individual da crianga. Este
aspecto € alids reforgado pela constatagao generalizada nos jos estudos
de que quase 90% das criangas da rua sao rapazes, permanecendo a casa
para as raparigas como espago de referéncia. Lewis Aptekar considera ser
a autonomizacao precoce um dos elementos das culturas de pobreza, onde
cedo as criangas so chamadas a assumir responsabilidades familiares,
tomando conta dos irmfos ou sendo desde pequenas autorizadas ou in-
centivadas a encontar na rua parte dos recursos inexistentes em casa (dos
brinquedos 4 alimentagdo) (L. Aptekar, 1989a). E contudo de ter em
ateng¢do a importancia dos efeitos situacionais, que podem ter um papel
importante na ida para a rua (B. McCarthy e J. Hagan, 1992). A fuga a
um conjunto de situagdes adversas (pobreza, violéncia familiar, insucesso
escolar e conflitos com colegas e professores) pode simplesmente dar
origem & queda noutras ainda mais graves (toxicodependéncia, explora-
gio sexual, agressdes, etc.), reforgando a integracdo em redes de tipo
marginal.
A deriva entre a famflia ¢ a rua constitui para a crianga um processo
de aproximacao progressiva & vida da rua. Comega a estruturar-se uma
carreira de crianga da rua que consiste na transig&éo, nem sempre total-
mente realizada, entre dois pélos: de um lado o contacto com a rua, mas
integrado na famflia e com relagSes frequentes ¢ intensas com adultos
significativos (pais, vizinhos, outros familiares); do outro, a ruptura quase
total com a famflia e adultos, passando a viver de forma independente na
rua. Entre ambos existem diversas situagdes intermédias que representam
graus diversos de-integragio na vida da rua — da crianga que passa o dia
na rua a angariar recursos e geralmente regressa 4 noite a casa até As que
alternam pequengs perfodos de fuga na rua com outros de regresso a casa.
Este processo de integragaio é fundamental para a estruturagdo da
identidade da crianga da rua. O contacto progressivo com a rua exige-lhe
que se ressitue face aos novos contextos de integragiio, levando-a a cons-
truir uma nova imagem de si. A existéncia ou nao de relagdes estdveis
com os adultos (em particular afectivas), o tipo de experiéncias feitas na
rua € as competéncias sociais adquiridas, sio elementos fundamentais dos
Criangas da rua, marginalidade ¢ sobrevivéncia 87
seus modos de adaptacao e do processo de reestruturagéo da sua identi-
dade individual e colectiva.
2. Marginalidade e sobrevivéncia
Com a ida para a rua o assegurar da sobrevivéncia quotidiana cons-
titui o problema central que qualquer crianga da rua tem que enfrentar.
Podemos dividir em dois grupos o tipo de praticas quotidianas ligadas ao
assegurar da sobrevivéncia na rua:
— As primeiras ligadas & identificagdo e angariagaio de recursos;
— As segundas ligadas 4s praticas de consumo e lazer.
A identificagao e angariagfo de recursos constitui para estas criangas
o principal problema a resolver, pois a sua imprevisibilidade obriga a um
esforgo constante, levando-as a socorrer-se de diferentes alternativas,
muitas delas socialmente consideradas como nao legitimas. Para isso,
precisam de desenvolver e treinar um conjunto de saberes e aptiddes
individuais e sociais, que realgam um agudo sentido de observagio, au-
tonomia, cooperaciio e capacidade de tomada de decisao, essenciais para
aproveitar as oportunidades disponiveis ou surgidas casualmente. A apren-
dizagem de tais capacidades desenrola-se tanto na rua como na comuni-
dade de origem, onde muitas vezes se contacta com problemas e formas
de os solucionar semelhantes.
Durante o processo de transi¢&o na rua, frequentemente ainda
no bairro de origem, as criangas realizam experiéncias sobre dife-
rentes formas de ultrapassar os constrangimentos materiais a que
estio sujeitas, como roubar roupa nos estendais, arrumar carros ou
assaltar colegas na escola. Estas formas de acesso a bens de consumo
que se encontram vulgarmente fora do seu alcance transformam-se
em praticas que s&o vistas, se néo como “normais”, pelo menos
como possfveis. A transformacio de praticas pontuais em situagdes cor-
rentes foi por nds verificada em varios momentos e locais da AML,
existindo criangas que “aproveitam” o intervalo da escola para pedir al-
gumas moedas na bomba de gasolina situada perto ou a safda para assal-
tar os colegas.
A plena integragdo na rua constitui uma importante alteragio quali-
tativa, pois representa a orientagio dominante para estratégias de sobre-
vivéncia que se apoiam preferencialmente em redes de relagGes sociais
marginais. O contacto e integragio em grupos ja existentes proporciona
uma série de aprendizagens que possibilitam 0 aproveitamento das varias
oportunidades, reforgando contudo 0 processo de marginalizagao. Estas
88 Jodo Sebastido
aprendizagens e experiéncias sao alids importantes na orientagdo futura
face aos problemas de obtengdo de recursos.
Pronto, ‘tava com fome, eu ndo sabia nada, praticamente... e depois
via as outros, depois... tive que fazer 0 que os outros faziam, mais ou
menos...
(E 6)
(...) @ gente tinha facas, assim ponta e molas, tirdvamos assim estas borra-
chas (das montras) aqui, ou entdo metiamos fita cola, depois partia-se (0
vidro), depois entrava-se ld dentro...
P — Onde € que aprenderam esses truques?
R — Foi com um mogo, tava com a gente e mais dois mogos, eram maiores,
foram para uma loja... a gente fomos com eles... vimos eles a catar €
eles disseram qu’era p’a gente ficar a controlar se vinha béfia, depois
4 gente avisar, s6 que néo veio béfia, a gente apanhimos... 6 depois
fomos dividir...
(E16)
Esta orientagdo fica bem clara quando analisamos as formas utiliza-
das para assegurar a sobrevivéncia, sendo nitido que o recurso a alterna-
tivas marginais domina, oscilando estas entre a prestagio de pequenos
servigos e a geralmente pequena delinquéncia, embora o contacto com
formas mais violentas de angariagdo de recursos também exista (Quadro
1), Esta constatagdo € alids concordante com as Estatfsticas da Justiga,
correspondendo a maioria das sangdes aplicadas relativas a infraccdes
penais, embora com o conjunto de situagGes ligadas A desinsergio fami-
liar em franco crescimento, isto para um total de casos sem grandes
oscilagdes (Estatfsticas da Justiga, 1991; 1993).
Paralelamente & actividade mais importante que € arrumar carros, 0
recurso a roubos (lojas, habitagdes e automdveis) e assaltos (pessoas)
representa uma segunda forma importante de obter recursos. Pode-se
mesmo referir a existéncia de uma forte relagio entre a permanéncia
prolongada na rua e 0 contacto (mesmo que pontual) com a obtengao de
meios de sobrevivéncia utilizando formas violentas. Estas podem reali-
zar-se de forma planeada ou apenas de acordo com uma oportunidade
surgida no momento. “Andar nas fezadas” ou “fazer raja” representam
formas de codificagao de actividades que implicam a conjugag’o de uma
oportunidade e a opcio pelo recurso a comportamentos jd tipicamente
delinquentes.
Criangas da rua, marginalidade e sobrevivéncia 89
Quadro i: Actividades desenvolvidas pelos entrevistados para angariagZo de recursos
Actividade acessériab
Actividade Mendicidade Pequenos Roubos | Assaltos. | Total
principal & servigos
Mendicidade — 2 - i 2
Pequenos
servigos i 6 5 2 13,
Roubos 1 = 1 I 3
‘Assaltos T = _ 2 3
ee
mas esses a gente dava-thes
(..) hd outros gue sdo uns g’andas vetho
surra mesmo... sempre a sexta-feira qu’eles iam Id a gente robava sempre
ele... sempre fazamos a folha a eles. A gente mandava o puto ir Id, né, 0
puto vai Id... 0 velho saia do carro a gente vinhamos todos, apanhdvamos
0 velho, uma paulada dava para tirar a carteira... uma vez robamos cento
e tal contos, duma vez.
(E 12)
(.) @ gente ia fazer rajd p'ra muitos sitios assim onde é que havia poucas
pessoas, nas velhas... nas pessoas, homens, assim... a gente chegava aqueles
dois putos pequenos, uma vez meti aqueles que tinham sete anos, meti eles
a tirar dinheiro de um homem que estava sentado num banco...
(E 17)
P — 0 que € que faziam durante o dia?
R — Ola... comiamos, anddvamos por ai, brincar... anddvamos por af a
ver se viamos algum beto.
P— Eo que é faziam se vissem algun beto?
R— Olhal... faztamos-lhe a folha... robava-lhe a roupa... os ténis, dinheiro,
chapéus... blusdes, camisas, tudo 0 que viesse a mao...
«9
A existéncia num dado contexto de determinadas condigdes — acti-
vidade, oportunidade, adversério, vitimas, bens — que proporcionam es-
timulos situacionais é considerada, por Birkbeck & La Free, como um
elemento fundamental para que os comportamentos designados como
delinquentes se possam verificar (C, Birkbeck e G. La Free, 1993: 114-
116). A estes estfmulos situacionais poderfamos acrescentar o papel desem-
90 Joao Sebastido
penhado pelos contextos socializadores em que as criangas se encontram
inseridas, em que circulam sistemas de valores e representagdes que poderao
favorecer ou penalizar o aparecimento desses tipos de comportamentos. Se
nfo existem relatos de integrago em grupos com objectivos puramente
delinquentes (que fazem da delinquéncia uma profissio) a pressao exercida
pelo contacto didrio com essa realidade e as necessidades de sobrevivéncia
levam a aproveitar todas as oportunidades que surjam:
Uma vez s6 tavamos dois Id em (...), 6 pé da estagdo, ‘tava 1d um quiosque,
‘tava Id um gajo maior do que nds , ‘tava a roubar, nds vimos mas deixd-
mos ele abrir, depois fomos Id e dissemos que se ele ndo deixasse famos
dizer & policia... ele deixou-nos, tirdmos dinheiro, bué de pastilhas... depois
basdmos, fomos p'6 Campo das Cebolas... depois de manhé fui & casa da
minha mde, dei d minha irma p’a guardar o dinheiro, magos de tabaco e
pastilhas .
(E 14)
Num quotidiano com estas caracterfsticas a presenga da violéncia
surge de forma mais ou menos regular. As criangas so vitimas de assal-
tos feitos por outros grupos, de praticas violentas de alguns policias e dos
conflitos internos ao seu préprio grupo. Se os conflitos entre grupos pro-
movem o imediatismo na gestio do quotidiano, a presenga da policia €
vivida como uma ameaga permanente, raramente assumindo um papel
positivo, antes contribuindo para o aprofundar da marginalizagao. Agres-
sdes fisicas, fazer flexdes em nimero varidvel, passar a noite sem poder
dormir so algumas das praticas usadas numa das esquadras de Lisboa
para “enfrentar” 0 problema das criangas da rua.
Se aparecer um policia, se eu tiver ali, eu ‘tou deste lado fujo logo p’rd
outro lado... se ele me chamar fujo. Fui p’é esquadra s6 duas vezes ainda...
foi uma em Cascais e outra foi aqui na esquadra da Praga do Comércio.
Na esquadra da Praga do Comércio bateram-me, em Cascais queriam-me
bater, prontos, sé que nao chegaram a bater... porque ndo tinham razdo.
Muitas vezes levam-nos e gozam connosco na esquadra, levam-nos agora a
esta hora, s6 satmos ds seis da manh& e n&o nos deixam dormir. Uma
pessoa té com sono, né, ‘id tarde, ‘td quase a dormir acordam-nos e...
ameagam bater-nos, e muitas vezes batem.
«7
Também a necessidade de manter em segredo uma boa parte das
actividades desenvolvidas leva, no caso dos grupos que utilizam os rou-
Criangas da rua, marginalidade e sobrevivéncia 1
bos € assaltos como forma principal de angariagio de recursos, a que
sejam bastante reservados nas admisses de novos membros.
P — Se aparecesse um rapaz novo deixavam-no andar com vocés?
R —A gente ndo conhece... podem ser chibos (da polfcia).
P — Mas havia ld rapazes assim ?
R — Sim, 0 (...) ia contar na esquadra, os béfias alguns dava-the bicicle-
ia...
15)
O contacto com diferentes praticas e ameacas sexuais (prostituigio
masculina e feminina) representa um terceiro elemento potencial de vio-
léncia na rua, em particular para as criangas mais pequenas. Face as
ameagas de alguns pedéfilos 0 grupo representa uma forma de auto-
defesa e de seguranga.
P — Qual foi a pior coisa que te aconteceu na rua ?
R — Foi um homem seguir-me... nao foi este da mota, foi um velho. Sempre
qu'eu corria ele corria tamém (...), ‘Tava sozinho, depois eu encontrei
mais amigos grandes e ele fugit... aqueles amigos tinham umas facas
assim... eles $6 tiraram a faca, era de ponta e mola, o velho viu aquela
faca toda assim, eu disse “BE aquele”, 0 vetho fugiu, a dar cambalho-
tas, a levantar-se...
( 17)
Espago, mobilidade e hierarquias sociais
Um elemento fundamental na andlise das estratégias quotidianas de
sobrevivéncia é constitufdo pela forma como se estruturam as suas pré-
ticas espaciais. Origindrios de espagos periféricos fortemente segregados
com condigées de vida bastante degradadas, a procura do centro da cida-
de representa a atracgfo simbélica de uma zona que ostenta os simbolos
do poder e da riqueza. Ministérios, monumentos, sedes de bancos, lojas
de luxo e de design de vanguarda, bares e discotecas da moda convivem
numa malha urbana de onde os restos da antiga cidade vao sendo progres-
sivamente expulsos pelo processo de renovagio urbana — actividades
econ6micas menos rentdveis ou em desuso desaparecem ou so empurra-
das para zonas menos nobres da cidade e periferia.
Desse espago fortemente estruturado fazem parte zonas que pela sua
localizagio e fungio no tém sido até agora alvo de grandes intervengdes
92 Jo&o Sebastiao
ou renovagées urbanas, o que hes fornece um estatuto marginal dentro da
dindmica de crescimento urbano. Falamos de pragas (ou partes) ocupadas
por estacionamentos durante o dia (Praga do Comércio, Largo do Corpo
Santo, Terminal, Saldanha, Cais do Sodré), espagos ptiblicos com uma
utilizagiio fortemente pendular. Da mesma forma certas artérias junto de
zonas de diversio nocturna, que constituem diurnamente espagos de pas-
sagem, com a chegada da noite transformam-se em gigantescos parques
de estacionamento (caso da Av. 24 de Julho ou a zona de Alcantara).
Outros locais utilizados, como os parques dos grandes supermercados da
periferia (Amadora, Linda-a Velha, Cascais), relacionam-se com estes
dentro de uma légica metropolitana, existindo casos de algumas criangas
que circulam regularmente por eles.
Representando estes espagos pontos de referéncia para as criangas,
nao € de admirar que as suas praticas espaciais também se estruturem em
seu redor. Impossibilitados de se afastarem durante perfodos longos pela
imprevisibilidade e precaridade dos recursos, a sua mobilidade é restrita
a deambulagées pela cidade, curtas idas a praia (Estoril/Costa da Caparica)
ou ao bairro, Em alguns casos pontuais verificaram-se idas ao Algarve,
sendo rapido 0 retorno, pela constatagado da impossibilidade de af conse-
guirem assegurar a sobrevivéncia com os recursos disponiveis ou por
serem alvo das atengGes policiais.
P — Entéo diz Id brincadeiras que facam de vez em quando?
R — Ah, andar pendurado nos comboios e nos eléctricos, até as paragens
gue nos der na maluca,
P — Qual foi o sitio mais longe que vocés foram?
R — 0 meu foi ao Algarve. Tive ld dois dias e depois vi-me embora, Onde
eu tive (Faro) nao dava para arrumar carros, niio conhecia nada
daquilo.
(E 2)
A constatago de que o fenédmeno criangas da rua tem dificuldade em
reproduzir-se fora do seu contexto social original (em todos os relatos de
saidas para outras zonas se verifica essa incapacidade), realga a importan-
cia da andlise dos modelos especfficos de exclusio social existentes na
metr6pole lisboeta. E de referir que esta circulagdo das criangas se faz
apenas em casos particulares, sendo a sua principal caracterfstica a per-
manéncia, resultante da verdadeira “privatizagio” que operam dos espa-
gos através do seu fechamento relativo a estranhos ou criangas provenientes
de outros locais. Este fechamento € tanto maior quanto mais central € o
espago e significativos so os recursos potenciais de cada um, podendo
Criangas da rua, marginalidade e sobrevivéncia 93
mesmo falar-se da existéncia de uma hierarquia dos espagos apropriados
pelas criangas da rua. Esta hierarquizagio esta intimamente ligada as
idades e aos recursos. Nos locais centrais (Praga do Comércio, Terminal
e uma parte da 24 de Julho) so grupos com idades médias mais elevadas
que dominam, sendo as outras zonas apropriadas por grupos de criangas
mais noyas, com menores capacidades fisicas para impor a sua presenga
eo fechamento do seu espago. O delimitar de fronteiras oscila entre o
quase bloqueio ao exterior, com fracas modificagSes na composigao dos
grupos (Praga do Comércio e Terminal), e a maior abertura ¢ rotatividade
das presengas (Largo do Corpo Santo, Santos, Campo das Cebolas).
O fechamento dos espagos a outros grupos de criangas surge como
um elemento importante nas estratégias de sobrevivéncia na rua. Perante
a imprevisibilidade ¢ escassez dos recursos este significa uma forma de
preservacio e regulac&o da sua utilizagao e, no menos importante, de
auto-defesa perante ameagas exteriores (outros grupos, policias, outros
adultos). Este quadro de condicionantes leva a que mesmo em algumas
situagdes as amizades mais antigas estabelecidas no bairro de origem
sejam dissociadas das situagdes de angariagio de recursos (arrumar car-
ros, geralmente).
R —Normalmente ndo deixamos arrumar porque... 0 parque é grande,
entram e saem muitos carros, ‘tds a ver, aquilo dé para se orientarem
todos mas é os que jd cd andam cd, ‘tds a ver (..) agora se vierem
mais é que jd nao dd... 6 a mesma coisa que eu, um dia fui arrumar
p’rds Amoreiras, como nao ‘tou habituado a arrumar Id houve um
gajo que estrilhou comigo e eu... eu sé tive que sair, porque eu tamém
fago 0 mesmo aqui na Praga do Comércio...
P — E os teus amigos Id do bairro?
R — Como ja te disse hé muita gente ali a’rrumar e nao convém trazer
mesmo que seja amigos... Ié do meu bairro eu néo trago ninguém,
venho sempre sozinho.
4)
A presenga no terreno possibilitou ainda realizar observagées que
forneceram informagGes relevantes para a andlise da estruturagdo interna
desses espagos, Esta constitui um misto de causa e consequéncia, corres-
pondendo as situagdes de elevado fechamento a existéncia uma trama de
relag6es muito densa e estruturada sobre a qual se apoia, acontecendo o
oposto nas situagGes pouco estruturadas. Tal situagdo ficou particular-
mente ilustrada por um incidente que presencidmos na Praga do Comér-
cio, que mostra como um determinado espago estrutrado institucionalmente
94 Joao Sebastiao
pode ser apropriado por grupos que estabelecem sistemas de regras infor-
mais, definidas e aplicadas nos seus preceitos e punigdes com quase tanta
eficdcia como as normas institucionais.
O incidente resultou do conflito pela prioridade de arrumar uma auto-
caravana de matricula espanhola, a partida sinénimo de boa gorjeta. A
definig&io de quem arruma determinado vefculo concretiza-se num singu-
lar processo de negociagio & entrada do parque de estacionamento, atra-
vés do gritar bem alto para os outros que carro se vai arrumar, processo
de negociagdo “em continuo” que implica perspicdcia para identificar os
automéveis que potencialmente poderdo proporcionar melhores gorjetas.
Procura-se assim 0 consenso sobre tal pretensdo, que pode ser contestada
em algumas situagGes (a mais frequente é a que modifica a ordem da fila
de criangas junto 2 bilheteira, o que provocaria uma distribuigio desigual
dos proventos), de modo a regular a “posse” dos veiculos, reduzindo
eventuais conflitos que inviabilizariam a continuagao da actividade. De-
pois de aceite a pretensio esta é cumprida de forma mais ou menos
estrita, encarregando-se o grupo de a fazer cumprir. O conflito surgiu
precisamente do nio cumprimento desta regra bdsica (outras existem,
acerea do relacionamento com os automobilistas que nao dio gorjetas ou
sobre riscar pinturas dos automéveis). J4 com a auto-caravana estaciona-
da, surgiu um segundo arrumador que procurou disputar a gorjeta, geran-
do assim uma discussao que levou os turistas a afastarem-se rapidamente,
gorando as expectativas de varios potenciais interessados. Depressa se
reuniu um “tribunal” informal constitufdo pelas duas criangas envolvidas,
os restantes membros do grupo, dois jovens ciganos que pretendiam ven-
der fio dourado (por ouro) e elementos do grupo da outra entrada do
Pparque, que também se sentiam lesados com a discussao por esta afastar
s “clientes”. O que se seguiu foi um forte reafirmar das regras de apro-
priagio colectiva do parque, regras nfo escritas mas que ali possuem
valor de lei, mostrando ao prevaricador (com algumas ameagas de agres-
sao como suporte) as consequéncias da repetigao do seu acto. Apds muita
discussao 0 individuo desviante acabou por claramente reafirmar o valor
da regra, 0 que permitiu 0 regresso de todos & rotina anterior.
Este incidente eritico forneceu um conjunto importante de informa-
gSes acerca dos modos de apropriagdo dos espagos e das fungdes desem-
penhadas pelos grupos. A primeira ideia € de que 0 espaco se encontra
dividido de forma complexa e complementar, de maneira a assegurar a
subsisténcia a todos. A entrada do parque s6 se encontram arrumadores,
dentro do parque € territério dos vendedores (neste caso Os ciganos, mas
também os que vendem pensos répidos) e a safda “pertence” a uma ra-
pariga deficiente que vende lapis. Raramente este equilfbrio territorial é
Criangas da rua, marginalidade e sobrevivéncia 95
quebrado por criangas a pedir as janelas dos carros na safda do parque,
situagio rapidamente desencorajada. Qualquer comportamento que ponha
em causa 0 equilfbrio é censurado e mesmo punido, por ser ameagador da
fonte de recursos. Praticas como insultar condutores que nao do gorjeta
ou riscar-Ihes os carros sao da mesma forma penalizados porque acabam
por levar & intervengao da policia e provocar a interrupgao da actividade.
Este tipo de regras reforgando a preocupagio de gerir 0 espago e os
recursos de forma consensual, é ali4s comum a outros locais sendo causa
de variados conflitos.
Cada vez hé mais na praga (Largo do Corpo Santo), 86 que ‘tamos a correr
todos com eles, cada vez aparecem mais s6 ressacados... um gajo quer fazer
dinheiro pra comer ndo deixam... eu arrumo 0 seu carro, 0 sr... pronto, dd~
me 100800, diga pra eu tomar conta do carro, vem um ressacado ve... v8
assim um telefone, jd parte o vidro, apanha o telefone e jd vai, vem a policia
leva todos pra esquadra, vao dez pra esquadra que nao fizeram nada, por
esse que fez pagam todos .
{E 3)
Esta fungao integradora e reguladora desempenhada pelo grupo mos-
tra que contrariamente as visGes correntes as criangas nao se encontram
num vazio social; elas ressocializam-se dentro de redes alternativas de
relagées que Ihes proporcionam apoio e reconhecimento.
Uma segunda e complementar nogdio de espago é a que apresentam as
criangas que no dependem directamente de um espago concreto para
sobreviver. Para aqueles que angariam recursos principalmente através de
assaltos @ roubos (a pessoas, lojas, residéncias, etc...) a nogdio de espago
altera-se, sendo mais ampla e fluida pela necessidade de procurar opor-
tunidades sem se restringirem a uma tinica zona (o que rapidamente os
denunciaria). Vaguear pela cidade e arredores constitui a sua principal
caracteristica, embora mantenham pontos de referéncia onde se encon-
tram regularmente com outras criangas.
Por oposigdo a ideia de um espago anémico, marcado pela dissolugdo
dos vinculos sociais, 0 que nos surgiu foram divisdes mais ou menos
claras dos espagos, em que divisdes fisicas e hierarquias sociais so con-
tinuamente objecto de reafirmagiio e negociagio, constituindo os confli-
tos momentos centrais de reafirmagio das regras.
96 Joao Sebastido
A gest&o do quotidiano
Tendo como constante a violéncia e a precaridade dos recursos, 0
quotidiano destes grupos de criangas e jovens caracteriza-se, como alids
ja surge de forma parcelar nos pontos anteriores, pelo imediatismo. Esta
forma de gerir o dia-a-dia constitui uma estratégia central para assegurar
a sobrevivéncia, a par com as formas de apropriagao dos espagos ptiblicos
e modos de angariagfio de recursos. O imediatismo surge como a adap-
tagao dos modos de vida dos grupos de criangas a um contexto extrema-
mente desfavoravel, pois se em certos momentos os recursos angariados
até podem ser significativos isso acaba por se transformar numa desvan-
tagem. Possuir bens materiais transforma a crianga em alvo potencial de
outros grupos, em especial dos toxicodependentes sempre necessitados de
mais meios. Esta estratégia, misto de destituigéo e convivialidade (J. F.
Almeida e outros, 1992 : 106-107), leva a viver de acordo com 0 momen-
to, sem qualquer estratégia a médio prazo, procurando apenas satisfazer
as suas necessidades imediatas. S6 encontrémos variagdes a este padrao
num grupo com um maior grau de formalizagéo (possufa nome, local
regular para dormir, um Ifder incontestado, realizagio de pequenos pro-
jectos). Normialmente a utilizag&o dos recursos é feita de forma imediata,
limitando-se a utilizagdo da poupanga ao guardar dinheiro para a refeigao
seguinte, e a alguns consumos ligados ao lazer (cinema, saldes de
jogos).
P — Qual é a coisa que achas melhor assim da vida na rua?
R — A melhor coisa ... é a unido, (...) a gente as vezes estamos aqui ... verr
os rapazes mais velhos, querem roubar... querem roubar um, a gente
junta-se todos. Té at um rapaz barbudo... estes dois pisaram-lhe a
cabega... porque normalmente a maioria anda a dar no cavalo... entdo
depois eles ndo conseguem fazer dinheiro suficiente p’a comprar e
vém-nos para ed roubar, sé qu'a gente ndo deixa
7)
Eu sempre tive dinheiro, por exemplo, fago hoje dinheiro... por exemplo, é
noite, fago dinheiro sempre p'a de manhé... p'a tomar 0 pequeno almogo...
depois ia logo direito na Praga do Comércio, estacionava carros, qualquer
dinheiro que fazia ia 6 supermercado ...
1p
A nogao de tempo baseia-se na sequéncia dos dias e das noites (sem
grandes divisdes) e na satisfagdo mais ou menos espontanea de algumas
necessidades basicas (alimentagao, repouso, lazer),
Criangas da rua, marginalidade e sobrevivéncia 97
Os momentos de lazer integram-se nesta nogiio de tempo contfnuo,
no constituindo momentos distintos que impliquem a quebra das rotinas
quotidianos, surgindo normalmente nos seus tempos mortos. Andar pen-
durado nos eléctricos, viajar de borla nos comboios (pela excitagao de
viajar em cima do comboio e da fuga ou conflito com os revisores), ir &
Feira Popular e sales de jogos video, a cinemas populares de baixo
prego (como o CamGes) no Inverno, ou a praia no Verdo, constituem a
principais formas de ocupar os tempos livres. Por vezes pregar partidas
a outros habitantes da rua (geralmente idosos sem abrigo) constitui tam-
bém forma de diversao.
P— Eo gue é que faziam nessas voltas, era s6 olhar?
R — Néio, a gente famos né... curtiamos e depois & noite quando a gente
quisesse ir p’6 cubiculo vinhamos
P — Se andavam as voltas depois ndo tinham dinheiro para comer, como
é que faziam?
R — Prontos, a gente ndo pagdvamos no comboio, nao pagdvamos no eléc-
trico, nada. (...). Uma vez ia caindo do comboio... tava a andar cd em
cima né... depois 0 pica abre a porta de repente, eu tava assim dis-
traido, o pica agarra-me o pé puxa-o... eu ia a cair... se ndo fosse 0
cabo de aco eu cata p’a baixo, pr’a debaixo do comboio...
9)
Fundamental para a reprodugdo da vida na rua é a capacidade para
manter “vivo” um registo dos locais e situagdes que poderdo aproveitar ou
vir a necessitar. A realizagio aleatéria de observagdes durante as deambu-
lagGes pela cidade tem um papel central na identificagdo de potenciais re-
cursos, scjam estendais com roupa de marca, casas e carros abandonados
para pernoitar ou locais propicios as “fezadas”. Este conjunto de informa-
g6es € particularmente importante no que diz respeito 4s casas para pernoi-
tar, pela necessidade de regularmente encontrar uma nova.
Por exemplo, estou a dormir aqui hoje, ‘td aqui uma casa durmo aqui.
prontos, posso dormir aqui dois, trés anos, hd-de ir um dia qu'hd-de vir a
pollcia e fecha isto, prontos, apankamos um comboio ou qualquer coisa, ou
damos uma volta... normalmente nao é preciso procurar... porque jd sabe-
mos onde é que hd casas, jd passdmos por Id... jd vimos, prontos.
ED
Os “cubjfculos”, locais de pernoita geralmente situados em prédios
abandonados nas zonas centrais da cidade ou Linha de Cascais, represen-
98 Joao Sebastiio
tam uma das facetas sociologicamente mais interessantes da vida na
rua.
Verdadeiras comunidades auténomas de jovens, o seu espaco é mui-
tas vezes partilhade por varios grupos e algumas raras por adultos sem
abrigo. Descoberto o prédio e forgada a entrada, rapidamente a noticia se
vai espalhando entre aqueles que partilham a vida na rua. A troca de
informagées acerca da localizagio dos cubfculos deve-se a importancia
que estes possuem para as actividades quotidianas, pois fornecem um
ponto de apoio e protecgao, sempre postas em causa pela presenga da
policia ou a instabilidade climatérica (no inverno).
Dentro dos cubiculos a divisio dos espagos € em geral feita por gru-
pos, embora existam situagdes menos formalizadas em que cada um uti-
liza o espago disponfvel sem grandes restrigGes. A sua utilizagdo pressupoe
que os moradores respeitem um conjunto de regras, que tm como objec-
tivo manter o espaco longe das atengGes da vizinhanga e da polfcia pelo
maximo tempo possfvel. Consegui-lo implica entrar e sair de forma dis-
creta e um baixo nivel de barulho durante a permanéncia. Internamente
0 respeito pelas poucas posses dos outros é a regra fundamental, sendo 0
roubo fortemente censurado, podendo mesmo dar origem a conflitos vio-
lentos.
Aguilo ndo tinha Id ninguém, quem Id ia dormir, dormia... tem muitas ca-
mas, tinha Id colchées. O primeiro que chegasse e visse uma cama dormia.
Nao se podia fazer barulho por causa da policia... se nos apanhavam ali...
hum, hum...
(E 12)
R — Assim cada andar tem um grupo... como por exemplo uns que fumam
assim charro e outros que ndo fazem nada disso, sé cigarros. Sepa-
rdvamo-nos p’a nao nos viciarmos tamém nisso... nem no xamon, eu
. xamon ndo fumo, foi
por acaso fumo um cigarro mas nado muit
como a cola, ja snifei, snifei... que larguel
P — E la dentro da casa mandava alguém?
R — Mandavam todos que ‘tavam Id, aquilo ndo tem dono, quem leva as
suas coisas manda nas suas coisas, sb que ndo manda nas coisas dos
outros.
(3)
Os cubjicuios representam um ponto central da vida na rua pois cons-
tituem locais de socializagio por exceléncia, contribuindo para estabele-
cer relagGes de conhecimento e entreajuda entre os varios individuos e
Você também pode gostar
- Vilaça, Helena - Alguns Traços Acerca Da Realidade Numérica Das Minorias Religiosas em Portugal (1999)Documento14 páginasVilaça, Helena - Alguns Traços Acerca Da Realidade Numérica Das Minorias Religiosas em Portugal (1999)Pedro SoaresAinda não há avaliações
- Cumbe, Mário José Chitaúte - História Da Pesca Artesanal em Moçambique - Ilha de Chiloane (1892-1991) (2023)Documento617 páginasCumbe, Mário José Chitaúte - História Da Pesca Artesanal em Moçambique - Ilha de Chiloane (1892-1991) (2023)Pedro SoaresAinda não há avaliações
- Santos, André & Domingos Cruz - Gravuras e Pinturas em Dólmenes - O "Grupo de Viseu" de E. Shee (1981) Trinta Anos Depois (2017)Documento34 páginasSantos, André & Domingos Cruz - Gravuras e Pinturas em Dólmenes - O "Grupo de Viseu" de E. Shee (1981) Trinta Anos Depois (2017)Pedro SoaresAinda não há avaliações
- Silva, Carlos H. Do C. - Pessoa Pluralidade Possível - Encenação de Uma Leitura Temporã e de Permeio (2010)Documento20 páginasSilva, Carlos H. Do C. - Pessoa Pluralidade Possível - Encenação de Uma Leitura Temporã e de Permeio (2010)Pedro SoaresAinda não há avaliações
- Paradoxo Do Eu Segundo S. Paulo E Socratismo Cristão de St. Teresa de Jesus - Do Apostolado Cristomórfico Ao Diálogo Com o Amor DivinoDocumento76 páginasParadoxo Do Eu Segundo S. Paulo E Socratismo Cristão de St. Teresa de Jesus - Do Apostolado Cristomórfico Ao Diálogo Com o Amor DivinoPedro SoaresAinda não há avaliações
- Silva, Carlos H. Do C. - Topos e Ritmo Da Existência Sacerdotal em Isabel Da Trindade - Dois Estudos (2010)Documento60 páginasSilva, Carlos H. Do C. - Topos e Ritmo Da Existência Sacerdotal em Isabel Da Trindade - Dois Estudos (2010)Pedro SoaresAinda não há avaliações
- Gomes, Rosa Varela & Mário Varela Gomes - O Ribat Da Arrifana (Aljezur, Algarve) - Resultados Da Campanha de Escavações Arqueológicas de 2002 (2004)Documento92 páginasGomes, Rosa Varela & Mário Varela Gomes - O Ribat Da Arrifana (Aljezur, Algarve) - Resultados Da Campanha de Escavações Arqueológicas de 2002 (2004)Pedro SoaresAinda não há avaliações
- Batsikama, Patrício - Será Simão Toko Um Profeta - Uma Leitura Antropológica (2016)Documento48 páginasBatsikama, Patrício - Será Simão Toko Um Profeta - Uma Leitura Antropológica (2016)Pedro Soares100% (1)
- Barreto, José - Rússia e Fátima (2007)Documento7 páginasBarreto, José - Rússia e Fátima (2007)Pedro SoaresAinda não há avaliações
- Gomes, António M. S. - Ver e Ler - Paulo Cantos - Um Projeto Bio-Bibliográfico (2016)Documento399 páginasGomes, António M. S. - Ver e Ler - Paulo Cantos - Um Projeto Bio-Bibliográfico (2016)Pedro SoaresAinda não há avaliações
- Santos, A.T., Cruz, D.J. & Barbosa, A.F. - Gravuras e Pinturas em Dólmenes - O Grupo de Viseu de E. Shee (1981) Trinta Anos Depois (2017)Documento39 páginasSantos, A.T., Cruz, D.J. & Barbosa, A.F. - Gravuras e Pinturas em Dólmenes - O Grupo de Viseu de E. Shee (1981) Trinta Anos Depois (2017)Pedro SoaresAinda não há avaliações
- Alcântara, Ana - Espaços Da Lisboa Operária - Trabalho, Habitação, Associativismo e Intervenção Operária Na Cidade Na Última Década Do Século XIX (2019)Documento287 páginasAlcântara, Ana - Espaços Da Lisboa Operária - Trabalho, Habitação, Associativismo e Intervenção Operária Na Cidade Na Última Década Do Século XIX (2019)Pedro SoaresAinda não há avaliações
- Barreira, Catarina - Gárgulas - Representações Do Feio e Do Grotesco No Contexto Português. Séculos XIII A XVI, Volume II (2010)Documento299 páginasBarreira, Catarina - Gárgulas - Representações Do Feio e Do Grotesco No Contexto Português. Séculos XIII A XVI, Volume II (2010)Pedro SoaresAinda não há avaliações
- Barreira, Catarina - Gárgulas - Representações Do Feio e Do Grotesco No Contexto Português. Séculos XIII A XVI, Volume I (2010)Documento531 páginasBarreira, Catarina - Gárgulas - Representações Do Feio e Do Grotesco No Contexto Português. Séculos XIII A XVI, Volume I (2010)Pedro SoaresAinda não há avaliações
- Frazão, Fernanda & Gabriela Morais - Portugal, Mundo Dos Mortos e Das Mouras Encantadas Vol 1 (2009)Documento60 páginasFrazão, Fernanda & Gabriela Morais - Portugal, Mundo Dos Mortos e Das Mouras Encantadas Vol 1 (2009)Pedro SoaresAinda não há avaliações
- Carvalho, Paulo de - Gangues de Rua em Luanda - de Passatempo A Delinquência (2010)Documento20 páginasCarvalho, Paulo de - Gangues de Rua em Luanda - de Passatempo A Delinquência (2010)Pedro SoaresAinda não há avaliações
- Bastos, Susana Pereira - Manejos Da Religião, Da Etnicidade e Recursos de Classe Na Construção de Uma Cultura Migratória Transnacional (2009)Documento27 páginasBastos, Susana Pereira - Manejos Da Religião, Da Etnicidade e Recursos de Classe Na Construção de Uma Cultura Migratória Transnacional (2009)Pedro SoaresAinda não há avaliações