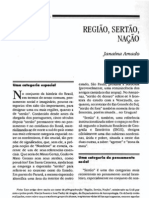Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
As Tropas Da Moderação - Alcir Lenharo
As Tropas Da Moderação - Alcir Lenharo
Enviado por
Rogerio Silva0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
11 visualizações140 páginasAs Tropas Da Moderação- Alcir Lenharo
Título original
As Tropas Da Moderação- Alcir Lenharo
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoAs Tropas Da Moderação- Alcir Lenharo
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
11 visualizações140 páginasAs Tropas Da Moderação - Alcir Lenharo
As Tropas Da Moderação - Alcir Lenharo
Enviado por
Rogerio SilvaAs Tropas Da Moderação- Alcir Lenharo
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 140
BIBLIOTECA GARIOCA
A\s TROPAS
~ DA Mopersc Ao
AS TROPAS DA MODERACAO € um livro
inspirado de Alcir Lenharo!
Originalmente, 0 livro veio a publico no
ano de 1979, tornando-se referéncia
fundamental para o estudo da histéria do
Brasil. A rigor, a pesquisa tinha sido
elaborada entre os anos de 1974 e 1977,
como parte das atividades do programa de
pés-graduagao da USP, quando o autor
obteve seu grau de mestre. Atualmente,
Alcir Lenharo é professor titular da
UNICANP, tornando-se autor de outros
livros e ensaios.
Esta obra, reeditada em boa hora pela
Prefeitura do Rio de Janeiro, através de
iniciativa da Biblioteca Carioca, caracteriza
o surto de comércio de abastecimento
ocorrido no Brasil, na época da
Independéncia, retratando, ao lado disso, o
universo social do tropeiro. Com efeito, o
autor termina por investigar a importancia
que os interesses regionais assumiram na
conjuntura politica da primeira metade do
século XIX. O processo de diversificagao
da economia interna, especialmente do Sul
de Minas, garantiu a ascensao de grupos
sociais, como comerciantes nativos e
atravessadores, ligados ao abastecimento
da Corte, filiando-se, em geral, 4 tendéncia
dos liberais moderados, em detrimento
dos tradicionais setores do poder ligados a
burocracia do Estado e agentes
monopolistas vinculados ao comércio
colonial. Alcir Lenharo relaciona, assim, os
interesses sociais envolvidos em torno do
comércio de abastecimento e o seu papel
politico na construgao do Estado nacional
no Brasil.
A\s TROPAS
DA MopERACAO
O abastecimento da Corte na formago politica
do Brasil: 1808-1842
Alcir Lenharo
2 edigdo
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Departamento Geral de Documentacao ¢ Informagao Cultural
Divisao de Editoragao
Colegao BIBLIOTECA CARIOCA
Volume 25
Organizador
Afonso Carlos Marques dos Santos
Copyright® Alcir Lenharo, 1992
Direitos desta edicao reservados a0 Departamento Geral de Documentagao ¢
Informagao Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes.
Proibida a reproducdo, total ou parcial, e por qualquer meio, sem expressa autorizagao.
Impresso no Brasil - Printed in Brazil
ISBN 85-85096-27-6
L563
Ficha catalografica elaborada pela Divisio de
Processamento Técnico do CI/DGDI/DEB
Lenbaro, Alcir
‘As tropas da moderagao (0 abaste-
cimento da Corte na formagio politica do
Brasil - 1808-1842) / Alcir Lenharo. ~ 2.ed. —
Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cul-
tura, Turismo e Esportes, Departamento
Geral de Documentagao e Informagao Cul-
tural, Divisio de Editoragao, 1993.
136-p. - (Biblioteca Carioca; v. 25)
1, Brasil — Hist6ria — Império. 2. Brasil -
Histéria - Império — Comércio Sul de Minas
~ Rio de Janeiro. 3. Rio de Janeiro (cidade)
séc. XIX — Comércio de abastecimento — As-
pectos sociais. 4, Sitiantes e tropeiros, séc.
‘XIX - Aspectos sociais. 1. Titulo. II. Titulo. O
abastecimento da Corte na formagao politica
do Brasil. IIL. Série.
CDD 981.04
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Cesar Maia
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Helena Severo
DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL
Graga Salgado
DIVISAO DE EDITORACAO
Heloisa Frossard
CONSELHO EDITORIAL
Presidente
Afonso Carlos Marques dos Santos
Membros
Helena Corréa Machado
Paulo Roberto de Araujo Santos
Sandra Horta Marques da Costa
Samira Nahid de Mesquita
Mauricio de Almeida Abreu
Maria Augusta F. Machado da Silva
Evelyn Furquim Werneck Lima
Eliana Rezende Furtado de Mendonca
Maria Isabel de Matos Falcio
Edigdo € revisdo de texto:
Ana Lucia Machado de Oliveira, Célia Almeida Cotrim
¢ Diva Maria Dias Graciosa
Da Divisio de Editoragao do CT/DGDI
Capa e projeto grafico da colegao:
Ivone Barros
Arte-final da capa:
Vera Camisio
Do Centro de Pesquisa e Comunicagao Social/SMCT
1 edigao
Sao Paulo: Simbolo, 1979
23 edigao
1993
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Departamento Geral de Documentagao ¢ Informagao Cultural
Rua Afonso Cavalcanti, 455 sl. 201
Cidade Nova — Rio de Janeiro ~ CEP 20211-110. Tel.: 273-9390
SUMARIO
PREFACIO DA 14 EDIGAO, 7
AS TROPAS DA MODERACAO, 15
INTRODUCAO, 19
1,
O ABASTECIMENTO DA CORTE APOS 1808, 33
2. ESTRADAS E INTEGRAGAO DO CENTRO-SUL, 47
3. SUBSISTENCIA E INTEGRAGAO, 60
4,
5. A PROJECAO SOCIAL E POLITICA DOS
A CONEXAO MERCANTIL SUL DE MINAS-RIO DE JANEIRO, 75
"SITIANTES" E TROPEIROS, 91
CONSIDERACOES FINAIS, 115
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS, 121
POSFACIO DO AUTOR PARA A 2% EDICAO, 131
© AUTOR, 133
PREFACIO DA 12 EDIGAO
Este livro traz uma contribuigao nova para o estudo da sociedade
brasileira, na época da Independéncia, tanto mais valiosa quando
enfrenta, com paciéncia e forga, a dificuldade enorme que representa
para o historiador a extrema dispersdo das fontes que se propés
consultar para recriar, numa perspectiva ampla, o surto do comércio
de abastecimento da Corte e 0 papel politico que os interesses
regionais do Sul de Minas desempenharam no processo de
construg4o do Estado brasileiro, nas primeiras décadas do século
passado.
O autor delimita cronologicamente o seu estudo de modo a
abordar uma conjuntura, a seu ver, curta e transitéria, favoravel a
diversificagao da economia interna do Sul de Minas e,
concomitantemente 4 ascensdo social de novos setores das
camadas dominantes, a dos produtores mineiros, que emergem nos
primeiros anos da Regéncia, nao somente na praca, mas também
no cenirio politico da Corte. Este momento favoravel 4 produgdo »
de géneros de abastecimento e a integragao de um mercado 1
interno ja vinha florescendo nas ltimas décadas do século XVIII;
teria o seu papel no processo de expansag da lavoura do café,
que, por sua vez, veio cercear e sufoca-lo*.
O estudo da producio de géneros alimenticios e de consumo
seria um tema de per si significativo e cheio de implicagées para a
formagao do nosso meio social; oferece um interesse ainda maior
quando focalizado neste periodo de transicdo da Colénia para o
Império, como demonstra Maria Thereza Schérer Petrone em uma
obra pioneira, onde estyda o papel de Sao Paulo no comércio de
abastecimento da Corte®.
A dificuldade de organizar a producao dos géneros de
abastecimento e 0 modo como se fazia a sua comercializacao na
economia colonial tem-sido continuamente lembrada por nossos
historiadores. As implicagdes sociais deste fendmeno continuam
pouco estudadas, embora seja um dos assuntos mais importantes
para a hist6ria das tensoes, dos conflitos e da propria estrutura da
sociedade brasileira. Este setor das atividades econémicas foi uma
verdadeira arena de livre proveito para diferentes grupos das
classes dominantes da Colénia, e nado apenas para burocratas e
T MAXWELL, K. 1978.
2 Ibidem, p. 130 e 134.
3 PETRONE, M.T-S. 1976.
8 Preficio
monopolistas do Reino, pois também oferecia um meio de
ascensao social para atravessadores e comerciantes nativos, em
geral acobertados por figuras proeminentes da burocracia
Portuguesa, tais como governadores ou ouvidores.
Por outro lado, era neste setor preciso da economia que se
tornava mais aguda a concorréncia do trabalho escravo com 0
trabalho livre, mascarada pela forca dos preconceitos contra
qualquer forma de trabalho manual, que também contribuia para a
decadéncia do artesanato e marcava de forma decisiva as relagdes
sociais de trabalho nas aglomeragoées urbanas. O autor nado
descuida em seu livro deste aspecto de grande importancia para
nossa Hist6ria Social. No capitulo.5, estuda a coexisténcia de
trabalho livre e escravo na formagio das tropas, aprofundando-se
na anflise de todas as implicagdes que trazia para o "universo
social do tropeiro".
Tive oportunidade de acompanhar a elaboragio deste
trabalho desde seu principio, pois nasceu de um projeto de
pesquisa integrada sobre "Estado e sociedade na época da
Independéncia: o papel dos comerciantes portugueses do Rio de
Janeiro", que orientei no curso de pés-graduacgao do Departamento
de Hist6ria da USP. Este projeto, financiado pela FAPESP, deu bons
frutos, pois, juntamente com o presente trabalho de Alcir Lenharo
€ com ele estreitamente relacionados, vieram a lume duas outras
teses de mestrado: a de Lenira Menezes Martinho sobre o papel
politico dos caixeiros portugueses e a organizacao interna das
‘irmas comerciais, e o de Riva Gorenstein sobre 0 enraizamento
dos negociantes portugueses de grosso trafo na Corte ena
economia do Centro-Sul (ambos no prelo)*.
Neste livro, Alcir Lenharo se propée analisar as implicagées
sociais e politicas dos interesses ligados ao comércio de
abastecimento da Corte e o seu papel no processo de centralizagio
do poder politico e administrativo, em trés momentos ou etapas
bem distintos: 0 primeiro, de iniciativa da propria Corte, € o da
politica joanina de integragao e garantia do setor de
abastecimento, feita através de uma série de medidas de incentivo,
financiamentos, abertura de estradas, distribuicao de terras e de
titulos honorificos. Foi a penetracdo dos comerciantes portugueses
-pelo interior da provincia, seguindo os antigos caminhos do ouro.
O segundo momento, grosso modo correspondente ao periodo do
Primeiro Reinado, foi o da ascensdo social dos produtores
mineiros, o de sua penetragdo na praca do Rio de Janeiro: €
quando se definem os seus interesses politicos regionais, com 0
surto da imprensa local das cidades do Sul-de Minas, e o
aparecimento de seus primeiros lideres politicos. Estes, apésa
abdicagao de Pedro I, passam a ter uma atuagao mais significativa
no cenario politico do Rio de Janeiro. Aderem aos liberais
MARTINHO, LM. 1977; GORENSTEIN, R. 1978.
Preficio
moderados e procuram deslocar o centro de decisGes politicas do
Pago, monopolizado por burocratas e comerciantes de origem
portuguesa, para a Camara dos Deputados’.
O terceiro momento focalizado pelo autor corresponde ao da
fundagao do partido conservador e A politica centralizadora e
escravocrata do "Regresso", quando se da a cooptacao destes
novos setores emergentes pela antiga oligarquia do Pago, agora
enriquecida pelo café e enraizada no Vale do Paraiba,
Politica de abastecimento e construgao de Estado tém sido
ultimamente objetos de alguns livros e de ensaios, entre os quais 0
de Charles Tilly sobre as crises de abastecimento e a manugen¢ao
da ordem publica, no contexto do Antigo Regime europeu”.
No Brasil, desde cedo as crises de abastecimento foram
pretexto para intervengées da Coroa, fosse apenas na tentativa de
organizar a produgdo, concentrando-a em determinadas areas do
litoral baiano, a fim de garantir o abastecimento das frotas ou no
sentido de permitir e de articular em momentos de crise mais
aguda o socorro de uma capitania por outras; estas intervencdes
das autoridades centrais também se faziam necess4rias por ocasiao
de motins contra a carestia e novos impostos, que mascaravam, em
geral, os motins de fome no Brasil colonial, como seria por
exemplo em 1711 0 episédio do Maneta, na Bahia, ou a revolta de
Pitangui em Minas, em 1720. As mesmas crises se reproduzem
durante o Império com levantes de escravos na regido cafeeira e
também no Nordeste, como seria 0 caso da Praieira, "Ronco do
Abelha" e o "Quebra-Quilos"... As crises periédicas de
abastecimento deram, pois, motivo para as primeiras intervencdes
do poder central junto ao mandonismo local.
Pode-se imaginar outras coordenadas com as quais trabalhar
o problema da construgdo do Estado no Brasil, tais como a das
presses externas, no sentido de integracdo do pais no liberalismo
ocidental, apés 1822, ou da importagao das instituigdes politicas
do colonialismo europeu. No entanto, uma das trilhas mais
importantes a serem exploradas continua a ser 0 estudo dos
momentos de cooptagéo do mandonismo local pelo poder central,
que podem ser captados através de uma anilise da politica
tibutaria do Império ou do estudo da politica de controle dos
cargos piblicos, No caso do presente livro, 0 autor teve como
principal preocupacdo articular, na andlise da politica integradora
e centralizadora da Corte, aspectos varios como diversificagao das
classes dominantes, participagdo politica, representacao,
regionalismo econémico.
Num estilo torturado e inquieto que lhe é peculiar, o autor
sabe esmiugar nas particularidades as suas implicagdes mais
amplas: é com esta sensibilidade de historiador social que explora
5 CASTRO, P-P. de. A experiéncia republicana: 1831-1840. In HOLANDA, $B. de. 1972.
6 TILLLY, Charles. The formation of national states in Western Europe. Princeton
University Press, 1975.
10 Prefacio
a sua documentagdo. Aproveita, por exemplo, um relato das
localidades em que Pedro I se hospedou, durante uma viagem ao
Vale do Paraiba, para reviver as figuras dos oligarcas do comércio
da Corte, que iam obtendo sesmarias no interior e se enraizando
na terra por aliancas de casamento com familias locais: Fernando
Carneiro Ledo, Jacinto Nogueira da Gama, Paulo Fernandes Viana,
Joao Rodrigues Pereira de Almeida.
Com 0 mesmo cuidado e riqueza de pormenores localiza, na
praca do Rio de Janeiro, os comerciantes intermedidrios dos
produtores mineiros "instalados com armazéns na praia dos
Mineiros e nas ruas do Sabao, Sado Pedro e das Violas, da rua
Direita para baixo, por onde s6 em casos mui extraordin4rios
transitam seges, carrocas". Ali compravam dos tropeiros os seus
produtos para revendé-los em consignagdo, oferecendo facilidades
de acesso ao mercado, pastagens, caixeiros, servigos de tropa.
Com o mesmo culto pelo pormenor sugestivo, descreve
cuidadosamente uma das primeiras firmas mineiras a se instalar na
Corte. Traz também dados minuciosos sobre a natureza das
fortunas dos capitalistas mineiros e o seu modo de operar, seja
como credores e abastecedores das primeiras fazendas de café,
como foi 0 caso dos Leite Ribeiro e Teixeira Leite de Sdo Joao
del-Rei, ou ainda como traficantes de escravos. Analisaa
organizac4o doméstica das firmas, os seus negécios enredados nas
relagdes familiares, mais "a complementaridade entre fazenda,
rancho, venda, pastagens, postos em servigo de modo integrado".
Identifica alguns dos principais invernistas mineiros como Anténio
Francisco de Azevedo, Francisco José Melo e Sousa ou José
Custédio Dias, de Alfenas, que procuravam intervir na politica de
abastecimento da Corte.
Os primeiros sintomas da penetracdo dos produtores mineiros
no mercado da Corte s4o pressentidos no jogo dos interesses
regionais, que v4o se imiscuindo no cené4rio politico e na prépria
politica central de abastecimento. Em 1828, Bernardo Pereira de
Vasconcelos discursava no parlamento sobre a importancia de
isentar produtores e tropeiros mineiros dos rigores do
recrutamento militar, outros politicos, representantes de interesses
mineiros como os padres José Custédio Dias e José Bento
defendiam a liberalizacéo do comércio de abastecimento da
carne... O préprio Evaristo da Veiga, em seu jornal Aurora
Fluminense, tomava o partido de interesses monetarios regionais
do Sul de Minas contra os bilhetes do Banco do Brasil, que
queriam manter depreciados...
Alcir Lenharo também recria o burburinho quotidiano das
principais estradas de acesso a Corte, descrevendo ao lado dos
“camaradas" as figuras dos "proprietérios-tropeiros", um pouco
ambiguas na escala de valores da sociedade escravocrata do
Império, porém bem caracteristicas de uma fase inicial de ascensao
social dos produtores do Sul de Minas.
Prefacio 11
Em 1818, vislumbra a passagem do tropeiro Narciso Antonio,
que voltava do Rio com trés camaradas e cinco escravos, " de idade
de 48 anos, estatura ordindria, olhos pardos, sobrancelhas
delgadas". Encontra-o novamente em 1825, mais préspero, com 64
anos de idade, voltando do Rio pela estrada da Policia,
acompanhado de 14 camaradas e levando 34 escravos novos para
vender pelo caminho.
Politica, valores ideolégicos e trama de negécios regionais
comp6em este estudo que reconstréi, num estilo minucioso e
colorido, peculiaridades originais da sociedade da Independéncia,
trazendo para 0 leitor dados inéditos sobre um assunto pouco
conhecido.
S40 Paulo, 18 de marco de 1979
Maria Odila da Silva Dias
Professora titular de Historia do Brasil
Departamento de Histéria da FFLCH / USP
A Zulmira, minha mae;
a Madalena e Nivaldo,
meus irmGos.
A\s TROPAS
pA MopEeRACAO
(..) e s6 se fala com respeito da
Casa de Braganga, mostrando todos
o maior desejo de permanecerem
unidos ao Rio de Janeiro, tnica ci-
dade onde os cultivadores da regido
acham escoadouro para as pro-
dugdées de suas terras.
August de Saint-Hilaire
. INTRODUGAO
+> .
Os estudos hist6ricos relativos ao abastecimento urbano tém produ-
zido algumas obras de cardter. monogr4fico que incidem especial-
mente sobre o abastecimento das Gerais no século XVIII". Outros
trabalhos, também monograficos, tém escolhido o ciclo do muar em
Sao Paulo como tema de pesquisa, fornecendo subsidios para os
estudos de abastecimento. Entre eles, O bardo de Iguape, de Maria
Thereza Schérer Petrone, dimensiona as caracteristicas do mercado
interno no Centro-Sul, tomando o Rio de Janeiro como o pélo orde-
nador do fluxo de géneros de primeira necessidade’.
Apareceram, recentemente, duas contripuigdes que alteram de
modo substancial o panorama desses estudos”, Trata-se de duas obras
que tomam o abastecimento como objeto de investigacao. Otexto de
Maria Yedda Linhares estuda o abastecimento em longa dura¢ao,
alinhavando-o com.a expansao da economia exportadora. Constitui
uma estimulante incursdo pela histéria do abastecimento no Brasil,
acompanhada de um grande esforco de periodizacao.
Ja o livro de Katia Mattoso, além de estudar o abastecimento de
Salvador como objeto em si, utiliza-o também como recurso meto-
dolégico para pesquisar a geografia, a economia € a sociedade de
Salvador e do Recéncavo. Trata-se, portanto, de um estudo que elege
0 abastecimento também como instrumento de percep¢ao e analise
de outros niveis do real histérico.
Algumas das caracteristicas evidenciadas nestes estudos apre-
sentados também sao componentes do presente livro. Enfoca-se aqui,
preferencialmente, a problemitica do abastecimento urbano. Estuda-
se a estruturacdo dos meios de distribuig4o, nao se perdendo de vista
o alcance das bases s6cio-econémicas da produ¢a4o e buscando-se
recuperar a historicidade do fendmeno estudado.
A especificidade deste livro procede do esforgo em analisar 0
abastecimento como uma. tematica politica. Escapando dos
parametros da Hist6éria Econémica, buscou-se estudar a formagao de
um setor social novo oriundo da produgio e distribuigao de géneros
de primeira necessidade para 0 consumo interno.
Mais que isso, procurou-se demonstrar 0 modo como este setor
da classe proprietaria do Centro-Sul articulou-se politicamente em
nivel regional e se projetou no espago da Corte. Tal movimento
tomou impulso a partir da Independéncia, quando novos setores
sociais perceberam alargadas as possibilidades de participagao. No
caso dos representantes politicos do setor abastecedor, tiveram facili
tada sua.caminhada rumo 4 Corte através da prépria pratica mercantil
19
20 Introdugdo
A sua projecdo politica deu-se progressivamente como que acompa-
nhando o desdobrar dos seus negécios rumo ao mercado consumidor.
Essa perspectiva politica da pesquisa acabou por delimitar o setor
de abastecimento estudado — a produgao mercantil de subsisténcia e
suas rotas terrestres.de distribuigdo, colocando em evidéncia as areas
interioranas Produtoras de géneros de primeira necessidade. Privile-
giou-se estudar o Sul de Minas uma vez que esta regido converteu-se,
durante o periodo estudado, no principal nacleo produtor e abastecedor
do mercado carioca, Nao se perdeu de vista a necessidade de reconstruir
as bases de organizagdo do comércio vigente bem como suas .vincu-
lagdes com o mercado do Rio de Janeiro.
Desse modo, 0 objeto de estudo escolhido constitui apenas uma
fatia menor do conjunto do abastecimento. Ocorre, no entanto, que
ele se constitui na fatia mais rica de andlise, j4 que permite um amplo
campo de constata¢des acerca da projec4o e do desempenho politico
do setor produtor e mercantil no processo politico do periodo.
Para se ter uma visdo de conjunto do problema abastecimento,
é interessante que sejam conhecidas as principais fontes fornece-
doras do mercado do Rio de Janeiro, assim como se compare a
importancia desta atividade em relacao a outras no contexto da vida
mercantil.
Grosso modo, pode-se dividir 0 conjunto do abastecimento em
wés fontes: a externa, cujas pragas maiores eram Lisboa,.Porto e 0
Prata; a interna, de cabotagem, cujos nicleos principais eram 0 Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e as 4reas mais préximas da Corte,
como Campos e Parati; a terceira fonte, também interna, era a circuns-
crita as rotas terrestres que alcangavam principalmente as capitanias
de Minas e Sao Paulo e, através delas, os centros produtores de Goids
€ Mato Grosso,
De Lisboa e Porto provinham sal, vinho, azeite, azeitonas,
sardinhas, bacalhau, vinagre, trigo, farinha de trigo. O Prata abastecia
© Rio de Janeiro de carnes salgadas, toucinhos e sebo.
No segundo grupo despontavam as importagées do Rio Grande
do Sul, que fornecia carnes salgadas, couros, trigo e peixe. Santa
Catarina contribuia com milho, feijaéo, arroz, trigo, cebola e farinha
de mandioca. Arroz, feijao, mandioca, café, milho e outros géneros
provinham de centros diversificados*. Podem ser ainda arrolados
neste grupo a producao de hortalicas, a criagdo de animais de
pequeno porte, a pesca, nas imediagdes do Rio de Janeiro, cuja
distribuigao dependia em grande parte do movimento de embar-
cagées na baia de Guanabara.
O terceiro setor abastecedor, objeto deste estudo, produzia e
exportava gado em pé, em grande quantidade, além de porcos, galinhas,
carneiros, toucinhos, queijos, cereais. O principal centro abastecedor
era o Sul de Minas. Sua produ¢do era complementada por outras regides
de Minas, Paracatu, por exemplo, e pela produgdo paulista.
Apesar do maior vulto comercial, a import4ncia politica dos dois
primeiros setores era menor. A fonte externa e a interna de cabotagem
constituiam-se em atividades subsididrias das grandes casas impor-
Introdugao 21
tadoras e exportadoras do Rio de Janeiro, nao alcangando pois ex-
pressdo politica prépria. Casas como Carneiro, Viiva e Filhos,
Joaquim Pereira de Almeida & Cia., José Joaquim de Siqueira & Cia.
preponderavam no setor de abastecimento, em cujas atividades era
extensivamente utilizada a, mesma estrutura mercantil dos negécios
de importag40/exportacao’.
O mesmo parecia se dar com os negécios do trafico negreiro,
com as companhias de seguro e com as arrematacgoes de contrato para
cobranga de impostos, afianga uma pesquisa recente’. Riva Gorens-
tein observa que estas atividades, bem como os negécios de cabo-
tagem, estavam enfeixados nas m4os de um grupo restrito de grandes
comerciantes que utilizavam sua estrutura de negécios em campos
diversificados de atividades, restringindo desse modo os custos de
empresa, abrigando-se de riscos imprevistos e ampliando a sua faixa
de lucros.
Ja o abastecimento por vias internas constituia-se em um setor
recente; sua organizagdo distributiva era vinculada em grande parte
as propriedades interioranas ou a firmas de tropas independentes das
grandes casas de comércio da praca carioca. A expansao do fluxo de
comércio angariou para os proprietarios, comerciantes e tropeiros do
interior uma crescente influéncia politica na Corte - mercado. que
drenava a maior parte de sua produgao.
O contexto s6cio-econédmico pode ser pormenorizado através
do clima de pressio em que se encontravam os comerciantes por-
tugueses. De um lado, como se assinalou logo atras, registrava-se um.
avancgo dos proprietarios do interior no sentido do mercado. De
outro, principalmente apés a abertura dos portos, a penetragdo in-
glesa fez-se intensa, abocanhando a parte mais expressiva dos
negécios da importacdo — para nao dizer de seu avango até mesmo
no setor de varejo — e dos privilégios, concessdes e isengdes cedidos
pela Coroa portuguesa’.
Em vista disso, 0 setor de abastecimento de cabotagem ab-
sorveria, apds 1808, um nimero maior de comerciantes portugueses
acossados pela pressao inglesa nos negécios de importagao. Per-
dendo o papel de intermediarios do comércio colonial, os comercian-
tes portugueses buscaram se alojar nos negécios de abastecimento e,
por vezes, em _atividades produtivas, também ligadas ao
abastecimento®.
A reacdo defensiva dos portugueses nao se fez tardar. No to-
cante 4 cabotagem, trataram de garantir junto ao regente o afas-
tamento da penetra¢ao inglesa também nesse setor. E‘o que se pode
apurar através da Decisio de 9 de janeiro de 1815, que proibia aos
navios estrangeiros a participagdo no comércio de cabotagem’,
Outras conquistas parciais foram conseguidas. O comércio a
varejo e a redistribuigao de mercadorias importadas aos demais por-
tos brasileiros foram vedados aos estrangeiros. De outro lado, o
regente incentivou a expansdo do comércio e das atividades produ-
tivas no pais através da criagdo de diversos projetos de infra-estru-
tura, e de uma liberal politica de distribuigdo de terras, que auxiliaram
22 Introduga@o
a desafogar a situagdo de pressdo em que se encontravam os comer-
ciantes portugueses.
Excepcionalmente, os comerciantes portugueses continuavam
participando, em Pequena escala, do comércio importador através de
sua associagdo com firmas britanicas. Funcionavam como "testas-de-
ferro" prestando servigos para firmas inglesas, fosse como subterfigio
para aplicacdo de capitais onde lhes era vedado, fosse para facilitar a
importagdo e distribuigéo de mercadorias no mercado local’®, .
A pressio que procedia do interior, ao que tudo indica, agia de
modo considerdvel sobre o mercado carioca. Pode-se perceber a disputa
pelo dominio do mercado através de amplo debate travado no interior
do Senado da Camara do Rio de Janeiro. Comerciantes portugueses e
outros setores tradicionalmente instalados no mercado desferiram
ataque cerrado contra os intermedidrios — termo genérico que, no mais
das vezes, era empregado pejorativamente para discriminar os novos
comerciantes que disputavam parcelas do mercado.
Tal como sera descrito ainda no primeiro capitulo, o ponto
critico dessa disputa rompeu-se quando da quebra do regime de
contratacao da distribuicdo das carnes verdes. Em 1823, d. Pedro
liberava 0 comércio da carne, e o setor abastecedor conquistou
significativa vitéria, consolidando-se de vez no mercado.
Sugestivamente, sera a partir de 1826, na retomada dos traba-
lhos da Assembléia Legislativa, que a atua¢ao parlamentar dos repre-
sentantes do abastecimento se intensificara, para transbordar-se na
participagdo ativa que cumpriram nos eventos associados 4 deposi-
¢40 do imperador.
Nessa oportunidade, a oposi¢4o aos comerciantes portugueses
se alastrara, convertendo-se mesmo numa frente de luta popular. A
penetracao comercial e politica dos proprietarios do interior fazia-se
em meio a um contexto tomado de tens6es, cuja face mais radical se
mostrou nas arruagas, saques a casas comerciais, acompanhados da
resposta de caixeiros e comerciantes reindis.
O tema da nacionalizagaéo do comércio veio 4 tona, mas os
politicos representantes do setor abastecedor, agora assegurados no
mercado, buscaram esvaziar a discussio e arrefecer as posicdes
radiciais, temendo que tal situagdo extrapolasse para outras também
susceptiveis de participagao popular. Nao ha pois que se surpreen-
der diante do gesto contemporizador assumido pelos moderados
quando, circunstancialmente, buscou-se a adesao politica dos pré-
prios comerciantes portugueses para fazer frente a ascensao do movi-
mento popular.
O carater politico a que se quer chegar com a presente investi-
gacao reaparece no estudo do que se convencionou chamar de
politica de integragéo do Centro-Sul™. Por integragdo entende-se
aqui 0 processo de articulagao mercantil desenvolvido entre as areas
produtoras e o mercado consumidor, viabilizado pelos meios de
comunicagio existentes entre os dois pélos. Fica claro, portanto, que
a integracdo péde ser efetivada a partir da ordenacdo do fluxo
regional do excedente produzido e absorvido pelo mercado carioca.
Introdugao 23
DA-sé, no entanto, que a integragdo — um dado prioritario —
podia, como o foi, ser utilizada politicamente para diferentes fins.
Desse modo, interessa entendé-la inicialmente como o objeto de
investiga¢ao, como nucleo informante da pesquisa. E vazada concei-
tualmente, ela dever4 acionar teoricamente a temAtica abastecimento.
O passo seguinte sera associd-la 4 necessidade de fundamentagdo
das bases politicas do Estado no Centro-Sul. A administragao joanina,
por exemplo, empenhou-se em alicergar suas bases politicas no Rio de
Janeiro, utilizando, como um dos instrumentos primordiais, a busca da
regularizacdo do mercado da Corte. A nova conjuntura aberta apés 1808
expds o mercado carioca em expans4o a conviver com crises intermiten-
tes de abastecimento, impelindo o regente a incentivar a produgdo de
géneros de primeira necessidade, bem como a resolver 0 problema do
escoamento das mercadorias, dada a insuficiéncia de meios de comuni-
cacao interna. Decisdo de 1° de dezembro de 1815, por exemplo, visava
incentivar a produgio e o comércio da regio de Valenga, entre o Sul de
Minas e 0 mercado da Corte’’. Outras medidas de igual importéncia
foram tomadas no sentido de abrir e preservar novas vias de comuni-
cago, a fim de que fosse regularizado o fluxo de mercadorias para 0
mercado do Rio de Janeiro.
Através do. desdobramento teérico do conceito de integragao,
serio englobados fenémenos que passam a ganhar uma significagao
mais ampla. Desse modo, a organizagao da produgao e a comerciali-
zacgao dos géneros de primeira necessidade no interior do Centro-Sul,
a ocupacdo, distribuicdo pelo Estado e concentracao de terras nas
faixas em que emergiria a economia cafeeira, a abertura de estradas
para a regularizag4o do fluxo de mantimentos para o mercado carioca
integram um conjunto de transformagées que, em Ultima instancia,
subsidiam a formagao das bases estruturais do Estado nacional.
O nicleo central destas consideragdes prende-se, pois, 4 tese
de como a integragéo do Centro-Sul atuou como mecanismo de
modelagio das bases s6cio-econdmicas do Estado nacional, tendo
como pré-requisito o fluxo do excedente comercializado regional-
mente e orientado para atender 4 demanda consumidora da Corte
sediada no Rio de Janeiro.
Pode-se mesmo afirmar que, até os anos 30, quando somente
entdo o café deslanchou e passou a conduzir a expansao econémica
do Centro-Sul, a economia mercantil de subsisténcia ocupou um
espaco vital no crescimento das forgas produtivas da regiao, apoiada
na exportacdo do seu excedente para 0 consumo da Corte.
Avancando esta argumentacao um pouco mais: a propria colo-
niza¢do do Vale do Paraiba e a expansdo da economia cafeeira foram,
basicamente, lastreadas sobre recursos egressos do setor de sub-
sisténcia mercantil. As rotas de abastecimento facilitaram a pene-
tracdo e colonizacao da regido, cujas estradas foram povoadas prin-
cipalmente para dar cobertura aos tropeiros e viajantes que por ai
transitavam. Isto para nao falar no contingente migrante e no capital
oriundo das zonas mineiras em crise e das 4reas abastecedoras pro-
priamente ditas.
24 Introdugdo
Apurou-se, no desenrolar da pesquisa, um importante
movimento de mudangas sociais na regiao, em que despontaram dois
grupos distintos de proprietérios que, aos poucos, passaram a apre-
sentar comportamento politico também distinto entre si.
O primeiro grupo apontado, o abastecedor do mercado carioca,
crescia politicamente em nivel local e provincial, mas, no Ambito da
Corte, era barrado por um processo seletivo de nobilitagao e arregimen-
taco burocraticas, geralmente efetivadas nos escaldes do alto comércio.
Isto foi uma constante nos governos de d. Jodo VI e de d. Pedro I.
O Sul de Minas, principal nacleo produtor, contribuiu decisi-
vamente para a composi¢Ao social e politica deste grupo. Mas ele era
também extensivo a outras regides mineiras, paulistas e fluminenses,
onde, por sinal, torna-se dificil, 4s vezes, precisar os limites entre
producgdo mercantil de subsisténcia e produgao mercantil tipica de
exporta¢ao.
O outro grupo procede da Corte e foi recrutado principalmente
no alto comércio, nobreza e alta burocracia de estado. Gracas a uma
politica "generosa" de d. Joao, também levada adiante por seu filho,
vasta extensado de terras foi doada a poucas e ricas familias da Corte.
Complementando a tendéncia, varios comerciantes compraram terras
na regido do Paraiba, investindo na produgdo, em parte para escapar
4 pressdo exercida pelos ingleses no comércio do Rio de Janeiro.
Ja foi observado que a proje¢do politica do primeiro grupo nao
se fez de modo rapido. Pode-se também dizer que ela se fez descom-
passadamente em relacao 4 penetra¢gdo dos produtores no mercado.
Isto significa dizer que enquanto o abastecimento integrava 4reas
produtoras e seu mercado consumidor, a projeg4o politica do-setor
abastecedor ndo se fazia de maneira correspondente. O ajuste se
consumaria em 1831, oportunidade em que politicos interioranos das
zonas abastecedoras despontaram e conduziram as liderancas da
classe como um todo no processo politico.
O segundo grupo apresenta tragos de evolucgao curiosos.
Primeiro porque evolui do comércio para a produgao agricola de
agicar e café principalmente. Segundo porque, sendo esteio do
Estado no Primeiro Reinado, foi apeado do poder pelo movimento
de 1831 que depés o imperador.
Nos anos 30, no entanto, pds-periodo de acomodagdo com
outros contingentes sociais, 0 grupo formado na regiao cafeeira do
Vale do Paraiba ganhara identidade prépria e constituir-se-4 na base
social do movimento regressista e, portanto, do conservadorismo no
Brasil. Em outras palavras, 0 entéo grupo de altos comerciantes,
nobres e burocratas, identificados com o governo imperial, volta ao
poder, lastreado na propriedade escravista de café, fundamentando
o Regresso e as bases infra-estruturais do Estado nacional.
Julgo ser importante a descrigdéo deste quadro, na medida em
que apresenta outra vertente interpretativa da construgdo do Estado
nacional em sua etapa inicial. Geralmente, a historiografia, sob an-
gulo juridico, detém-se na idéia do Estado importado, marcado ape-
nas por tragos de permanéncia do que imigrou da metrépole, ten-
Introdugao 25
dendo 4 imobilidade. O movimento social aqui apresentado mostra
um outro lado da quest4o, mais rico e esclarecedor, apresentando 0
Estado em formagdo de face materializada, isto é, classista, em trans-
formacgao determinada pela expansio s6écio-econémica do pdlo
dinamico do pafs, o Centro-Sul.
Este estudo nado despendera cuidados especiais com a anilise
da pratica politica e dos postulados ideol6gicos basicos dos politicos
representantes do setor abastecedor e dos liberais moderados, grupo
politico mais amplo de que faziam parte. Isto implicaria desenvolver
‘um outro estudo, dada a especificidade e alcance do objeto em si.
Ensaiarei, no entanto, analisar 0 crescendo da participagao
politica dos principais lideres, os padres José Custédio Dias e José
Bento Ferreira de Melo. Este, em particular, recebera aten¢do espe-
cial, em vista de sua atuagdo dinamica na imprensa, no legislativo, na
administra¢4o provincial, na articulacgdo do grupo e na proposi¢ao de
teses politicas caras 4 gestéo moderada.
De resto, adiantarei algumas reflexdes sobre certas situagGes
politicas e ideolégicas, sempre que privilegiaveis, relativas ao desem-
penho dos liberais moderados enquanto agrupamento politico. Bus-
carei perceber, em termos de dura¢do mais longa, e no nivel da classe,
a funcdo que cumpriram para ela. Nesse sentido, eles nao se diferen-
ciavam radicalmente dos regressistas que os sucederam no poder.
Cumpriram, em momentos diferentes, os objetivos que a classe pro-
prietaria como um todo exigiu deles, seus representantes.
Uma outra face deste livro apresenta também preocupagées
alternativas, desdobramentos refletidos de elementos cultivados ao
longo da pesquisa. Refiro-me ao intento de levar adiante algumas
proposicées classicas de Sérgio Buarque de Holanda, preocupado em
recuperar a figura do comerciante, visto comumente na historiografia
como uma categoria social secundarig em relacdo a supremacia e a0
predominio da aristocracia fundiaria’*.
Conforme foi apresentado no transcorrer desta introdugao, nao
€ raro que o proprio setor mercantil ensejasse a acumulacdo de
capitais necessarios 4 ampliacgdo dos negécios, como a compra de
terras e 0 investimento na produ¢do agricola. No caso do povoamento
de larga faixa situada entre.o Sul de Minas e a capital, comerciantes
da comarca do Rio das Mortes, particularmente de Sao Jodo del-Rei,
e comerciantes do Rio de Janeiro penetraram pelos dois flancos na
regido, convertendo-se nos seus principais proprietarios. Dedicaram-
se a producdo de géneros de subsisténcia, agacar e, depois, o café.
Nessa linha de pesquisa, propde-se demonstrar a projegao do
comerciante ligado ao abastecimento, observando como ele tem sido
visto apenas enquanto categoria secundaria em relacdo a dos pro-
prietarios rurais e dos burocratas da Corte. Nao se pretende inverter
a relagéo estabelecida entre as citadas categorias; registra-se, na
verdade, sua justaposigao em relacdo as demais, ensejando uma
tipica relagdo de complementaridade sécio-econémica.
No universo rural, acontece algo semelhante com a _relagdo
proprietarios de terra/tropeiros. Neste caso também.se manifesta a
26 Introdugdo
relacéo de complementaridade: 0 tropeiro aparece como um prolon-
gamento da categoria social matriz ~ proprietario de terras — ja que,
requientemente, além de dar conta da produgio, o proprietario é ele
mesmo 0 comercializador dos seus proprios produtos.
D4-se aqui, em especial no nivel da identificagdo social, o
mascaramento dessa categoria "menor" — 0 tropeiro — escamoteada
pela categoria proprietario rural. Interessante anotar que os politicos
representantes do setor abastecedor, quando em etapa de ascensio
social e politica, apresentavam-se apenas como proprietarios, geral-
mente escudados também por titulos académicos ou eclesiasticos. O
tropeiro e comerciante, que muitos eram ou tinham sido, por ser
tomado como categoria social menos nobre, passava, sub-repticia-
mente, nos registros da memoria hist6rica, para 0 ocultamento.
E significativo, neste momento da introdug4o, apresentar uma
discussdo que foi de capital importancia para a evolu¢do desta pes-
quisa, Para desenvolvé-la, foi-me necessario defrontar com um de-
safio tedrico que, se nao superado, comprometeria todo o objeto e
corpo da pesquisa. Ao desenvolver um estudo de comércio interno,
numa época em saindo da experiéncia colonial, e imerso no bojo de
uma sociedade escravista, deparei-me com a necessidade de formular
um objeto teoricamente vidvel que tivesse autonomia e respaldo para
a pesquisa histérica.
Ao se referir 4 economia de subsisténcia em geral, a histo-
riografia sempre a tem relegado a um plano apenas subsididrio da
economia de exportacao, constituindo, portanto e apenas, um pdélo
complementar 4 economia de exportagao.
Quase sempre a economia de subsisténcia é vista como carac-
terizada por baixa produtividade e rentabilidade; comumente € ca-
raterizada como uma economia de natureza fechada e tendente a
auto-suficiéncia. As formas de trabalho nela empregadas tendem a
diferencid-la da economia de exportag4o: nesta utiliza-se extensi-
vamente.o trabalho escravo; naquela € mais comum o emprego de
formas n4o escravistas de trabalho.
Avancando um pouco mais: o carater subsidiario determina-lhe
o desempenho, atuando como um bolsdo que acompanha o funciona-
mento da economia de exportac¢ao. Na etapa de expansao das expor-
tag6es, restringem-se a 4rea e os recursos produtivos da economia de
subsisténcia, carreados para o outro setor produtivo. Quando do
refluxo das exportagGes, 0 processo se inverte. Os fatores produtivos
transferem-se para a economia de subsisténcia que tende a inflar.
Como o conjunto da sociedade e da economia é marcadamente
escravista, o mercado fica estruturalmente travado, Nao ganha corpo,
o que significa impedimento para 0 escoamento e a mercantilizagao
do excedente dos géneros de subsisténcia.
Corretamente aplicado ao conjunto do complexo agucareiro,
este esquema te6rico nado se adequa a aplicag4o do objeto que ora se
apresenta, Dai a necessidade de formulagao de um corpo conceitual
novo que dé conta do carater mercantil dessa economia de subsistén-
cia aberta e voltada para mercado interno.
Introdugao 27
A contribuicdo historiografica para a composi¢do desse objeto
é desigual e carece de triagem analitica. {Im representante da histo-
riografia tradicional, Roberto Simonsen’, detém-se em considera-
¢Oes que tomam a economia de subsisténcia mineira, apds a crise da
minera¢d4o, apenas como uma sombra da economia de exportacdo. O
autor enfatiza somente os cortes histéricos "mineragdo" e "café", e
registra um vazio de histéria entre eles. Dado que a mineragao estava
agonizante e a economia cafeeira ainda nado havia despontado, o
"pais" teria que esperar por uns cinqlienta anos para retomar 0
"progresso" que somente retornaria com 0 café (p.192-4). A produgdo
pecuarista mineira era de significagao econémica menor € 0 Rio de
Janeiro "quase que um oAsis no deserto empobrecido do Centro-Sul
brasileiro" (p.294).
Nao é dificil inferir do pensamento do autor uma atribui¢gdo de
nao-hist6ria para o desempenho da economia de subsisténcia. No
pensamento de Simonsen, somente a economia de exportagao é
geradora de riquezas e faz historia. Desse modo, 0 Centro-Sul da
colénia vivia uma experiéncia de vazio que somente cessaria com a
aproximacao de outro produto de exportagao, o café.
Também na obra de Furtado repete-se a quem de
Simonsen, para nao dizer de uma aplicagdo ainda mais rigida’’,
Furtado atribui, na crise da mineracao, a formagéo de um en-
cadeamento de etapas - quebra da produgao, atrofiamento da
economia monetiria e descapitalizagdo — que somente estancariam
na economia de subsisténcia, de "baixissima produtividade". Endos-
sam estas observagées a decadéncia das cidades, a dispersdo da
populaco e a involucao geral da economia (p. 84-6).
Tentando recuperar a historicidade do processo pés-crise da
mineracdo até a gestacdo cafeeira, o autor ressente-se dos resultados
da aplicacdo de seu esquema teGrico, j4 que precisava contar com a
"formagao de um grupo de empresdrios comerciais locais" originado
do "comércio de generos e animais", Cujo centro de produc¢4o estava
"localizado no Sul de Minas como reflexo da expansdo da minera¢ao"
(p. 115).
Resta perguntar se a relagdo estabelecida pelo autor entre a
economia mineira e a gestagdo do café pode repousar sobre 0 con-
ceito de subsisténcia que o proprio autor formulou anteriormente ”.
O café se expandiria decisivamente na terceira e quarta décadas do
século XIX e o deslocamento de recursos da economia de subsistén-
cia nao poderia se efetivar sem que esta mantivesse um grau regular
de produtividade e rentabilidade.
A parte dos dois autores comentados, ressalta-se a percep¢do
singular de Caio Prado Junior’ que, apoiando-se em fontes primarias,
ja notificara sobre a situag4o especifica da economia de subsisténcia
mineira, em especial a do Sul de Minas no conjunto da economia
colonial. O autor apreendeu o seu carater aberto para mercados, cap-
tando também o movimento que a produgdo de subsisténcia realizou
em busca de novos mercados apés 0 refluxo da minera¢do.
28 Introdugao
Mais recentemente, Kenneth Maxwell avancou significativa-
mente. pa discussdo, contribuindo para a reviséo da problematica em
pauta’®. O autor desmistifica o quadro negro da crise da mineracdo,
observando a persisténcia de um comércio ativo entre as comarcas
mineiras e a capitania de Minas com 0 Rio de Janeiro, como também
a manutengdo dos niveis de arrecadagao dos dizimos. A sociedade
mineira resguardara seu carater essencialmente urbano, e sua estru-
tura econémica demonstrara capacidade de absorver o impacto da
crise (p.112).
O autor releva, em especial, a dificuldade que a capitania apre-
sentava em importar o ferro e a pélvora (pode-se acrescentar o sal),
cujos pregos eram agravados pelas entradas, nao acreditando no
alcance das exportagGes para o Rio de Janeiro e no conseqtiente
financiamento do comércio de retorno, ficando a economia mineira
“encerrada em sua propria espiral descendente autoperpetuadora"
(p.113). Se havia uma pressao para substituir as importagGes, resta
perguntar por que ela nao se efetivara. Além das imposigoes restriti-
vas do pacto colonial, por que nao buscar uma explicagado centrada
na prépria estrutura econémica, cuja reordenag4o incentivara a ex-
portagao do excedente de subsisténcia e da produgao de algodao e
tabaco que garantiam o financiamento do comércio importador?
Fora do terreno dos estudos de Hist6ria, € preciso citar a con-
tribui¢do de Paul Singer’”, que ressaltou a importdncia econdémica das
atividades ligadas a subsisténcia no contexto da mineragdo. Basean-
do-se em dados conjeturais, Singer estimou que o setor de abasteci-
mento em Minas absorvia 4/5 da populagio ativa, fosse na produ¢ao
ou comercializagdo ou mesmo no artesanato (p.204).
Ja no contexto pés-crise, o autor nao escapa das coordenadas
utilizadas pela historiografia tradicional, ainda que isso se dé por raz6es
diversas. De um lado, o autor frisa 0 "isolamento relativo de Minas", "sem
mercado para seus excedentes de produc4o" (p.205). De outro, registra
© escasseamento dos recursos de importagao “decorrentes da redugio
da renda proporcionada pelo setor de mercado externo". Desse modo,
a economia de subsisténcia se desenvolvia sem condigées de sustentar
um intercambio regional e 'retinha os novos contingentes de populagio
através da agregacao de novas terras (p.205).
Muito préxima da linha do presente livro encontra-se a con-
tribuigao de Jacob Gorender’’, que fundamentou esta discussio em
fontes idénticas 4s que selecionei. Apoiando-se basicamente em ob-
servagoes de Saint-Hilaire buriladas por Caio Prado Jinior, Gorender
aponta inicialmente o carater de concomitancia existente entre a
agropecudria e.a minera¢do, Assinala também a manuténc¢4o da estru-
tura escravista de produgdo para a economia de subsisténcia mineira,
organizada 4 base de grandes propriedades escravistas "produtoras
de géneros alimenticios consumidos no mercado interno" (p.448-9).
Vale a pena ressalvar no texto o que se denomina de "recon-
versdo 4 agropecu4ria". O autor sugere ter havido um interregno entre
a crise da mineragZo e o posterior "processo de reconversao" a
agropecudria. Levando-se em conta a afirmacgao de que havia "con-
Introdugaéo 29
comitancia aproximada" entre a economia de subsisténcia e a mine-
ragdo, deve-se afirmar que, com a crise da segunda, a economia de
subsisténcia teria sido diretamente beneficiada com o necessario
deslocamento de recursos”’. Nao se trata pois de um "processo de
reconversao" e sim de continuidade de expansao da economia de
subsisténcia, nutrida pela relagdo dinamica que estabelecia com a
economia mineradora™.
Os principais elementos retidos desta revisdo bibliografica ga-
rantem para 0 conjunto da economia de subsisténcia sul-mineira a
formulac4o de caracteristicas que imprimem sua identidade. Trata-se
de grandes propriedades escravistas voltadas para o abastecimento
interno, Criada para o abastecimento das Gerais no século XVIII, a
economia regional manteria a mesma natureza através do direciona-
mento do fluxo do seu excedente para o mercado do Rio de Janeiro.
Ha pontos especificos de organizagdo da produgdo e da circu-
lag&o que serao pormenorizados ao longo do livro. Merece ja ser
destacado o seu carater de complementaridade descrito por Saint-
Hilaire, que facultava 4 propriedade sul-mineira de subsisténcia re-
duzir os custos e ampliar sua rentabilidade. Isto se devia em grande
parte ao fato de que as préprias familias proprietarias convertiam-se
elas mesmas em comercializadoras de sua produgao através das
tropas e das casas urbanas de comércio. 7
Da mesma forma, as grandes propriedades do Sul de Minas apre-
sentavam-se também como est4ncias, fazendas intermediarias que, além
de se dedicarem a produg¢4o, especializavam-se na busca do excedente
regional para revendé-lo nos mercados consumidores, Este esquema era
responsavel pela apropriagdo da parte mais significativa do excedente
produzido regionalmente, ensejando a formagao de grandes casas
comerciais, até mesmo no Rio de Janeiro, que,cresciam auto-sustentadas
pelo capital proveniente das fazendas estancieiras™.
Cabem aqui, nesse passo, algumas consideragdes sobre o
histérico da pesquisa. Para que lhe fosse dado-curso, percorreram-se
diferentes etapas de trabalho nem sempre imunes a problemas meto-
dolégicos que dificultavam e enriqueciam o seu caminhar.
O levantamento de fontes secundirias veio demonstrar a lacuna
em que se encontram os estudos de abastecimento. Com excegao de
poucas obras, e com referenciais diferentes. dos deste estudo, pouca
produgdo tem surgido no setor. Estes antecedentes bibliograficos
problematizaram ainda mais 0 projeto desta pesquisa, preocupada
em circunscrever o abastecimento numa perspectiva que ultrapas-
sasse os limites de uma monografia de hist6ria econdmica.
O passo seguido deteve-se na compulsdo dos registros de leis,
decretos, alvaras do governo imperial do Brasil através do que fui
montando 0 quadro da crise do abastecimento, procurando'captar os
seus condicionamentos estruturais.
Reforcei essa busca na leitura dos textos narrativos dos viajantes
de onde pude retirar outros nicleos de informagées, principalmente
as relacionadas com o abastecimento da capital, com 0 comércio 4
30 Introdugao
beira de estradas e com as 4reas produtoras e comercializadoras de
sua propria produgao.
No Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, travei contato com
diversificada. documentacdo manuscrita e com as Atas do Senado da
Camara do Rio de Janeiro. Desse material isolei informes relevantes
sobre a estrutura do mercado carioca, sobre o comércio atacadista e
varejista, sobre o comércio distribuidor da carne, sobre as casas de
armazeneiros e correspondentes dos produtores do interior, sobre a
produ¢do das chacaras pr6ximas da capital.
No Arquivo Nacional do Rio de Janeiro vasculhei uma diversi-
dade de pacotes de documentos referentes 4s obras da Junta do
Comércio sobre estradas, pontes, canais. Através desta documen-
tacdo fui percebendo como a construg4o das estradas se constituiu
em veiculo de normalizagdo das condigédes de abastecimento do
mercado carioca e da projetada acdo integradora do Centro-Sul.
JA os régistros de sesmarias permitiram-me montar um quadro
associativo das ‘obras pUblicas erigidas no compasso dos interesses
particulares em vias de instalagdo na regido,
Ainda no Arquivo Nacional, trabalhei massa documental agre-
gada em dois codices”, fornecedores de fértil material para o exer-
Cicio de andlise s6cio-histérica. Deles pude fazer algum levantamento
estatistico que fornecesse um referencial sobre o excedente das
exportagdes mineiras. 7
Para a composigéo do capitulo 5, a matéria jornialistica foi
imprescindivel. A pesquisa de periédicos ficou concentrada na Bibli-
oteca Nacional do Rio de Janeiro e no Arquivo Pdblico Mineiro, em
Belo Horizonte. .
Convém assinalar a dispersdo das fontes arroladas no decurso
da pesquisa. Tais condigdes de trabalho retardavam o amadure-
cimento das sinteses procuradas. Ocorre que isso nao podia ser
evitado, na medida em que os objetivos a alcangar exigiam exercicios
de investigagdo que transpusessem os limites da busca de novos
dados. Tratava-se, além do mais, de um trabalho que me desafiava a.
transitar de niveis de reconstrucdo histérica, passando pelo eco-
némico-social, para desembocar no nivel do politico, visando a de-
monstrar a projecdo do setor associado 4 produgdo de subsisténcia
mercantil mineira no cen4rio politico do Centro-Sul. :
Finalmente, as balizas: 1808, por certo, diz respeito ds mudangas
introduzidas pela vinda da Corte e 4 conseqiiente quebra do "exclu-
sivo" colonial. Interessa-me especialmente levar em conta as trans-
formagées incididas sobre o mercado consumidor do Rio de Janeiro;
1831 constitui uma inflexao marcante, momento-em que a producdo
cafeeira ja comecgava a deslanchar, mudando, qualitativamente, a
questdo do abastecimento. De outro lado, 1831 também é 0 ano da
ascensdo politica dos liberais moderados, dentre os quais'se faziam.
representar os proprietarios e comerciantes ligados ao abasteci-
mento; 1831 também pode ser tido como um ano suficientemente
distante para se perceber o fazer-se da politica de integrac4o iniciada.
com d. Joao VI.
Introdugdo 31
Mas 1837 também inflete decisivamente, por situar a ascensio
politica do Regressismo, demarcando a projegao oficial do conser-
vadorismo. Este estudo fica, no entanto, com o marco final de 1842,
data da derrota das revolugées liberais de Minas e Sao Paulo, baliza
que da conta do processo de ascens4o e descenso dos moderados e
lo refluxo politico do setor abastecedor do mercado da Corte.
NOTAS:
aw
erNaYW
12.
. Ver ZEMELLA, M. 1951, a obra mais expressiva. Nesse conjunto,
merece citagdo o estudo de ELLIS, M.1960.
. PETRONE (1976) avanga significativamente no setor. Sua biblio-
grafia fornece inclusive os estudos mais importantes j4 realizados
sobre essa tematica.
. LINHARES, M.Y.L. 1978, mimeo.; MATTOSO, K.M. de Q.1978.
. Santos, Itaguai, Ilha Grande, Macaé também exportavam acicar; 0
arroz provinha principalmente de Itaguai, Ilha Grande, Cananéia,
Iguape; 0 feijao era exportado principalmente por Parati e Cabo Frio;
o milho, por Parati, Santos, Cabo Frio e Guaratiba; a farinha de
mandioca por Parati, Guaratiba, Caravelas; o café por Parati, Itaguai
e Ilha Grande; toucinhos provinham de Parati e Santos. Campos
exportava mel e Parati, fumo. .
Tanto para o primeiro quanto para’o segundo grupo, as fontes
consultadas foram: AGCRJ. Livro de entradas das embarca¢Ges neste
porto do Rio de Janeiro, anos de 1809 a 1818; LOBO, E.M.L. 1978, v.
1, p.83-91; LUCCOCK, J. 1975, p.402-10. :
. GORENSTEIN, 'R. 1978, p.47.
. Ibidem, p.38-56.
. MARTINHO, L.M. 1977, p.16-7; GORENSTEIN, R.1978, p.15-6. °
. Maria Odila da Silva Dias, citando Marrocos, refere-se a investimen-
tos que José Egidio Alvares de Almeida e Anténio de Aratjo, em
sociedade, fizeram no Rio Grande do Sul.
Ver DIAS, M.O. da S. A interiorizagdo da metrépole: 1808-1853 in
MOTA, C.G. Corg.), 1972.
. DECISOES do governo do Império do Brasil: 1808-1816. p.1."
10.
11.
GORENSTEIN, R. 1978, p.18.
Ja Maria ‘Odila da Silva Dias, em seu ensaio citado, trabalhou o
conceito de integragdo e sugeriu estud4-lo através do comércio
interno voltado para o abastecimento do Rio de Janeiro. Nessa
perspectiva, o abastecimento passa a ser visto como um dos instru-
mentais adequados ao estudo do que a autora chamou de "inte-
riorizagao da metrépole", efetivada pelo enraizamento da Corte na.
colénia. Op. cit., p.171.
DECISOES do governo do Império do Brasil: 1808-1816, p. 36.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
Introdugao
Conferir especialmente HOLANDA, S.B. de. Sobre a doenga infantil
da historiografia in O Estado de S. Paulo, 24 jun. 1973 e PETRONE,
M.T.S. 1976, Prefacio.
SIMONSEN, R. 1969. Parte desta critica historiogr4fica j4 foi efetivada
em artigo de minha autoria, recentemente publicado. Cf. LENHARO,
A. Rota menor: 0 movimento da economia mercantil de subsisténcia
no Centro-Sul do Brasil (1808-1831) in Anais do Museu Paulista,
1977/8, t. XXVIII, principalmente a p. 33.
FURTADO, C. 1970.
Cf. LENHARO, A. Rota menor..., p. 33-4.
PRADO JR., C. 1970, p.57, 162, 197-8.
MAXWELL, K. 1978.
SINGER, P.1974.
GORENDER, J. 1978. Cf. o item 4: "A economia posterior 4 mine-
ragao", cap. XXI, p. 447-50.
Conferir em LENHARO, A. (Rota menor..., p. 32-5), uma visdo dife-
rente da crise que beneficiou nao sé o desenvolvimento da pecuaria
como do tabaco e do algodao e estimulou a migragdo regional,
incentivando a formagdo de novos nicleos produtores de subsistén-
cia em Minas e no Vale do Paraiba, onde também favoreceu poste-
riormente o despontar da economia cafeeira.
A divisio do trabalho nas fazendas mineiras, as fazendas mistas,
como as denomina Miguel da Costa Filho em A casa-de-agticar em
Minas Gerais, 1959, favorecia o deslocamento de recursos de um
setor produtivo para outro. As fazendas mistas eram organizadas de
modo a conjugar mais de um setor de producdo, geralmente’ mine-
ragdo ¢ subsisténcia, 4s vezes incrementados pela produgao de
agtcar, algodao, tabaco ou mesmo de géneros artesanais.
Os niveis de apropriagdo desse excedente aparentaram ser de
grande monta para Francisco de Oliveira, em Eles fegia para uma
re(li)gido (1977). Este autor aponta o caso especifico do capital
gerado pela economia de subsisténcia mineira como um dos niicleos
bancrios que foram barrados pela proeminéncia do capital inglés e
norte-americano. Esse capital mercantil forma-se "apropriando, na
esfera da circulagdo, o excedente do produto social da economia
agricola e pecudria de Minas em sua passagem para o abastecimento
de outras regides do Brasil, notadamente o Rio de Janeiro, e
comecava a desviar-se para financiar 0 café" (p. 63).
Cédice 419: Registro de tropeiros vindos do interior com tropas em
geral e guias de registros (1829/1833); cédice 421: Registro dos
tropeiros vindos de varias localidades (1809/1831).
Capitulo 1
O ABASTECIMENTO DA CORTE APOS 1808
O ano de 1808 tem aparecido nos estudos de Hist6ria como um marco
impar. Além de significar 0 ato final da quebra do "exclusivo colo-
nial", através da fixagao da Corte no Rio de Janeiro, representa
também um avango significativo da internalizacdo do capital nativo
no Centro-Sul. Estas novas condigées deram margem a formagao de
um processo econémico especifico na regiao, cujos resultados per-
mitiram a expansio da economia cafeeira, com conseqtiente re-
crudescimento do trabalho escravo.
Para 0 alcance deste trabalho, 1808 serve de baliza, principal-
mente no tocante as transformagées que o comércio de abaste-
cimento do Rio de Janeiro sofreu sob o impacto das mudangas
decorrentes da instalagdo da Corte no Centro-Sul.
Apdés 1808, 0 movimento mercantil de géneros de primeira
necessidade voltado para mercado interno solidificou-se. As transfor-
magées que tomavam conta do mercado carioca acabaram por definir
0 Rio de Janeiro como 0 pélo drenador de géneros de abastecimento
do Centro-Sul.
De fato, ampliaram-se as proporgdes da demanda no mercado
consumidor carioca, aumentando sensivelmente as necessidades
basicas da populacdo. O crescimento demografico na Corte a partir
de entdo se manteve, o que nao foi devido somente a imigragdo de
nobres e acompanhantes da familia real’.
Além de dispor dos recursos peculiares de um centro politico-
administrativo, a Corte constituia-se no mais importante entreposto
comercial de todo o Centro-Sul e, portanto, era ponto de atracdo e
repulsao de populaco, o que garantia um significativo deslocamento
de pessoas em todas as €pocas do ano. Em termos de consumo, vale
também considerar os novos padrées instituidos pela presenga de
delegacées diplomaticas e altos comerciantes, além dos estratos buro-
craticos e militares ali estabelecidos.
De resto, nao é desnecess4rio apontar outros servicos prestados
pela cidade, entre eles as atividades de seu porto. O Rio de Janeiro
era ento o maior centro de importac4o/exportacao do pais, polari-
zador da producdo das regides circunvizinhas, além de entreposto de
géneros oriundos do Sul, do Prata e da Africa portuguesa. Um nimero
significativo de navios aportava no Rio de Janeiro para ai se abaste-
cerem. O movimento do porto se completava com a redistribuigado
para outros centros de consumo de uma parte de suas importa¢ées,
33
34 O abastecimento da Corte apés 1808
efetivada através da cabotagem e do comércio interior, estruturado
sobre a organizagaéo mercantil das tropas de mulas.
Nessa linha de consideragées, é facil perceber que as transfor-
mages desencadeadas apds 1808 significaram um acimulo de
servigos para o mercado carioca, cujas novas condi¢ées de funciona-
mento extrapolgvam as anteriores, saturando seus limitados recursos
de organiza¢do’.
Evidencia-se o acanhamento das fontes abastecedoras do mer-
cado carioca através das providéncias que o principe regente re-
comendou antes de se instalar no Rio de Janeiro, Ordens foram
expedidas para os portos e capitanias mais prOximos do Rio de
Janeiro para "socorrer a cidade de mantimentos". O gado e os porcos
remetidos livremente pela populagao deviam ser encaminhados.a
fazenda de Santa Cruz onde o regente, disporia, de acordo com as
necessidades, das doagdes acumuladas”.
De Minas desceu consideravel quantidade de cavalos, bestas,
gado vacum e porcos, cujas remessas eram organizadas pelo préprio
governo da capitania, Num oficio de 8 de marco de 1808, garantia o
governador "terem ja setecentas e tantas cabegas de gado vacum, 250
porcos e outros géneros mais, que espontaneamente tém sido ofere-
cidos pelos povos, e tudo isto ha de ser conduzido com o c6modo
possive) Oo que nao sera com muita brevidade, pela distancia e
longes"’.
Concorria para atender aos pedidos das autoridades a diligéncia
de proprietarios particulares do interior, sem divida induzidos a
ganhar as gracas do regente. Exemplo significativo, que pude arrolar,
‘oi o de d. Joaquina do Pompeu, proprietaria de terras em Pitangui,
nao longe de Vila Rica, onde possuia quatro fazendas de gado, com
aproximadamente trés mil cabegas. Tradicional vendedora de gado
para a Corte, ela fizera também sua remessa para Santa Cruz, con-
tribuindo com duzentas cabegas de gado, através de seu repre-
sentante comercial em Vila Rica, Diggo Pereira de Vasconcelos, pai
de Bernardo Pereira de Vasconcelos’.
Essa politica de provimentos, pautada por um carter tipi-
camente paternalista, nado podia, no entanto, fazer frente 4s novas
condi¢ées de abastecimento. As doa¢ées dos colonos, por mais pron-
tas que fossem, nao eram suficientes para a regularizacao do mer-
cado, cada vez mais dilatado pelo crescimento populacional da ci-
dade. Registram-se, a partir de entdo, sucessivas € continuas.crises de
abastecimento da cidade, tanto de géneros gratidos ou pequenos, que
provocavam, ano apés ano, escassez de produtos, rareados nos perio-
dos de entressafra.
Revendo-se os diferentes momentos de inflexdo das crises de
abastecimento, pode-se chegar 4 conclusao de que o estado de crise
era crénico, tornando-se agudo nas instancias de problemas climati-
cos ou devido 4s instabilidades politicas da Corte. Nao podem ser
negligenciados os desequilibrios oriundos das fontes produtoras de
géneros, como no caso do Rio Grande do Sul, palco de freqiientes
guerras que dificultavam a saida de géneros. Principalmente a capi-
O abastecimento da Corte apés 1808 35
tania de Sdo Paulo via-se prejudicada pela permanente politica de
recrutamento que afetava o setor de distribuigdo, causando preocu-
pagdes as autoridades, como se podera ver posteriormente, através
dos decretos do principe regente, isentando tropeiros e condutores.
V4rias eram as fontes de problemas que afetavam a regulari-
zag4o do abastecimento da Corte. Grande parte dos géneros de maior
consumo = gados, porcos, galinhas, carneiros — procediam de regides
distantes, © que exigia muitos dias de caminhada até 0 Rio de Ja-
neiro”. As estradas eram precarias e as perdas geralmente eram
sempre consideraveis, habilitando para 0 comércio somente os em-
proearics de organizacgio e recursos mais apropriados para fazer
‘rente aos riscos e aos Custos muito altos.
No que toca a produgao de hortali¢as, nao é dificil perceberem-
se as razes da precariedade do seu abastecimento. As chacaras e os
sitios proviam a cidade, mas de modo irregular, devido a falta de
especializacdo para a produgdo de mercado; as chacaras pautavam
por uma producdo doméstica, dispondo os chacareiros do excedente
apenas quando as necessidades da familia estivessem satisfeitas.
Mesmo Os sitiantes, possuidores de propriedades maiores, dispu-
nham de reduzidas ofertas de géneros, j4 que a sua produgdo visava
antes ao.autoconsumo. Além do que, é preciso que se esclarega, seus
parcos recursos materiais e humanos estavam divididos também com
a producio de géneros de exportagdo, o que reduzia ainda mais a
quota comercializ4vel dos géneros de primeira necessidade.
No debate’ pablico qué se abriu com as crises agudas de
abastecimento, boa carga de culpabilidade era imputada aos inter-
medidrios, popularmente conhecidos como "atravessadores", "mono-
polistas" ou “ponteiros". Sem a interferéncia especuladora dos inter-
mediarios, o custo final dos produtos nao chegaria aos excessos
conhecidos. Em alguns casos, eles foram acusados da pratica do "mer-
cado negro", estocando produtos e forcando a elevag4o dos precos.
Através de um requerimento de armazeneiros cariocas dirigido
ao intendente de policia pedindo restituigdo de multas, localiza-se
uma autodenincia de pratica de especulagao efetuada pelos comer-
ciantes cariocas durante 0 ciclo da carestia:
Foi por esta razdo que V. Exa. seriamente atento a tao altos
interesses no ano de 1816, quando os viveres mais ordinarios e
gerais indigenos do pais tocaram, pela sua carestia, o mais
descompassado prego até entdo nao visto, ordenara que os
suplicantes expusessem as vistas ptblicas todos aqueles
géneros a fim de que, traveando-se os portées do monopélio,
fosse facil 4 populagao prover-se do que necessitava com as
diferentes afrontas de prego, e alternativas de escolhat...)’.
Segundo um porta-voz dos interesses ameagados do consumi-
dor, disposto a desmascarar os agambarcadores, estes ocultavam os
mantimentos e faziam "monopélio como pretexto de falta". O almo-
36 O abastecimento da Corte apés 1808
tacé Alexandre Ferreira de Vasconcelos Drumond, indignado por
terem sido comutadas as multas aplicadas a um grupo de armazenei-
ros, exprimiu-se "exemplarmente", deixando transparecer um modo
de se perceberem os problemas que afetavam a regularizagao da
entrega dos produtos ao consumidor:
Que os viveres nZo sejam subnegados por meia diizia de atraves-
sadores que de comum acordo compram aos lavradores para os
aferroalharem em celeiros ocultos, e a,seu solvo imporem o
“ enorme prego com que sangram o povo®.
Este modo de diagnosticar os problemas do abastecimento é
representativo de uma visdo “moralista" da realidade. Ela se apdia na
perspectiva personalista de que os problemas do abastecimento séo
derivados da m4 conduta dos comerciantes, guiados pela prépria
ganancia, negando-se a perceber os sacrificios que impingiam 4
populagao.
Na verdade, essa visio mostra-se incapaz de constatar as trans-
formagées que eStavam tomando conta do mercado, em que a pre-
senga do intermediario ia se firmando gradativamente na estruturac¢ao
dos negdécios. Cada vez mais raros eram os casos de pequenos pro-
prietdrios que tinham possibilidades de acesso ao mercado, em meio
a uma perceptivel tendéncia de concentragéo do comércio, de
abastecimento. Os produtores mais pr6ximos do Rio de Janeiro, como
os contiguos 4 baia de Guanabara, principalmente os que provinham
da regido de Praia Grande (Niterdi) costumavam, por exemplo,
instalar-se nas praias de D. Manuel e dos Mineiros, onde eles pr6prios
podiam escapar 4 acdo dos, intermedidrios, concentrando tarefas e
obtendo acesso ao mercado”.
Entretanto, oO grosso da produ¢gdo que abastecia o mercado
provinha de 4reas distantes. Os cereais eram geralmente produzidos
no litoral e comercializados através da cabotagem. J4 0 gado, porcos,
careiros e galinhas, além do toucinho e queijos provinham do
interior, através do comércio de tropas.
Saint-Hilaire registra sucessivas vezes a presen¢a de “atravessa-
dores" cariocas atuando em diversas frentes de comércio. Buscando
0 produto na fonte, esses intermedidrios obtinham determinadas
regalias, geralmente favorecendo-se de pregos mais baixos, em ope-
ra¢des de moldes monopolistas. Em um de seus comentarios, o autor
nos relata as manobras usadas pelos intermediarios em Cabo Frio,
Costumavam fazer adiantamentos aos agricultores e adquiriam pre-
viamente certa quantidade da colheita. Ao mesmo tempo, aprovei
tam-se do compromisso firmado, passando aos lavradores os pro-
dutos que traziam do Rio de Janeiro, encarecidos pelos impostos
urbanos e, evidentemente, pela distribuigdo concentrada nas maos
de um s6 comerciante’’.
Instalados com armazéns na praia dos Mineiros e nas ruas do
Sabio, Sao Pedro e Violas "da rua Direita para baixo, por onde sé em
O abastecimento da Corte apés 1808 37
casos mui extraordindrios transitam seges, carro¢as", os comerciantes
de géneros de primeira necessidade recebiam barcos 4 comissdo ou
seus prgprios barcos que se movimentavam na orla da baia ou no
litoral fluminense, onde os nicleos de produgdo de géneros de
subsisténcia eram mais consideraveis ".
Oacesso as fontes de produgio era facilitado a esses comercian-
tes através do comércio de géneros de exportagdo, como 0 acucar,
que realizavam conjuntamente com os géneros de abastecimento. No
litoral fluminense, muitos também eram proprietarios de engenhos,
© que vem explicar a facilidade com que conseguiam concentrar 0
comércio na regido. Outros, através de vinculos de parentesco, con-
seguiram, com maior facilidade, irradiar sua acao comercial em dife-
rentes regides.
Os lagos de parentesco constituiam um dos recursos utilizados
para que 0 comerciante estruturasse sua rede de negécios. Via de
regra, O parentesco servia como ponto de apoio para se firmar na
praca comercial; pode-se encontrar uma diversidade de casos em que
© parentg constituia-se na fonte fornecedora dos géneros de abaste-
cimento'’.
Também sao constantes os casos de familias inteiras dedicadas
ao comércio, o que lhes permitia uma associacgao de esforcos e
divisao de tarefas que as Benefi java conjuntamente’’. Apesar de
serem casas independentes entre si, consignavam géneros de uma s6
vez, unificando a obtengao das mercadorias na fonte, quando nao
fossem também parentes os proprios fornecedores. Ha casos ainda
mais singulares, como o de comerciantes que também eram os
proprios proprietérios e que através de suas embarcages organi-
zavam 0 auto-suprimento. Quanto a este particular, os Carneiro Leao,
com suas posses em Campos, e os Gomes Barroso, proprietarios em
Itaguai, s4o exemplos tipicos de uma pratica comercial globalizante,
fechada nas etapas que iam desde a producao a distribuigado.
Nos anos 20, a temftica da crise do abastecimento e a guerra
declarada ao "atravessador" ganhou novos contornos. Uma ala liberal
dentro do Senado da Camara do Rio de Janeiro deu inicio a uma
discussdo menos personalista, afastando os aspectos morais até aqui
enfatizados, para tentar detectar os mecanismos que presidiam o
funcionamento do mercado.
Nao existem monopélios nesta cidade que ocupem 0 nosso
comércio. Estes homens de que vulgarmente se chamam pon-
teiros ou atravessadores so uns correspondentes dos lavra-
dores e roceiros‘a quem estes consignam os seus efeitos para os
venderem(...) os ponteiros sao agentes tao tteis como necessa-
rios ao progresso da agricultura’’.
Este modo de ver o intermedidrio desloca as concepgdes de que
ele se constituisse numa excrescéncia do mercado ou num "mal em
si" ou mesmo num "mal necessario". Ao contrario, o intermediario
38 0 abastecimento da Corte apés 1808
passa a ser visto como um elemento itil, regulador das fungdes de
distribuigdo e equilibrio do mercado. Os liberais nao se preocupavam
exatamente em detectar qual o pivé central dos problemas. Mas além
de desmistificar 0 intermediério como a fonte de todos os males’,
adiantam os principios gerais que, de forma natural, iriam se encar-
regar de dar solucdes as crises do abastecimento. A liberdade de
compra e venda traz 0 progresso, € 0 progresso, por si s6, supera os
obstaculos que se lhe antepdem:
Nés temos bastante e excelentes posturas, e a melhor postura
neste caso é animar, favorecer, proteger e convidar a inddstria
com liberdade dos planos, isengdes de receios, e,gestrigdes €
enfim, com absoluta liberdade de compra e venda’?,
Nenhum fato, no entanto, era tao determinante da caréncia de
géneros de primeira necessidade como o movimento norteador da
economia para a produgdo de géneros de exportagdo. Do agacar ao
café, o mercado carioca sempre esbarrou nestas tendéncias de pro-
du¢4o que faziam deslocar recursos humanos e materiais do setor de
subsisténcia para a producdo de géneros de exportac4o. Quando da
instalagdo da economia cafeeira, a tendéncia se fez ainda mais aguda.
Um depoimento tomado da Camara de Itaguai nos vem esclare-
cer as transformagées operadas na regiao e fornecer dados sobre a
caréncia de géneros de primeira necessidade, no caso, 0 arroz. Dizia
a Camara ser 0 municipio exportador de café, canalizado para o porto
de Mangaratiba; exportava também café e arroz pelo porto de Itaguai,
"jA4 em pouca quantidade, 4 proporgdo do que antes se exportava
deste ultimo género depois do aumento dos pregos do café, cujo
género de agricultura faz o objeto geral de estabelecimento dos
moradores". Na freguesia de Marapicu, onde constava haver "fabricas
de farinha de mandioca, hoje naquele distrito se fabrica para o
consumo dos habitantes desta jurisdi¢ao(...) por se empregar presen-
temenfe a maioria dos seus moradores na mesma agricultura do
café".
Com a irradiagdo da economia cafeeira, 0 aparecimento de
grandes propriedades escravistas especializadas em sua produgdo
determinaram uma restrigdo ainda maior 4 produgdo de géneros de
primeira necessidade, agravando os problemas do abastecimento
carioca. O problema ganhara contornos novos 4 medida que as
mesmas propriedades cafeeiras, abarrotadas de escravos, converti-
am-se em centros de consumo, carentes de géneros de primeira
necessidade’®. Casos extremos deste quadro iriam ocorrer nos inicios
dos anos 50, quando a especializacao da produgdo de café chegava
a niveis ainda mais altos, generalizando a falta de comestiveis a um
ponto de satura¢do.
Para agravar ainda mais o problema do abastecimento local no
Rio de Janeiro,— e isto visto numa perspectiva de dilatagio do con-
sumo urbano" -, acentuava-se uma tendéncia de urbanizaca4o das
Você também pode gostar
- Das Arcadas Ao BacharelismoDocumento193 páginasDas Arcadas Ao BacharelismoGlauber Miranda Florindo83% (6)
- 1 SMDocumento24 páginas1 SMMariana Margarita PandoAinda não há avaliações
- Idade Moderna - AbsolutismoDocumento11 páginasIdade Moderna - AbsolutismoGlauber Miranda FlorindoAinda não há avaliações
- Região - Sertão - Nação J AmadoDocumento7 páginasRegião - Sertão - Nação J Amadoluiza_moretti100% (1)
- Antropologia Sociocultural. Rodrigo Simas AguiarDocumento68 páginasAntropologia Sociocultural. Rodrigo Simas AguiarGlauber Miranda FlorindoAinda não há avaliações
- Ribeiro, Gladys Sabina. Liberdade em ConstruçãoDocumento550 páginasRibeiro, Gladys Sabina. Liberdade em ConstruçãoGlauber Miranda FlorindoAinda não há avaliações
- A Adesão Das Câmaras e A Figura Do ImperadorDocumento13 páginasA Adesão Das Câmaras e A Figura Do ImperadorGlauber Miranda FlorindoAinda não há avaliações
- Compreender o Império - Usos de Gramsci No Brasil No Século XIXDocumento20 páginasCompreender o Império - Usos de Gramsci No Brasil No Século XIXGlauber Miranda FlorindoAinda não há avaliações
- A Invenção Do Sete de SetembroDocumento10 páginasA Invenção Do Sete de SetembroGlauber Miranda FlorindoAinda não há avaliações
- Formação Dos Partidos Políticos No Brasil Da Regência À Conciliação, 1831-1857Documento18 páginasFormação Dos Partidos Políticos No Brasil Da Regência À Conciliação, 1831-1857Glauber Miranda FlorindoAinda não há avaliações
- Tese Andrea SlemianDocumento339 páginasTese Andrea SlemianGlauber Miranda Florindo100% (1)