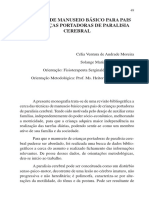Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Livro Le Bouch o Desenvolvimento Psicomotor 3 . Parte.
Livro Le Bouch o Desenvolvimento Psicomotor 3 . Parte.
Enviado por
Milena A. Barbosa0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações28 páginasTítulo original
Livro Le Bouch o Desenvolvimento Psicomotor 3ª. Parte.
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações28 páginasLivro Le Bouch o Desenvolvimento Psicomotor 3 . Parte.
Livro Le Bouch o Desenvolvimento Psicomotor 3 . Parte.
Enviado por
Milena A. BarbosaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 28
~LEBOULCH |
eM tsa ok ath ces
Teele cel,
sicocinética na idade pré-escolar
_
Acrianca na descoberta
do mundo dos objetos
A partir do estado objetal, a relacio da crianca com o mundo entra numa fase
intencional, durante a qual vai estender a0 mundo dos objetos as experiéncias ja rea-
lizadas no ambiente humano. Os intercdmbios interpessoais constroem seu tempera-
mento e modelam sua personalidade afetiva. Nesta confrontacao com a realidade
objetiva, vai desenvolver suas funcdes cognitivas.
Até agora, a crianca organizava-se na érea motora e sensorial através do jogo
das “reagdes circulares”. Uma vez que tem fixado definitivamente a imagem mater-
a, © acesso 4 permanéncia do objeto Ihe permite orientar, em funcdo de um fim,
sua atividade motora, que agora se torna intencional. O jogo da funcdo de ajusta-
‘mento, verdadeira inteligéncia do corpo, permitir-the-a inventar as solugées motoras
aos problemas propostos. A isto Piaget denomina de coordenacao dos “esquemas se-
cundérios”, primeira forma de aquisicio das praxias.
O equipamento motor indispensavel
no jogo da funcao de ajustamento
A EVOLUGAO DO TONO MUSCULAR
© tono muscular é a atividade primitiva e permanente do musculo; além de
traduzir a vivéncia emocional do organismo, € 0 alicerce das atividades praxicas.
A partir das supressdes dos reflexos arcaicos pela aco inibidora do cértex,
© tono postural vai organizar-se, gragas entrada em funcao do sistema ereismati-
co (Weiss), cuja peca fundamental é 0 cerebelo.
55
— Durante 0 39 més, o tono dos misculos da nuca e do pescoco vai organizar-
se em funedo das posicdes do eixo corporal. Quando a crianca passa da posicio d
tada e sentada com apoio, sua cabeca mantém-se bem firme, 0 pescoco serve de su
porte firme a fim de que a crianca possa orientar o olhar em direcaio de um estimu-
lo visual ou sonoro.
— Entre 0 69 e 0 89 més, a crianga vai conquistar a verticalidade e equilibra-se
em posigSo sentada. Esta aquisi¢éo postural vai permitir-Ihe ter uma visio mais glo-
bal de seu ambiente, gracas as possibilidades de aperfeicoamento dos movimentos
associados dos olhos e da cabeca (ver p. 46). Nesta posicio se sentiré mais segura
nas experiéncias de manipulacio, ja que seus bracos esto completamente liberados
@ 0 tono da cintura escapular esté bem desenvolvido.
— Entre 0 99 eo 129 més, a crianca reforca a cintura pelviana, primeiro raste
jando, depois de quatro, prelidio indispensavel para a estacdo de pé. Entre o 10° e
© 12° més, ficara de pé de forma prolongada com apoio e passaré a posicao bipede,
primeiro titubeante e depois mais firme.
A ORGANIZAGAO DO SISTEMA TELO-CINETICO
Este sistema representa um caso particular de regulago tonica em relacdo a
orientac&o da cabeca e do corpo, necessario a direcionalidade dos 6rgaos sensoriais,
sobretudo a visio e ao ouvido.
Até 0 fim do 29 més, a maturacio e o treinamento funcional tem como fina
lidade a regulacdo dos automatismos, de que depende a atividade visual, e mais
especificamente os mecanismos de acompanhamento visual (ver p.51).
Depois dos 6 meses, o conjunto telo-cinético vai adquirir progressivamente
sua eficdcia. A partir de uma estimulacdo exteroceptiva visual ou auditiva, e em fun.
co da significaco afetiva que ela reveste, as atitudes do corpo em dire¢io aos cam-
pos de estimulagSo vao agir na atividade tonica permanente e equilibrada dos meca-
nismos antagonistas, operando nas trés dimensdes do espago. Esta organizacio tridi-
mensional das regulagdes da postura implica a atividade dos tubérculos quadrigé-
Meos que coordenam o jogo dos trés pares de misculos oculares, compreendendo as
informacées visuais e auditivas elaboradas ao nivel dos corpos geniculados e das in-
formacdes de origem vestibular. 0 conjunto das informagées é controlado pelos cor-
Pos geniculados laterais. E neste centro que se vai exercer o controle cortical de na-
tureza intencional, que depende das experiéncias psicoafetivas da crianca.
A AQUISICAO DOS AUTOMATISMOS DE CONTROLE PIRAMIDAL.
1 — A evolugao da preensao. O lugar que ocupa a mao no comportamento hu-
mano, como o demonstra Paul Chauchard na sua obra Le Cerveau et /a Main créati
ce, justifica em particular o estudo do desenvolvimento da motricidade fina da mao
€ dos dedos. Salientamos a ligac&o estreita que existe entre o desenvolvimento sen-
56
sorial tatil e a evolucdo da “destreza’’. No inicio a atividade sensorial tatil nao esta
suficientemente madura, e 0 Gnico meio de pesquisar os objetos é através da explo-
rac&o bucal. A partir do momento em que a motricidade fina da mao e dos dedos tor-
na possivel 0 exercicio da palpacao e se no existem outros problemas no plano do
relacionamento, a mio constitui-se em atividade exploratéria. Durante muitos meses,
com a ajuda das méos, 0 lactente toma contato e descobre o mundo exterior. Hal-
verson e Koupernik estabelecem quatro etapas na preensio
2) Primeira etapa. A partir do desaparecimento do grasping-reflex, em torno
do 29 més, comega o “jogo das maos”. A crianca nio mantém mais fechados seus
punhos; ao contrario, os abre. Leva as mos boca, agarra uma mo com a outra.
Olha durante pouco tempo seus dedos. No fim deste periodo, segue com os alhos 0
deslocamento de uma de suas mios.
Este jogo das mos é a expresso do comportamento exploratério em minia-
tura; traduz a atividade piramidal. E um dos primeiros sinais de atividade cortical
que vai desencadear verdadeiras atividades intencionais, isto é, com uma finalidade
determinada
) Segunda etapa. Coordenacao do espaco visual e do espaco tatil da mao: co-
meco da preensiio (4 a 6 meses)
As 16 semanas, o acompanhamento visual da mo corresponde a primeira ma-
nifestacdo da coordenacio olho-m&o. Até aqui, os automatismos éculo-motores
(ver p. 46) e manuais tinham-se desenvolvido separadamente.
Entre os 4 ¢ os 6 meses, jd existe a coordenac&o dos dois campos visuais. A |
crianca no se contenta mais em manipular suas maos ou seus pés; a visio de um
objeto vai desencadear uma agitagdo dos dois membros superiores. Pode-se falar nes-
ta etapa de movimentos intencionais dos bracos, porque a crianga, entre 4 e 5 me-
ses, consegue alcangar e pegar o objeto que ela deseja, persevera e, por reacdes cir
culares, corrige seus movimentos até a obtenc%io do objeto. Aos 5 meses, a preen-
so voluntaria esta adquirida.
c} Terceira etapa. Periodo da manipulacio dos 6 aos 10 meses.
A aquisicao da posicao sentada e a melhor organizagio telo-cinética permitem
© aperfeicoamento dos dois elementos que compéem os movimentos de preensao: a
aproximagio da mao e a tomada do objeto. :
Aos 6 meses. A aproximacio é lateral. 0 ombro é a inica articulacao mével
O movimento ¢ em rastilho.
A preensio é palmar: 0 objeto é agarrado entre os tltimos dedos e a palma.
Neste estadio existe a intenc&o de pegar, mas a coordenacio motora ni esta adqui-
rida.
7-8 meses. A aproximacio nao é tao lateral, porque o ombro é mais movel,
mas ainda é 0 ombro que domina
O objeto é agarrado com a ajuda do polegar, que serve de batente.
Nesta etapa, a crianca é capaz de passar um objeto de uma mio a outra, per-
mitindo-Ihe verdadeiros jogos de manipulacSes (etapa de palpar de Wallon).
99 e 109 més. A preensio adquire suas caracteristicas definitivas de coorde-
nagio.
57
A aproximagao do objeto é direta, part
culagdes do punho e da mao.
Aparece a pinga digital. O dedo indicador torna-se cada vez mais importante.
No fim deste periodo, a maturacdo das fibras piramidais, de quem depende o
controle dos miisculos da mao e dos dedos, alcanca um bom desenvolvimento, do
que resulta uma exploragéo mais precisa.
A crianga pode pegar objetos pequenos, pode explorar buracos, ranhuras, a
cavidade de uma xicara, 0 que the permitira conhecer a terceira dimensGo e ter a no-
co de relevo e de profundidade.
Paralelo a isso, a forma muscular torna-se mais intensa e Ihe permite agarrar,
‘enganchar, arrancar, puxar, etc.
d) Quarta etapa. O acesso ao aperfeicoamento das praxias.
Depois dos 10 meses, 0 jogo da funcdo de ajustamento permitiré a crianca
multiplicar suas possibilidades de aco a partir de seus desejos de apropriagao e em
fungiio das necessidades da vida social, na qual ela comeca a participar ativamente
Vai aprender a beber de uma xicara, a servir-se da colher, a virar os punhos, a
abrir as caixas, a pegar 0s objetos e a atira-los.
2—A evolugéo da locomogao. O treinamento da locomogio de pé aos 9
meses
— Aos 9 meses, a crianca pode rastejar, depois passar da reptagdo a marcha de
quatro, 0 que possibilita a coordenaco dos membros inferiores e membros superiores.
— Nesta idade manifestam-se as atitudes estaticas dos membros inferiores, aju-
dando a se levantar do solo.
— Entre os 9 ¢ 10 meses, a crianca pode se manter de pé de forma prolonga-
da; mais tarde poderd se levantar de pé ajudando-se com suas maos e seus bracos.
— Entre 11 ¢ 12 meses, pode deslocar-se de pé com ajuda, assegurando-se de
uma mio, podendo pegar um objeto.
— Entre 12 e 14 meses, a crianca entra no periodo da marcha. E condi¢ao in-
dispensdvel para a marcha 0 equilibrio geral, que depende de maturacdo do sistema
ereismatico. Este equilibrio ainda precario vai se afirmar com o préprio exercicio da
marcha, que seré uma atividade dominante neste perfodo.
ando 0 ombro, 0 cotovelo, as arti-
A exploragaio do ambiente (esquema p. 61)
‘A descoberta pela crianga de que a satisfacdo de suas necessidades passa pela
apropriacdo de um objeto exterior a ela, primeiro identificado com a figura materna,
simbolo de todas as satisfacdes, é a origem do comportamento intencional.
A sensacio de falta que resulta da auséncia do objeto provoca sua busca e 0
estimulo da atividade perceptiva. A partir dos 15 meses, uma conduta nova, a con-
duta de exploracao, vai poder se desenvolver gracas a estimulaco perceptiva “gra-
tuita”’,
58
Um verdadeiro interesse pelo objeto, sobretudo 0 objeto novo, insélito, é a
necessidade intelectual que vai orientar a atividade da crian¢a na descoberta e no do-
minio do mundo exterior. Este aspecto fundamental no desenvolvimento das fun-
Ses cognitivas vai permitir a crianea, além de multiplicar suas praxias, construir um
espaco de acdo vivenciado.
CONDUTAS EXPLORADORAS E NECESSIDADE DE EXPLORACAO
A necessidade de exploracao, que constitui uma das atividades fundamentais a
partir dos 15 meses, tem sido objeto de numerosas pesquisas. A partir de 1950 apa-
recem trabalhos relativos a este assunto na literatura anglo-saxdnica, mas recorde-
mos que Pavlov jé falava no “reflexo de orientacao”,, estudado por Ivanov Smolenski,
objeto de um congresso em Moscou em 1957. Anokhine lembra que se trata de uma
reacdo total do organismo. Mais recentemente, Luria completa estes trabalhos, inter-
pretando-os a partir dos dados neuro-fisiolégicos.
A conduta exploradora é uma resposta global do organismo a uma situacéo
nova. E, pois, a novidade o desencadeador do comportamento. Dashell constata
que, em um animal colocado numa caixa nova contendo alimentos comeca a explo-
rar a caixa antes de satisfazer a fome; esta exploragao dura 15 minutos, durante os,
quais 0 animal esquece a fome. Mais tarde, os estudos de Nussen permitem concluir
que esta justificado falar em necessidade de exploracio ao mesmo tempo que se fala
em necessidade de se alimentar ou em outras necessidades primarias. Estas ativida-
des exploratérias nao sdo especificas e traduzem as necessidades de “informacio e
de estimulos novos’
As condutas exploratérias so explicadas pelos mecanismos neuro-fisiologicos
que agem reciprocamente entre o cértex cerebral e a formacio reticulada do tronco
cerebral. Estas interacdes representam o suporte da “funcio de vigilincia’”’. Esta fun-
io depende de duas formas:
— uma inespecifica de vigilncia difusa, que traduz um certo nivel de ativagio
das estruturas nervosas e, em particular, do cértex cerebral;
— outra é a forma de vigilincia especitica, de carater adaptativo, gracas a qual
© organismo escolhe no seu meio o estimulo que corresponde a suas necessidades
atuais.
CONDUTAS DE EXPLORACAO E AQUISICAO DAS PRAXIAS
Lembremos que uma praxia 6 um conjunto de reagdes motoras coordenadas
em funcao de um resultado prético. Representa um conjunto organizado com a fi-
nalidade de alcancar um fim. Desde 0 momento que comega a atividade intencio-
nal (ver p.58), esbocam-se as primeiras praxias a expensas do campo visual e do
campo cinestésico. O acesso a locomogao vai multiplicar as possibilidades de aquis
80, gracas a conduta de exploracao.
59
A vigilancia difusa representa um estado de atividade cortical alimentado por
descargas de freqiiéncia elevada, que vém da substancia reticulada, da qual depende
a conduta de exploragio.
A partir da percep¢io deste objeto, a atividade vai organizar-se em torno des-
te elemento de motivaco e comeca o “tateio experimental”
Na presenca de um objeto desconhecido, a crian¢a pde em jogo os esquemas
que ja conhece (generalizacSo dos esquemas) e um certo grau de acomodagio permi-
tira resolver o problema novo. Trata-se da manifestaciio de uma fun¢do fundamental
que nés chamamos funcao de ajustamento; corresponde ao uso do proceso de aco-
modaco para o exercicio das praxias. Esta selecto dos esquemas conduz a des-
coberta de uma nova praxia, que no depende s6 da atividade cortical, senao tam-
bém da atividade dos centros nervosos subcorticais. O papel desta seleco de esque-
mas é de selecionar e integrar as informagées resultantes da atividade exercida sobre
© objeto e de confronté-las através de uma série de aproximacdes e de correcdes su-
cessivas com os meios (elementos de praxias) ja conhecidos.
Qual é 0 papel do neocortex no ajustamento? Durante estadios precedentes,
© organismo vive sua presenga no mundo de um modo essencialmente emocional; o
sistema limbico tem um papel fundamental no desencadeamento da aco em funcao
das necessidades e motivacdes. Quando entra em jogo a atividade neocortical, a ne-
cessidade pode tornar-se desejo, 0 que explica 0 aspecto intencional do ajustamen-
to. Vemos, portanto, a importéncia do neocortex, nao no desencadeamento da rea-
80 de investigago, senéo numa certa permanéncia até chegar & obtenco do resul-
tado da investigacao, do que depende a diminuicio da tensiio do organismo, condi-
Go de sua satisfacdo. Um outro aspecto essencial do papel cortical é 0 aperfeicoa
mento das fungdes perceptivas, as quais ndo tém por funcéo descobrir uma solucio
@ sim constatar se a solugo encontrada aproxima-se o mais possivel ao fim persegui-
—_____.
1 ~ Entre 2 € 3 meses 08 reflexos arcaicos (1) desaparecem sob a intluéncia inibitoria do neo-
cortex (2), que entra em atividade. O grande lobo limbico (3) relaciona o nivel de necessidades
[rol do hipotaiamo (4)] com as condicgdes externas de satisfacdo e ndo-satisfacio. Em funcao
das informacdes que recebe, pode prever a satistago ou nBo:satisfagdio de necessidacies
2 ~ As informacdes exteroceptivas chegam aos centros analisadores corticais, primeiro de forma
isolada (5) e (6) e depois de forma integrada. Aos 7 meses esta sintese de informacées parcel
das possibilita a nocdo do objeto e a permanéncia do objeto, o que significa a representac3o.
mental (7), fonte de prazer e desprazer (8), A mimica esta mais adaptada a vivencia afetiva (9)
3— A evolucao da funcio visual é tributaria da coordenag3o dos movimentos sincronizados dos
olhos. E importante distinguir dois sistemas visuais: urh que transmite as informacdes aos cen
tos analisadores corticais (10), 0 outro que dirige as informagdes visuais aos tubérculos quad:
gémeos, de quem depende a motricidade ocular (11); estes dois sistemas asseguram o posiciona-
mento, a convergéncia e © movimento dos olhos associados ao posicionamento da cabeca (12)
4~ A partir dos 2 meses, a partir da desaparico dos reflexos arcaicos, 0 feixe piramidal desen-
volve-se rapidamente (13) segundo a lei céfalo-caudal. A partir do desencadeamento das coorde-
nagSes acquiridas vai estar cada vez mais adaptado as condicdes exteriores (14); assim, vai de.
senvolver-se a fungdo de ajustamento (14)
Entre os 15 @ os 18 meses, quando aparece a funcdo simbélica, a crianca poderé exercer uma
atividade intencional, isto é, organizada no sentido de aleancar uma fungao determinada. A ati:
vidade préxica coordenada com a finalidade de dominar um objeto exterior vai evoluir muito
rapidamente através do processo de ensaio-erro (15).
60
ESTADO DE EXPLORAGAO.
(18 meses)
do, isto é, constatar o nivel de adequagao da solucéo ao problema proposto, a fim
de que 0 ensaio esteja adaptado a esta avaliagao.
Durante 0 69 estagio de Piaget vai-se observar um progresso importante no de-
senvolvimento da atividade exploratoria. E a passagem do “ensaio-erro” ao mecanis-
mo de descoberta por insight. Este progresso explica por que Piaget chamou de “in-
teriorizacio dos esquemas”. Sob esta expresso um pouco ambigua, Piaget nao dis-
tingue a representac3o mental verdadeira de uma praxia, mas a possibilidade da
crianca tomar consciéncia da relagio causa-efeito existindo tal tipo de aco e tal ti-
po de resultado e de transporté-lo ao plano simbélico. Esta transposigio simbdlica
se faz, j4 seja através de gestos simbdlicos, favorecendo a representacZo mental ou
através de linguagem.
Lembremos, a fim de ilustrar 0 papel do gesto simbélico na descoberta da so-
lugo, 0 exemplo dado por Piaget
“A crianga esta na frente de uma caixa de fasforos, na qual tem se colocado
um dado. A crianca de 16 meses sacode a caixa e palpando tenta agarrar o da
do com seu dedo. Depois do fracasso, detém-se, examina a caixa abrindo e fe-
chando lentamente a mao como para simbolizar 0 resultado a ser alcancado:
aumento da abertura. Depois, desliza seu dedo na fenda e separa uma das par-
tes da caixa e pega finalmente o dado.”
Como vemos, este estidio coincide com as primeiras manifestacdes da funcao
simbélica que Piaget situa em torno dos 18 meses.
A interiorizacio do esquema ¢ mais a possibilidade de reatar tal esquema a tal
resultado potencial e traduzi-lo a0 plano simbélico que a possibilidade de represen
tar-se mentalmente tal ou qual tipo de coordenacdo. Nesta situacao, a crianca é co-
locada na frente de problemas ainda insoliiveis. Esta nova aptidao permite ao indi-
viduo perceber claramente as relacdes essenciais inerentes a situacdo e de dominar o
principio fundamental implicito nos problemas a resolver. A partir disto, é susceti-
vel emitir um certo numero de hipoteses que dependem das possibilidades do
insight.
EVOLUGAO DA ATIVIDADE PRAXICA E PERCEPCAO
1 — Percepedo do objeto. Aos 18 meses, a atividade sensério-motora tem se-
parado a crianca de suas relagdes exclusivas com a mie, permitindo-Ihe descobrir a
existéncia dos objetos e sua permanéncia. A nocio de objeto no sentido piagetiano
€ adquirida quando 0 objeto se torna “independente e permanente”
A independéncia do objeto implica que representa para a crianca uma realida
de fora das diferentes agdes que podem cair nele. A permanéncia do objeto é adqui-
rida quando a crianca tem consciéncia de sua existéncia, mesmo quando ele nao es-
td situado no seu campo perceptivo atual.
Aos 18 meses, a crianga, depois de ter conquistado um espaco feito de obje-
tos, penetra em um espaco que tem uma realidade independente dos objetos que ne-
le se encontram
62
Esta evolucio tem sido muito bem precisada por Piaget na sua obra La Cons-
truction du réel.
"O objeto separa-se pouco a pouco da atividade propria: o fato que a crianca
venha a conceber os objetos como se estivessem detrés de uma pantalha a le-
va a dissociar, em desvantagem em relaco ao passado, a aco subjetiva da rea
lidade na qual ela se encontra. A aco propria cessa de ser a fonte do universo
exterior para transformar-se num fator entre outros, ainda sem divida um fa
tor central, mas situado na mesma escala que os elementos diversos que cons:
tituem o meio ambiente. Na medida em que os objetos se separam da aco, 0
corpo proprio torna-se um limite entre os outros e encontra-se, assim, com:
prometido em um sistema de conjunto, marcando os primérdios da verdadeira
objetivacio.""
Na medida em que as coisas se separam da aco propria, onde ela se situa no
conjunto das séries de acontecimentos cambiantes, a crianca vé-se forcada a cons:
truir um sistema de relacdes para compreender essas séries e a relacio delas com ele.
Organizar tais séries é criar uma rede espaco-temporal e um sistema de substancias e
de relacdes de causa-efeito. A construgao do objeto é inseparavel da constructio do
espaco, do tempo e da causalidade. A elaboracao do objeto é solidaria a do universo
no seu conjunto.
2—A percepeao do espago. O espaco da crianca de 18 meses a 3 anos, que
emerge do empirismo da ago, no tem o carater de nosso espago euclidiano. Uma
vez 0s objetos individualizados em relagdo uns com os outros, a crianca nao dispoe
de referéncias fundamentais representadas pelas distancias e os eixos. A construcao
do espaco se faz a partir de intuicdes muito elementares.
A relaco mais elementar é aquela da vizinhanca, isto 6, a proximidade dos
elementos percebidos no mesmo campo. Em um primeiro momento, os elementos
devem ser vizinhos para poder integré-los num mesmo conjunto, depois a vizinhanca
poderd estender-se a areas mais afastadas. A separacao é uma segunda relacdo espa-
cial elementar: dois elementos vizinhos podem interpenetrar-se, confundindo-se em
parte. A possibilidade de consideré-los como distintos possibilita estabelecer uma
relag&o de separacdo. A experiéncia da manipulagdo e do deslocamento de um dos
elementos em relacdo ao outro esta determinada, neste aspecto, pela percepgdo do
espaco.
A relacio de ordem ou de sucessio espacial permite & crianca uma certa esta-
bilidade na disposicdo relativa das diferentes partes de um objeto ou dos diferentes
objetos alinhados de forma constante. Esta relacdo serve também para apreciar cer
tos tipos de deslocamentos, como, por exemplo, a abertura e o fechamento de uma
porta. A relaco de envolvimento, isto é, de interiorizacdo-exteriorizacdo, permite
a crianca situar um elemento entre dois outros elementos, um objeto no interior de
outro objeto, uma superficie em um espaco de trés dimensées, como um objeto
dentro de uma caixa.
A nacio de fronteira, usada correntemente na matematica moderna, corres-
ponde a uma relacdo de envolvimento. Quando uma crianca joga em um espaco li-
mitado por uma barreira, ela sabe que deve franquear esta barreira para sair, Uma
63
outra experiéncia de fronteira, diferente, é aquela que se adquire em um quarto
com uma porta que se deve franquear para poder sair do espaco de trés dimensdes,
quando que, em um espaco de duas dimensées, ndo é necessario franquear a porta
para sair do espago delimitado. Mais tarde, a crianga experimentard que o espaco
pode ser delimitado por uma linha fechada ou por uma linha quebrada. Uma série
de jogos interessantes podem ser propostos a crianga em relaco a este tema.*
A atividade sensério-motora da crianca permite-Ihe variar seus pontos de vista
sobre a realidade, de comparar, de reproduzir a seu modo um certo numero de ex
periéncias, de transposicdo, de deslocamentos diversos (retorno, translac&o). Esta
atividade sensdrio-motora transformara progressivamente o universo perceptivo da
crianca e o fara evoluir de forma coerente.
A coeréncia no corresponde a nossa visio adulta do mundo euclidiano, mas
alcanca 0 que chamamos de “geometria topoldgica”.** Estas relagdes de vizinhanca,
de ordem, de continuidade se constituem por proximidade e nfo precisam da con-
servacio de distancias, nem de formas, uma reta podendo transformar-se em curva
sem que variem as relacdes topoldgicas.
Esta geometria topologica, que é a da crianca entre 2 1/2-3 anos, nfo conduz
& sintese de conjunto quando se retine uma multiplicidade de elementos em figuras
referenciais. Este espaco é interior a cada figura e nao é um espaco total que englo
baria todas as figuras.
A aptiddo do meio familiar e particularmente da mae é fundamental para per-
mitir @ crianca treinar com eficacia a sua func&o de ajustamento e, portanto, a aqui-
sicdo das praxias usuais.
Um meio muito rigido e muito estrito, obedecendo a regras rigidas, limita
progressivamente a crianca na funcdo de ajustamento ou acarreta uma auséncia
de naturalidade e bem-estar nela.
Psicomotricidade e funcao simbolica
A funcao simbolica nao é uma funcao psicomotora, mas ela tem suas raizes na
atividade sensdrio-motora, pelo que esta estreitamente ligada ao desenvolvimento
psicomotor
Um simbolo, no sentido estrito do termo, representa uma coisa em funcao de
alguma analogia. O simbolo pode ser um objeto que desloca outro objeto, uma pes
soa, uma situacao.
*E no periodo pré-escolar que estes jogos sto utilizadas (ver p 199 e seguintes)
**A topologia € © estudo das propriedades do espaco que n3o esto afetadas por uma defor
magao continua
64
A expresséo simbélica pode ter um carater inconsciente, assim como pde em
evidéncia a teoria psicanalitica. Neste caso, a expressto simbélica representa uma
substituigo inconsciente, & qual o sujeito apela para traduzir sua vivéncia frente a
experiéncia de relaco com 0 mundo, Isto é, toda a carga afetiva que reveste este ti-
po de expresso que com freqiiéncia tem a significacao de um mecanismo de defesa
do Eu.
Quando falamos de “funcdo simbélica’”’ referimo-nos & relagao consciente en-
tre significantes e significados, até 1d indiferenciados. O jogo da fungao simbélica
no se pode conceber sem recorrer 4 imagem mental, que é contemporanea a apari-
co da permanéncia do objeto, manifestagaio de uma certa forma de meméria
Sabemos que a funco simbélica tem suas raizes na atividade sensdrio-motora,
na medida em que o objeto operativo do pensamento deriva da inteligéncia sens6rio-
motora. Portanto, a educacao psicomotora representa uma situacao privilegiada pa-
ra facilitar a eclosdo e o primeiro desenvolvimento da funcao simbélica. Inversamen-
te, a linguagem influi no desenvolvimento psicomotor, a partir dos 18-20 meses,
quando a crianga é capaz de utilizar um “esquema interiorizado” para resolver os
problemas de ajustamento com os quais ela se depara.
‘Ao que nds chamamos de “func3o simbélica”, atualmente é.designado na lite-
ratura com 0 nome de “fungio semidtica”. Trés tipos de conduta a caracterizam:
— a linguagem;
— 0 desenho ou linguagem gréfica;
— 0 jogo simbélico ou de ficeo, no qual a crianca brinca de “faz-de-conta”.
Destas trés condutas, a linguagem para nés é a mais importante.
OS PRIMORDIOS DA LINGUAGEM
A aquisicao da linguagem se faz a partir das diferentes formas de expressio e
de comunicagées mimo-gestuais utilizadas pela crianga para estabelecer relagdes
com 0 ambiente humano e, em especial, com a sua mae.
1-0 periodo de pré-linguagem. A crianga dispée geneticamente de meios
para encontrar o contato com a outra pessoa. Estes meios so perceptivos e moto-
res. O estudo da evolucdo gestual permite salientar a importancia da expressio mi-
mo-gestual neste intercdmbio (ver p. 54). A partir dos 2 meses, os bebés respondem
a0 ambiente através de mimicas e gestos dependentes das suas caracteristicas toni-
co-motoras. A linguagem mesmo é um prolongamento desta forma de comunicacio,
na medida em que os intercambios afetivos da crianga e de seu ambiente vio sustentar
a necessidade de contato e de comunicaggo com o meio humano.
O treinamento vocal vai evoluir segundo um mecanismo de treinamento ges-
tual, mas com uma defasagem de alguns meses. E 0 perfodo da pré-linguagem: pri-
meiros exercicios vocais, como se tinham exercido os mecanismos gestuais.
O grito, cuja ligacdo entre a necessidade e as variagées tonicas é evidente, é
um apelo para o ambiente que um meio sonoro de comunicagao. Além do gri-
to, todo 0 conjunto de emissdes sonoras preparam o terreno para o exercicio lin-
mi
65
tico. A partir do 29 e 3° més, a crianga, mesmo sendo surda, emite sons muito
variados, que nZo tém nada a ver com os sons da linguagem: ruidos de lingua, de lé
bios, de garganta ou sons freqiienciais; estes sons aparecem por acaso na atividade
ludica. No inicio, as vocalizagdes s6 constituem uma reacao circular autonoma, pro-
duzidas por fendmenos reflexos e estimulados pelas percepcdes cinestésicas. Estas
manifestacdes pré-verbais de fonacdo nao sao, na realidade, elementos de comunica-
c&o, porque 0 bebé nao tem a intencao de produzi-las. Entretanto, podem traduzir
um certo estado de quietude e de saciedade nos periodos de vigilia.
E a partir dos 6-7 meses que aparece o balbuceio, verdadeira vocalizacao, pro-
cesso de auto-estimulagao ligado ao desenvolvimento de controle auditivo da articu-
lacio dos sons. E 0 equivalente, no plano da linguagem, da relac3o e da manipula-
g&o dos objetos no plano préxico. Esta autoproducao é estimulada pela expresso
verbal dos pais, que desencadeia, primeiro, a ecolalia e, depois, a imitacao diferencia-
da, Rapidamente, a crianga dé-se conta de que suas emissdes vocais provocam reagées
no ambiente e servem para expressar suas necessidades. Este linguajar nfo tem ain-
da 0 verdadeiro valor de comunicacao.
2-0 periodo lingiiistico, Instala-se entre os 12 ¢ os 15 meses. Caracteriza-se
pela utilizaco das primeiras palavras. No comeco, os primeiros elementos da lingua-
gem no se compreendem e nem sero utilizados mais tarde independentemente de
seu contexto situacional. Um mesmo elemento serve para designar situagées diver-
sas. A linguagem ainda nfo tem adquirida sua autonomia em relacdo as situagdes nas,
quais ela estd implicada. A palavra é primeiro confundida com a situaco e com a
coisa designada. A evolugo é paralela ao desenvolvimento psicomotor e este pres-
ta-lhe uma ajuda consideravel.
Encontramos, nesta etapa, uma caracteristica do pensamento magico, que
consiste em verbalizar 0 nome das pessoas, das coisas, ou a designagdo de aconte-
cimentos através de qualidades dessas coisas e desses acontecimentos. E entre 1 1/2
ano e 2 anos que os sinais sonoros, uma vez diferenciados de seus significados, per-
mitiro evocar os objetos ou as situacdes nao atuai
Primeiro é a percep¢ao do objeto ou da situaco vivenciada que induz a pala-
vra; mais tarde, a percepcao da palavra trocaré o objeto ou a situagéo pela repre-
sentacio mental. E nesta fase que o simbolo verbal se tornard o verdadeiro signo
sonore, através do qual a crianga exercera verdadeiramente sua funcao simbélica.
A CONTRIBUICAO DA LINGUAGEM
NO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR
As primeiras palavras compreendidas e emitidas pela crianca correspondem &
denominagao dos objetos familiares que tém uma significaco afetiva para ela. A
incapacidade de poder precisar verbalmente suas necessidades e de expressar-se a
obriga a evocar 0 objeto que permite sua satisfagdo. Isto corresponde & palavra-
frase, onde “Iolo” significa “eu quero beber”, “miam-miam” “eu tenho fome”,
“toutou” “eu tenho medo de cachorro”. A partir da escala de desenvolvimento de
66
0.Brunet-I. Lézine, a crianga, aos 18 meses, é capaz de reconhecer e de nomear os
objetos familiares que Ihe so apresentados:
“Toutou, wawa,
yéyé (soulier),
toto, tuf-tuf (auto-train), etc.”
A linguagem em vias de aquisicao estd constitu/da por um numero limitado de
elementos de vocabulario; aumenta lentamente até os 2 anos. A crianca disp3e de
Poucos termos para expressar diversas situagdes, por isso que ela se obriga a empre-
gar a mesma palavra para designar diversas situagdes ou um conjunto de situacdes, 60
que se chama de “polissemia”. Um exemplo disto é quando a crianca designa a to-
dos os homens por “papa’’. Esta polissemia é a aptidao que a crianca tem em desco-
brir um atributo comum a um conjunto de objetos e poder discriminar as qualida-
des e propriedades dos objetos.
No fim do 29 ano, pode designar uma aco por uma palavra, portanto usar 0
verbo e associar duas palavras:
“papa pati = papa parti
boiboi maman = & boire maman,
nini bobo = nini a bobo,
garde mon papa = regarde mon papa.””
Até agora, a crianca constroi seu espaco psicomotor gracas ao progresso da
motricidade e da percepcao (até o 5° estadio). A partir do 69 estédio, o qual cor-
responde ao que Piaget chama “o inicio da interiorizaco dos esquemas”, apresen-
ta um progresso significativo, o qual depende da associacdo da linguagem e a repre-
sentacao imaginada. A interac&o entre a crianga e seu ambiente, onde a atividade
tem rol essencial, vai transformar-se progressivamente em uma atividade verbalize
da, Esta ligacdo entre a palavra e a aco precede o futuro afastamento da palavra
© da ago, traduzindo-se pelo monélogo que a crianca explica e que Piaget chama
de “‘linguagem egocéntrica”. Esta linguagem egocéntrica 6, em esséncia, uma fun-
Go cognitiva, na medida em que esta ligada & busca do real.
1— Linguagem e fungdo de ajustamento. A utilizagdo da linguagem corres:
ponde a passagem do aprendizado por ensaio ¢ erro para o aprendizado por insight,
ou invengao brusca de novos meios em presenca de uma situacao-problema. A uti-
lizago da linguagem para simbolizar a soluco buscada com freqiiéncia é precedida
de gestos simbélicos que favorecem a representago nascente. Estes gestos simbéli-
cos sio 0 fruto da imitagao diferida, j4 que, no fim do 2° ano, os jogos de imita-
0 tem uma importante influéncia no desenvolvimento da fungdo de ajustamen-
to.
A imitacdo diferida € possivel através da funciio mneménica, cuja conseqiién-
cia € um rudimento de representacdo mental. A imitago e a utilizacdo da lingua
gem sfo as diferentes etapas que alcancam as possibilidades de insight. Piaget chama
a isto de “interiorizago dos esquemas” e a linguagem reforca esta interiorizacdo,
sendo, portanto, um elemento essencial da funco de ajustamento. Esta interior
zagdo ¢ s6 um esboco, precisaré uma reconstrugo no plano do pensamento longa
¢ laboriosa, estendendo-se a todo o periodo das operagées concretas.
67
Esta enorme contribuigio da linguagem é 0 aspecto mais elaborado da func’o
simbélica na evolugdo da fungao de ajustamento e encontra-se junto 4 evolucio da
percepeao.
2 —Contribui¢o da linguagem no desenvolvimento perceptivo. O descobri-
mento das caracteristicas dos objetos e de suas propriedades, condi¢do do enrique-
cimento e de estruturacao perceptiva, é o fator de atividade do sujeito. Na frente de
um objeto desconhecido, a crianga descobre suas propriedades através da explora-
G0, e quando dispde de linguagem, é levada a situagdes imaginarias, multiplicando
suas possibilidades. Assim 6 que as propriedades do objeto esto ligadas ao conheci-
mento dos efeitos das agées e a relacdo que pode estabelecer-se entre eles. A qua-
lidade de ages e 0 tipo de informacdes que delas resultam organizam-se em um cer
to niimero de classes de propriedades, que so aspectos desencadeantes no enrique:
cimento perceptivo, de quem a estabilizacao exige o simbolo verbal. A utilizacdo da
linguagem aparece, assim, como uma transferéncia dos dados sensoriais a um novo
sistema de referéncia, representado pelo conjunto de palavras, expressdes e frases
utilizados pelo ambiente.
Cada palavra, cada expressao implica uma categoria relativamente bem defini-
da de percepgées. . . ; a linguagem torna-se um marco no qual entra tudo o que po-
de. Progressivamente na percepcao, a ou as palavras alcancam a consciéncia e recolo-
cam os dados sensoriais imediatos.
Este aspecto psicomotor da linguagem nos permite compreender as dificulda-
des encontradas pelas criangas surdas na soluao dos problemas puramente praticos.
A impossibilidade de utilizar 0 simbolo verbal acarreta uma falta de afastamento en-
tre 0 sujeito e o objeto. O sujeito nao se separa do problema e existe uma tendén-
cia a comprometer-se, deixar absorver-se e manter-se como parte integrante da situa-
cao. Disto decorre um defeito na representacao mental da situacao objetiva.
3— Desenvolvimento psicomotor e enriquecimento da linguagem. A utiliza-
go da linguagem é uma fonte de progresso no plano da percepcao e da acao e, ao
contrdrio, a evolugia psicomotora tem influéncia na linguagem.
Depois dos 2 anos, no periodo onde a crianga encadeia as seqiiéncias das ati-
vidades num plano de conjunto, utiliza frases mais completas em relacao com a su-
cessdo de operagées efetuadas pelo objeto: “Quebrou-se o auto, papa”. Isto per-
mite avangar na hipdtese de que o conhecimento das propriedades dos objetos é
uma condi¢&o necessaria na aparicao de um léxico que decorre dos progressos ulte-
riores da percep¢o, mas que, por outro lado, a aparicao dos primeiros elementos da
sintaxe sO é possivel pela estruturacdo das aces melhor encadeadas. Disto resulta
que, depois dos 2 anos, aparece um certo paralelismo entre as estruturas gramaticais
e as estruturas da atividade da crianga. Por outro lado Wallon salienta que a diferen-
ca entre a palavra-frase e a frase 6 a diferenca do desenvolvimento da palavra no
tempo: ‘‘O poder de organizar a duracao em funcao da representacao mental das
atividades é uma condi¢do fundamental da palavra”’.
Mas ainda, a fixacao na linguagem da experiéncia do sucessivo é uma condi-
cao da evocacdo no decorrer do tempo, onde a representacdo mental de um sucessi-
vo serve de marco & aco, como o espago é o local de encontro dos objetos.
68
A crianca na descoberta
de seu proprio Eu
No fim deste perfodo do “corpo v
¢a reconhece seu corpo como objeto.
Esta aquisicfo tardia é bem posterior & descoberta do “objeto libidinal”, de-
pois do “objeto permanente, piagetiano. Até entdo a crianca nomeava-se em tercei-
ra pessoa, nesta etapa que ela vai comecar a usar os pronomes. O Eu, o Meu, a Mi-
nha adquirem todo o sentido como forma de expresso da personalidade da crian-
ca.
ido’, em torno dos 3 anos, é que a crian-
ao reconhecimento
Da unidade orgai
de sua personalidade
A unidade da crianga é, em primeiro termo, uma unidade biolégica; traduz-se
no jogo das fungées de intui¢io que asseguram o crescimento e a maturacdo funcio-
nal. Depois do nascimento, as fungSes de relag’o seguem um desenvolvimento répi-
do. Enquanto que o universo receptivo mostra-se parcelado, a unidade do ser traduz-
se por reagdes tonico-posturais e motrizes globais, até coordenadas. Nao deve se dei-
xar de pensar que neste estagio a crianga sente seu corpo como uma unidade ativa
cuja consciéncia difusa esta ligada a vagas sensagdes tonico-viscerais e cinestésicas,
tendo uma retumbéncia afetiva e emocional profunda.
O comportamento organiza-se sob a influéncia de estimulos externos e, parti-
cularmente, na relago com a sua mie. Estes privilegiados intercambios, de nature-
za essencialmente corporais, traduzem-se através do didlogo tnico, que permite &
69
OEE EE EEE Eww _<<<€
crianga sentir no seu corpo as atitudes maternas. Seu corpo é vivenciado como uma
unidade através da relagdo simbiética que 0 une a sua mae.
Junto ao reconhecimento da “imagem materna”, a crianca descobre que a sa-
tisfacdo de suas necessidades passa pela apropriacdo de um objeto exterior a ele,
identificado com a figura materna. Progressivamente, a crianga, através de suas ex-
periéncias relacionais, faz a descoberta da diversidade das pessoas de seu meio. O
proceso de identificacdo Ihe permite sentir no seu corpo as atitudes de outra pessoa
e viver assim corporalmente os sentimentos das pessoas de seu ambiente, ja sejam
elas agressivas ou afetuosas. A identificacdo, na medida em que ela provoca uma
resposta global do organismo frente ao meio humano, permite uma certa unificacdo
do ser e desencadeia na aquisi¢3o um certo numero de atitudes afetivas que vio mo-
delar 0 temperamento da crianca.
No fim do periodo sensorio-motor, que Piaget situa entre 15 e 18 meses, 6
adquirida a permanéncia do objeto. Depois da experiéncia tonico-emocional frente
&s pessoas, vai desenvolver-se a experiéncia motora intencional frente ao objeto. E
através da atividade préxica que a crianca vai descobrir sua existéncia e como pes:
soa ela vai conquistar sua unidade através da experiéncia vivenciada com o corpo
eficazmente.
A experiéncia do espelho
Contrariamente as afirmacdes de Lacan, a consciéncia difusa do corpo experi-
mentada na aco é muito mais primitiva que a imagem visual do corpo. Na frente de
um espetho, a crianga comeca por explorar seu corpo estranho colocado na frente
dele, utilizando a geometria topoldgica que é a sua. Progressivamente, a crianga po-
dera comparar seu corpo cinestésico com as reacdes posturais e gestuais que ela ve
no espelho e que ainda Ihe sio estranhas. Pouco a pouco, a crianga chegara a convic-
so de que 0 corpo que ela sente é 0 mesmo daquele que ela observa no espelho,
como uma figura fechada destacada no fundo.
Zazzo tem muito bem descrito 0 duplo processo que permite a fustio dos
dois dados:
1 —“‘Aos 12 meses, a crianga olha suas mos, partes visiveis de seu corpo; ela
as compara com a sua imagem especular, ela brinca, ela experimenta.
‘Aos 16 meses, 0 jogo das mios desaparece e a crianca fica ou estupefata ou
fascinada com sua imagem ou bem evita a imagem, ou vira a cabeca”,
Parece evidente que esta dicotomia entre o que sente de seu corpo e a imagem
seria a responsavel pelo problema que apresenta.
2—A superacdo deste problema sera possivel quando a crianga seja capaz de
compreender que tipo de espaco esta representado no espelho. Até entao, o espaco
além do espelho era percebido como um espaco real, Segundo Zazzo, a crianga nao
resolve antes dos 20 meses o espaco que reflete o espelho, ¢ aos 2 1/2 anos —
70
3 anos que ela tera condigdes de entender que o espaco que ela sente é 0 mesmo
que ela vé no espelho,
Conclusdo
No estagio do “corpo vivido”, a experiéncia emocional do corpo e do espaco
termina com a aquisicéo de numerosas praxias, que permitem a crianca “sentir seu
corpo como um objeto total no mecanismo da relacdo”, Esta significagdo funda-
mental 6 contemporanea da constituigdo da primeira “maquete” da imagem do cor-
po e aparece no momento da “crise da personalidade” dos 3 anos. Esta unidade é
uma unidade afetiva e expressiva, na qual tudo esta centrado e a partir da qual tudo
se organiza. “Esta primeira estabilizaco afeto-sensdrio-motora 6 0 trampolim in-
dispensavel para que a estruturacdo espaco-temporal possa efetuar-se’” (Mucchielli).
‘Aos 3 anos, 0 aspecto praxico do comportamento esta muito afinado no plano glo-
bal e continua aperfeicoando-se ao ritmo do desenvolvimento da funcdo de ajusta-
‘mento. O aspecto gnésico, ao contrario, apresenta um nivel maior de imaturidade
© exige um esforco grande de estruturacao, onde o trabalho psicomotor Ihe propor-
cionaré a ocasido.
A nogao de fragmentacao, usada por Lacan, nao reveste nenhum sentido no
plano do comportamento global da crianga; ao contrério, ela traduz bem o carater
parcelado que revestem as percepcées da crianca neste estagio de desenvolvimento.
Aos 3 anos, esta experiéncia vivida da crianga chega ao fim com o reconhec
mento de seu corpo como objeto. As urgéncias da adaptacao no mundo exterior
tém sido resolvidas de forma global, gracas ao jogo da funcao de ajustamento. Res-
ta agora integrar esta experiéncia a um nivel mais consciente, permitindo uma cons-
ciéncia melhor do vivenciado.
1
Indicagdes educativas
do nascimento até 3 anos
Importancia do meio familiar no desenvolvimento da crianca
As etapas do desenvolvimento da crianca tém uma base genética evidente,
mas as potencialidades inatas so se desenvolvem na medida em que o recém-nasci-
do encontra um meio favoravel. O meio no qual crescer a crianca esta feito de es-
timulos de natureza fisica e principalmente da presenca humana carinhosa que cria
as condigdes psicoafetivas indispensaveis ao desenvolvimento geral da crianca a cur-
to ou longo prazo.
Um casal harmonioso, dando afeto incondicional a crianga, cria as melhores
condigdes para seu desenvolvimento. Contudo, esta afetividade deve estar esclareci-
da por uma boa compreensio das necessidades da crianca e das melhores condices
para satisfazé-las.
Inversamente, numerosas so as observacdes que estabelecem a relacdo: a ca-
réncia de cuidados maternais, as miltiplas babés originam as frustragdes precoces e
as desorganizagées profundas da personalidade. Estes transtornos traduzem-se com
freqiiéncia precocemente por sintomas psicomotores que podem ter o papel de si-
nais de “‘pré-vagabundos”’: péssima integracdo temporal-espacial e déficit de matura-
cao de imagem do corpo.
FUNCOES PARENTAIS E DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA
Limitar-nos-emos a enumerar as funcdes dos trés primeiros anos do desenvol-
vimento da crianga até o periodo edipiano. Daremos a essas fungdes uma descricio
72
bastante geral, tendo em conta, pelo menos, as condi¢ées sécio-culturais nas quais
elas se inserem e que dependem do tipo de organizacao familiar, variavel com o sis-
‘tema social.
O meio social deve satisfazer:
— as necessidades fisiolégicas da crianga: alimentacio e sono, exercicio das
fungées sensoriais e motoras;
— as necessidades afetivas ou de comunicagao expressando-se pela necessida-
de de instaurar um didlogo interpessoal com a crianga;
— as necessidades de seguranga e de estabilidade, satisfeitas pela instauracio
de referéncias estaveis tanto no plano da vida material quanto em modelos de iden-
tificagdo. Neste aspecto, é preciso que cada casal tenha, em relacdo a crianca, um
papel desprovido de ambigiiidade, proprio a uma relag3o segura. Por outro lado, os
pais devem dar a crianca um ambiente estavel ou de acontecimentos regulares na
vida cotidiana, a fim de que ela possa dispor de pontos de referéncia favoraveis a0
estabelecimento de projetos;
— as necessidades cognitivas, que se traduzem por uma certa curiosidade que
se exerce na descoberta do meio. E preciso que a atitude permissiva dos pais favore-
¢a 0 esforgo de ajustamento da crianga, evitando-Ihe os fracassos, fonte de inibicdo
€ de inseguranga. Ao contrario, uma grande rigidez e muito autoritarismo encerram
a crianga num sistema de regras muito estritas, favorecendo uma certa passividade e,
em um primeiro momento, uma grande dependéncia. Educaco suave, mas nao des-
provida de autoridade, é a mais favordvel ao desenvolvimento sensdrio-motor e inte-
lectual da crianga;
— as necessidades lingiifsticas, das quais depende em grande parte a evolugao
da funcao simbélica. E importante que a crianga esteja desde cedo com uma lingua-
gem rica tanto no plano do vocabuldrio quanto na sintaxe. Assim, a crianga estara
preparada para as exigéncias culturais que se manifestam principalmente no inicio
da escolarizacao.
CONDICOES SOCIO-CULTURAIS NO EXERCICIO
DAS FUNCOES PARENTAIS
Segundo 0 esquema da familia tradicional, mais numerosa que a familia atual,
limitada a uma média de dois filhos, a funcao parental, nos primeiros anos, era ex-
clusivamente assegurada pela mae. Ela assegurava a funcdo alimentar através do alei-
tamento, era elemento estavel do lar porque consagrava todo seu tempo a educacao
de seus filhos.
Atualmente, as mies repartem seu tempo entre as tarefas profissionais e seu
papel materno. E como conseqiiéncia disto surgem dois aspectos: a partir dos dois
meses, a quase totalidade das criangas so contiadas a creches ou a uma baba; o pai,
para aliviar a tarefa da mae, participa nos cuidados da crianga.
Estes dados modificam significativamente as descricdes dos autores, que,
inspirando-se em Spitz e Winnicott, tém salientado a importancia fundamental da
73
relaco dual instalada entre a mée e a crianga. Estas descrigdes representam cada
vez mais uma exceco, na medida em que a relacdo fundamental estabelecia-se essen-
cialmente pela alimentago ao seio e que, atualmente, na nossa cultura, é cada vez
mais rara. Mesmo aquela mae que dé de mamar desde o nascimento, aos 2 meses a
grande maioria troca o seio pela mamadeira. E sobretudo entre os 2 e 7 meses que o
seio tem 0 maximo valor, pela intensidade do intercambio afetivo.
Para concluir: 0 recém-nascido atual desenvolve-se menos bem que o recém:
nascido de antigamente? Nao da para se ter uma deciso categérica, j4 que os dados
estatisticos que acabam de ser publicados sio baseados numa pesquisa feita em
criangas colocadas em creche depois de seu nascimento, em um prazo de 6 anos, na
regido parisiense.
Sem embargo, a seguir falaremos das vantagens de tornar a relacao entre a
me e 0 recém-nascido de forma mais estreita e mais intima. Deve portanto ganhar
em qualidade o que perde em quantidade.
Intercambios mae/recém-nascido até os 2 meses
Durante o estagio narcisista primario, todas as necessidades fisiolgicas e afe-
tivas da crianga devem ser incondicionalmente satisfeitas, a fim de reforcar seu capi-
tal narcisista. O desenvolvimento da crianca é funcao direta da atitude matarna, e
mais particularmente do clima afetivo que gera em torno do filho.
O RITMO DAS MAMADAS,
As atitudes oscilam entre a rigidez da puericultura antiga e 0 “deixar-fazer,
que consiste em satisfazer as necessidades da crianca no momento que ela deseja.
Pensamos que o melhor consiste em descobrir um certo ritmo que vai insta-
lar-se progressivamente, tendo em conta as necessidades da crianca. E necessario
descobrir os ritmos préprios da crianca, a fim de possibilitar uma certa periodicida-
de.
A RELACAO CORPO A CORPO E 0 DIALOGO TONICO
A crianga tem necessidade de estimulos humanos para desenvolver-se (ver
p. 48); mas € 0 intercémbio corpo a corpo, o contato cutaneo que parece ter um
rol essencial na relacdo do recém-nascido com a mie (ver p. 48-49). E esta a razio
pela qual prefere-se a alimentacdo ao seio que amamadeira. Momentos intensos destas
relagBes além do seio so 0 banho, a linguagem, os beijos e as caricias que acompa-
nham 0 deitar da crianga. O recém-nascido, com todos estes cuidados, vive uma re-
74
lago muito rica. O resultado desta relacdo é a instalacdo de um tono que oscila en-
tre um estado de tensio moderado correspondendo as necessidades e um estado de
relaxacio, tradugio do prazer. Pelo contrario, se a crianca é mal cuidada, se suas ne-
cessidades nao sao satisfeitas, se a mae impaciente a agarra bruscamente, se a sua an-
siedade se traduz por um excesso de tensio, a crianca reagird por descargas tonicas.
Quando esta situac&o ¢ muito intensa, a crianga pode ser nervosa e irritavel
0 equilibrio da mae condiciona 0 equilibrio emocional da crianca. Este equi-
librio néo depende sé de reagées conscientes da mie, mas sim de sua vida incons-
ciente, que faz com que ela esteja distendida ou nervosa.
AS CONDICOES DO AMOR MATERNAL
Todos os conflitos inconscientes da mae correm o risco de repercutirem na
crianga através da relacdio mae-filho.
1— As dificuldades na relago mae-filho. A relacdo entre a mie e seu recém-
nascido esta precedida por toda uma atividade fantasma que depende de suas rela-
cées com a sua propria mae durante o conflito edipico. O recém-nascido correspon-
de a esse fantasma de crianga que a mae desenvolve depois de muito tempo; como
que ele se afasta de forma importante? As vezes a luta é enganadora e angustiada
entre a realidade e 0 imaginério. Por outro lado, todo amor supde um intercémbio,
deve ter um retorno. 0 amor maternal em um primeiro momento dirige-se a um ser
ainda imaturo. Passado 0 parto, a volta 4 casa, a mae entra no ritmo da vida cotidia-
na, investe muito no recém-nascido, pode, inconscientemente, buscar com avidez as
primeiras manifestacdes de satisfaco da crianga. O bebé nao tem condi¢des ainda
de manifestar interesse pelo seu ambiente e parece ficar insensivel. Uma mie impa-
ciente, ansiosa ou decepcionada pode desinvestir-se e dar mais importancia a outras
atividades. Esta fase serd vivida como uma relaco de frustragao; deve ser a mais tar-
dia possivel, a fim de conservar intacto o dinamismo de desenvolvimento do recém-
nascido.
2—Os problemas colocados pela dindmica familiar. A compreensio deste
problema tem sido profundamente perturbada pelas pesquisas freudianas. A psica-
nalise nos mostra que o jogo relacional é constantemente influenciado pelos confli-
tos inconscientes dos protagonistas do grupo familiar. E importante que a mie viva
um clima afetivo para que ela possa jogar plenamente seu papel, isto é, desinvestir 0
maximo possivel de outros interesses, a fim de dar toda sua energia para o bebé.
“Os terapeutas observam que, para que a familia permita aos filhos um desenvolvi-
mento harmonioso, os pais devem estar unidos, preservar as fronteiras entre as gera-
Ses e assumir de forma continua o papel de seu sexo.” *
*P. Angel, “Le Role des parents dans da la formation de l'enfant", Gazette Médicale de France,
21 décembre 79.
75
CONCLUSAO
O estado de simbiose, segundo a expressio empregada por Wallon,” que une
© filho a sua mie, passa por varias fases antes de terminar na formacao e na desco-
berta do objeto “libidinal”. Até o comeco dos 3 meses, situa-se a fase narcisista pri
maria, onde todas as necessidades permanecem na pessoa e onde sua vida esté ainda
entre a alimentago e o sono.
Esta fase estd ativamente consagrada & organizacao das estruturas inatas. As
fungdes defensivas do organismo estao asseguradas por um limiar elevado de per-
cepcao que age como uma verdadeira barreira biologica, segundo a concepoao de an-
‘tropélogos tais como J. Henry. Segundo a qualidade dos cuidados fornecidos & crian-
a, esta barreira persiste ou se torna mais ou menos permedvel as informacées pro-
venientes do ambiente.
A aparic&o do sorriso social marca o inicio das relacBes sociais entre 0 bebé
€ seu ambiente, fecha o periodo de organizacao narcisista e marca a entrada no pe-
riodo de intercdmbios pessoais.
Papel da mae no desenvolvimento da funcdo da comunicagao
DO CONTATO FISICO AO CONTATO VISUAL
intercdmbio corpo a corpo das primeiras semanas tém permitido vencer a
barreira defensiva representada pelo limiar elevado das percepcées, protegendo a
crianga dos estimulos massivos do mundo exterior. Desde 0 2° més, ao estadio do
objeto precursor, 0 bebé vai manifestar um jnteresse evidente por seu limite e mais
particularmente pelas pessoas que 0 rodeiam.
Antes da organizacdo visual (ver p. 46), ndo sendo capaz de ver os detalhes, a
crianca é particularmente estimulada pela presenca do adulto, que busca entrar em
comunicacao com ela. E a pessoa humana — e nao os estimulos fisicos, como a luz,
© ruido — que desperta o interesse da crianca. O lactente tem a capacidade de en-
tender as expressdes de outra pessoa e responder eventualmente através de um con-
tato corporal, mas é sobretudo 0 contato visual que é a base do intercdmbio; mais
tarde 0 contato verbal ter o mesmo papel.
ROL ESPECIFICO DA MAE**
As criangas nao respondem aos adultos sempre da mesma forma. Experi
Cias feitas tém mostrado que um rosto distendido desencadeia reacées positi-
*De I'Acte 4 la pensée.
**Qu de sua substituta
76
vas s6 na crianga. Ao contrario, um rosto fechado desencadeia reagdes de de-
fesa.
Para entrar em relago com a crianga, é necessério buscar seu olhar, estar
atento a suas diferentes expresses e dar tempo a crianga a familiarizar-se com o
rosto estranho. Todo comportamento agressivo: brusco, fechamento de sobrance-
thas, voz alta provocam imediatamente 0 medo. A crianca distingue 0 comporta-
mento amigavel daquele agressivo.
Sera que a crianga tem uma atitude particular quando vé a sua mae? Sabe-
mos que a imagem da mie nao é ainda reconhecida no sentido perceptivo do ter-
mo (p. 39), mais sincreticamente, a crianga reconhece a situaco privilegiada na re-
lagiio com a sua mae, quando ela tem cumprido este papel fundamental.
A me, desde as primeiras semanas, busca o intercambio com o bebé, entra
em contato propiciando-Ihe situagées privilegiadas na hora das mamadas, do ba-
nho. . ., torna-se cada dia mais habil em detectar as necessidades da crianga e satis-
fazé-las melhor. Por seu lado, a crianga de 2 meses comeca a reconhecer esta com-
panheira privilegiada e a distingue de outra pessoa, mesmo conhecida.
E através do reconhecimento desta familiaridade do intercémbio que nasce a
afeicdo privilegiada descrita pelos psicanalistas. Sabe-se que os bebés de 2-3 meses
+tém reacdes de “inquietude” quando algum detalhe no rosto de sua mae tem-se mo-
dificado: éculos diferentes, troca de penteado. No estégio objetal é onde, anivel de
vivéncia relacional, a crianga faz a discriminacao da pessoa materna.
A MAE E OS JOGOS SOCIAIS DA CRIANCA
‘A me, através da forma de olhar a crianga, de Ihe sorrir, de Ihe falar, de to-
cé-la, de brincar, é um estimulante para desencadear os atos expressivos e sociais
da crianca: movimentos de bracos, gestos com as maos, sorriso, gorjeios, gritos,
movimentos de cabega, olhar, etc.
Contrariamente ao que se poderia pensar, a crianca nao imita a mae; é o in-
verso. E a mae que imita o bebé, servindo de eco a suas expressdes mimicas e ver-
bais. Dessa forma, a crianga tem a tradugo visual e auditiva de seus préprios mo-
dos de expresso, sendo o suporte no jogo de reagdes circulares organizadoras dos
automatismos indispensaveis a comunicagdo. O ritmo dos movimentos da mie de-
ve adaptar-se 8 crianga, realizando um intercambio ténico sincronizado.
E por intermédio de sua me que a crianca faz a experiéncia da comunicacéo
com seguranca. Esta experiéncia, desencadeando prazer, vai incité-la a generalizar
progressivamente todo o ambiente humano. E dessa forma, segundo Ch. Buhler, que
aos 5 meses a crianca é um ser socialmente ativo, buscando um contato esponténeo
com todas as pessoas que se aproximam dela.
Desde pequeno, o bebé dispde de um sistema de comunica¢o nao verbal, per-
mitindo-Ihe transmitir suas impressées. A linguagem é um prolongamento destas
impresses. A mae, pela aptido de compreender a crianga e dialogar com ela, tem
um rol essencial no acesso da crianga & atividade social.
7
Rol da mie na experiéncia de frustracdo
AOS 8 MESES
A partir da descoberta da imagem materna, a crianca faz a experiéncia da frus-
tragio, quando, pela sua auséncia, ela “se separa” dela.
O mesmo tempo, a mae presente pode separar-se da crianga, ja seja no caso do
desmame ou dando atengio aos outros filhos ou a seu marido. A atitude afetuosa da
mée, mas firme, deveré permitir que progressivamente a crianga aceite esta separa-
cdo sem sofrer.
E 0 perfodo em que a crianca passa da mamada a alimentac3o com colher. A
suceo do polegar mostra que estas experiéncias de frustracdo tém sido muito vio-
lentas.
AOS 12 MESES, A CRIANGA DEVE CONTROLAR
SEUS MOVIMENTOS
Isto implica que a crianca tem a possibilidade de exibir sua motricidade es-
ponténea. E 0 relacionamento afetivo com a sua mie e 0 desejo de fazé-la feliz 0
que permitira 4 crianga suportar esta frustragdo. Segundo Spitz, entre os 12 e 15
meses, a crianca é capaz funcionalmente de reagir a um gesto que a gratifica, como,
por exemplo, agarrar um objeto que se Ihe atira. E capaz de compreender o signifi-
cado do NAO como um simbolo de desaprovacdo materna. Este NAO é expresso
por uma mimica ou mais tarde pela palavra. E importante nao descuidar este apren-
dizado, que é 0 suporte de uma boa sociabilizacao
A fim de evitar que esta experiéncia da frustragao seja traumatizante ou nega~
tiva, 6 necessdrio que a mae saiba dosar compreensio e relativa severidade.
O APRENDIZADO DA LIMPEZA
Este problema, que tem uma caracterizaco social, no pode ser abordado fo-
ra do contexto social. Tendo em conta os fatores de maturaciio que permitem &
crianga um controle intencional dos esfincteres estriados, é a partir dos 15 meses
que se pode iniciar este aprendizado. Aos 2 anos, a crianga controlar os esfincte-
res de dia e aos 3 anos & noite.
A educacio do controle esfincteriano deve ser efetuada em um clima de segu-
ranga, afeig&o, de preferéncia pela mae, em quem a crianga tem confianga. Inabili-
dades e rigidez nesta area poderdo ter repercussbes tardias que se traduzem por
comportamentos neuréticos.
78
Papel do meio familiar na aquisic¢ao das praxias
e na descoberta do mundo dos objetos
AGAO EDUCATIVA ANTERIOR A ATIVIDADE PRAXICA
PROPRIAMENTE DITA
Neste estagio, 0 objetivo é favorecer a maturacdo\criando um meio estimu-
lante e propiciando a criacdo de um potencial energético, de quem dependeréo as
possibilidades ulteriores no plano dos atos intencionais.
Ja vimos a importancia dos fatores psicoafetivos no desenvolvimento da co-
municago; serd necessario estimular metodicamente a crianca.
No caso de uma crianga que tenha desenvolvimento normal, nao é necessdrio
forcar; é suficiente criar condigdes afetivas e ambientais para permitir que a matura:
40 se efetue num ritmo normal. Para isto, é necessério que a crianga entre em con-
tato com um certo numero de objetos para exercer sua motricidade. O problema néo
6 tanto de movimenté-la, mas sim de deixar livres seus movimentos.
O perigo da gindstica no recém-nascido é trocar um ato de intercémbio e de
amor por uma aco ténica, mecanica, correndo o risco de fazer da crianga um obje-
to manipulado. Ao contrario, se a mae pratica com a crianga jogos sociais, os inter-
cambios sensoriais servem de ponto de partida as reacbes motoras da crianca.
Particularmente, estes intercimbios mae-filho melhoram:
— a coordenagao éculo-manual; ©
— 0 estimulo visual ocasiona o jogo de reagées tonicas necessarias & orienta:
do da cabega no acompanhamento visual do objeto.
Por outra parte:
— colocando as mos a uma certa distancia da crianca e movimentando os de-
dos, desencadeia o ato de agarrar;
— colocando no campo visual da crianga diferentes objetos, desencadeia a pre-
ensio;
— facilitando a manipulagdo de objetos variados colocados nas proximidades
da crianca, permite aperfeicoar a coordenacao manual (agarrar, tirar, colocar, apre-
ender, abrir, fechar. . .)
A CONTRIBUICAO DO AMBIENTE NA AQUISICAO DAS PRAXIAS
1— As praxias alimentares. A partir dos 15 meses, a crianca poder confron-
tar-se com a aquisiciio das praxias em relacdo com a alimentagdo; beber numa xica-
ra, comer com uma colher. E aos 2 anos que a crianca adquire autonomia e podera
comer e beber sem ajuda
Para isso é importante que a mie tenha paciéncia e tolere os erros e as sujei-
ras no inicio e que saiba valorizar os éxitos da crianga.
79
2— A locomogao. E importante que a crianga tenha possibilidade de locomo-
ver-se de rastros e circular, e para isto ¢ necessario um espago, se possivel atapetado,
onde ela possa fazer suas experiéncias motoras sem perigo. Esta experiéncia de loco:
mogao e de exploracdo do espaco comeca em torno dos 9 meses. O cercado apre-
senta a vantagem de poder ficar de pé, mas deve-se evitar o confinamento da crian-
¢a, sobretudo se ndo ha pessoas em torno.
ROL DA MAE NA DESCOBERTA DOS OBJETOS
E NA EXPLORAGAO DO AMBIENTE
1 — Papel facilitador e estimulante. Até o estagio objetal, a relacdo mie-filho
representa uma verdadeira simbiose. O papel da me é agora de satisfazer de forma
incondicional as necessidades da crianca. E desta satisfa¢io que dependerd o equi-
librio ténico-emocional que condiciona a aptidao na conquista dos objetos.
A descoberta do objeto libidinal (7-8 meses) precede a descoberta dos obje-
tos materiais. Durante esta fase intermediéria, a crianga cuja bagagem locomotora
tem se enriquecido encontra-se num mundo estranho, até perigoso. E a presenca
materna facilitadora que dara a crianca a seguranca, através do equilibrio tonico-
emocional, incitando-a a prolongar sua experiéncia no mundo que a circunda. Du-
rante todo este periodo, a crianca permanece muito dependente da presenca da
mie e tera necessidade da concordancia afetiva implicita dela, a fim de levar a ca-
bo suas experiéncias motoras. O desacordo ou o desinteresse da mie desencadeia
uma forma de ansiedade, devido & qual a crianca tende a fechar-se.
Muito rapido a crianca alcanga intuitivamente compreender que sua ativida-
de tem uma significagao positiva ou negativa para o adulto, e é bom que esta significa-
Go fique clara para ela. Ja temos salientado que a permanéncia da atividade de in-
vestigacdo supde por em relacéo o fim perseguide com o resultado da atividade mo-
tora, Esta adequaco entre o fim persequido e a aco motora da crianga ainda nao
pode ser valorizada por ela. A Unica referéncia que ela possui é o resultado que ela
provoca na sua mae. E necessario, entdo, que a significacdo da atividade da crianca
seja expressa claramente por uma mimica e um tom de voz, permitindo-Ihe situar-se
perante 0 sucesso ou o insucesso de sua tarefa.
E por isso que salientamos a importancia de que se revestem para a crianga as.
reacdes do adulto frente a suas proprias atividades.
A me deve jogar neste estagio o papel de um objeto seguro e facilitador, inci-
tando a crianca a fazer suas experiéncias. Uma atitude inadequada da mae podera
ser origem de inseguranga e de inibico na crianca.
2 — Papel da mae no limite da atividade da crianca
a) As condigées de aceitacéo da frustragéo. A mae que, no comeco, é facilita-
dora, deve tornar-se progressivamente facilitadora e limitadora, obrigando-se a ado-
tar uma atitude nova na relaco com a crianga. Um certo numero de precaugdes de-
vem ser tidas em conta antes da colocagio de limites.
80
No plano funcional. O aprendizado da inibigo implica um nivel de matura-
co cortical que depende da maturidade da motricidade piramidal. A crianca é ca-
paz de suspender um gesto espontaneo (ver p. 59) ou de inibir uma atividade mani-
pulatéria que estava sendo realizada. E importante o equilibrio entre o espontaneo
@ 0 controlado, sem o que no pode desencadear-se este aprendizado, que é muito
importante nos controles ulteriores. O Unico a cuidar é a seguranca da crianga; é im-
portante que as condic&es do ambiente sejam propicias para este aprendizado, a
fim de nao obrigar os pais a interditarem ou limitarem seu espaco de vida.
No plano da compreensao. A crianca deve compreender a significago do
NAO expresso seja por uma mimica, um gesto de cabeca ou mais tarde pela prd-
pria palavra. Jé temos comentado como a crianga, através de sua atividade praxica,
aprende progressivamente a observar os efeitos que ela produz na mie, a entender
05 sinais de aprovacio e de desaprovagio e, mais tarde, saber 0 que pode fazer ou
no pode fazer.
‘No plano afetivo. Conseguir renunciar a satisfaco de um prazer imediato sem
que isso repercuta negativamente na drea afetiva. Isto vai permitir crianca uma
certa tolerancia a frustracdo, o que mais tarde permitird, sem perturbar a personali-
dade, suportar a decepgao, 0 fracasso, a insatisfacdo. O apoio afetivo da mae permi-
tira & crianca suportar a frustragdo. O medo de perder o amor materno faz com que
a crianca obedeca as exigéncias da mie. Estas exigéncias no devem ser muito rit
das. As possibilidades de obedecer as interdicdes nos permitem compreender que es-
ta experiéncia s6 pode ser feita com a mie, jé que a crianca cu/da muito 0 amor ma-
terno, portador de sentimentos de seguranca.
4) A importancia da estabilidade nas proibicées. Roger Mucchielli tem insisti-
do na necessidade de que os limites impostos a crianca sejam estaveis. Eles dio idéia
dos valores dos atos e acontecimentos da vida cotidiana. E importante que estes va-
lores sejam estaveis, a fim de evitar a inseguranca na crianca, permitir um desenvol-
vimento equilibrado.
Recordamos que estes limites nao podem ser muito intensos, a fim de evitar
uma sobrecarga emocional, que teria efeito negativo.
Inversamente, se 0 meio é muito permissivo, sem limites, desencadeia na
crianca uma inseguranca e a liberacio de uma motricidade impulsiva, que seré difi-
cil de canalizar e de controlar.
A atitude da mie deve ser equilibrada, dependendo das circunstancias facilita-
doras ou limitadoras. Esta atitude, que tem sido ja vivida pela crianca nas primeiras
experiéncias de frustracdo (ver p. 78), prolonga-se em todas as experiéncias de in-
vestigacdo da crianca (ver p. 79)
81
Você também pode gostar
- CARS2Documento4 páginasCARS2Milena A. Barbosa100% (2)
- EBAIDocumento1 páginaEBAIMilena A. BarbosaAinda não há avaliações
- Avaliação TEA AdultoDocumento1 páginaAvaliação TEA AdultoMilena A. BarbosaAinda não há avaliações
- 1190-Texto Do Artigo-3297-3434-10-20160708Documento3 páginas1190-Texto Do Artigo-3297-3434-10-20160708Milena A. BarbosaAinda não há avaliações
- Pagar Via PixDocumento1 páginaPagar Via PixMilena A. BarbosaAinda não há avaliações
- Palestra 03 Juliana MDocumento20 páginasPalestra 03 Juliana MMilena A. Barbosa100% (1)
- Autismo e Dificuldades de ComunicaçãoDocumento59 páginasAutismo e Dificuldades de ComunicaçãoMilena A. BarbosaAinda não há avaliações
- Edital Ludens Ce Usc c1 2023 Final ProrrogadoDocumento9 páginasEdital Ludens Ce Usc c1 2023 Final ProrrogadoMilena A. BarbosaAinda não há avaliações
- Mutismo SeletivoDocumento10 páginasMutismo SeletivoMilena A. BarbosaAinda não há avaliações
- Escala AtaDocumento6 páginasEscala AtaMilena A. Barbosa100% (1)
- Em Busca Do Vale Encantado para ColorirDocumento1 páginaEm Busca Do Vale Encantado para ColorirMilena A. BarbosaAinda não há avaliações