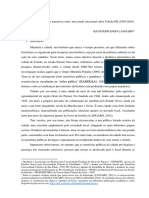Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Historia Oral Memorias e Migracoes Na FR
Historia Oral Memorias e Migracoes Na FR
Enviado por
Jiani Fernando Langaro0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações29 páginasTítulo original
Historia Oral Memorias e Migracoes Na Fr
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações29 páginasHistoria Oral Memorias e Migracoes Na FR
Historia Oral Memorias e Migracoes Na FR
Enviado por
Jiani Fernando LangaroDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 29
© Cegraf UFG, 2023
© Silvana Aparecida da Silva Zanchett; Ary Albuquerque Cavaleanti Junior;
Eliene Dias de Oliveira; Jiani Fernando Langaro (org.), 2023
Projeto grafico e capa
Géssica Marques de Paulo
Diagramagao
Allyson Moreira Goes
Revisao
Vanda Ambrésia Pimenta
Dados Internacionais de Catalogaso na Publicago (CIP)
GPT/BC/UFG
1829 Trilhando caminhos, tecendo redes: historia, linguagens ¢ outras
possibilidades interdisciplinares [Ebook] / organizadores,
Silvana Aparecida da Silva Zanchett... [et.al.]. -2. ed. - Dados
eletrdnicos (1 arquivo : PDF). - Goiania : Cegraf UFG, 2023.
Inclui bibliografia.
ISBN: 978-85-495-0732-7
|. Educagao. 2. Abordagem interdisciplinar do conhecimento na
educagao. 3. Linguagem e educagdo. 4. Histéria oral. 5. Mulheres. I
‘Zanchett, Silvana Aparecida da Silva.
DU: 37
Bibliotecéria responsivel: Adriana Pereira de Aguiar / CRB-1: 3172
HISTORIA ORAL, MEMORIAS E MIGRAGOES
NA FRONTEIRA ENTRE BRASIL E PARAGUA\
UMA ANALISE DE NARRATIVAS DE
TRABALHADORES BRASIGUAIOS
Jiani Fernando Langaro
Consideracées iniciais
Historicamente as fronteiras foram fixadas para delimitar os
estados nacionais dividir povos e nacionalidades. Todavia, os se-
res humanos resistem as delimitagées territoriais que se tenta lhes
impor, ou seja, as migragées sao inimigas das divisas. H4 um desejo
ou mesmo uma necessidade de cruzar as linhas lim{trofes, nao por
um impulso natural, tampouco por determinagoes de forcas extra
-humanas: esse desejo ou imposigdo sao historicamente construfdos
e experienciados. Tal é 0 cendrio presenciado nos limites entre Brasil
e Paraguai, uma fronteira rebelde em que as demarcagées oficiais nao
coincidem necessariamente com 0 vivido. Ao longo de todo 0 século
XX, paraguaios e brasileiros cruzaram a linha da fronteira para viver
do outro lado, num pais em que nao nasceram. Alguns emigraram
definitivamente de um pafs para se radicar no outro. Para outros, os
emigrantes retornados, essa experiéncia foi transitéria.
Neste capitulo, analisamos as narrativas de pessoas que se en:
contram na segunda situagao, a das “migragées de retorno”: brasileiros
que emigraram para o Paraguai, onde passaram boa parte de suas
vidas, e depois voltaram ao Brasil. Serao apresentadas entrevistas
267
Sumério
orais com trabalhadores migrantes residentes em pequenas cidades
no lado brasileiro da fronteira entre Brasil e Paraguai. Lissas pessoas
integram um movimento migratério mais amplo, formado de brasi-
Jeiros que emigraram para o pais vizinho a partir da década de 1970,
© que, em ambos os paises, rendeu-lhes a alcunha de brasiguaios.
As narrativas orais de que trataremos neste capitulo foram pro-
duzidas ainda na primeira metade da década de 2000, quando rea-
lizamos uma pesquis
de iniciagao cientifica sobre 0 municipio de
Marechal Candido Rondon, estado do Parand, ¢ outra investigacio
para o mestrado, tendo como objeto de estudo o municfpio de Santa
Helena, estado do Parand.! Embora nossos objetivos, naquela época
de feitura das entrevistas, nao fossem trabalhar 0 transito humano pela
fronteira, aquele era um momento de grande retorno de brasiguaios,
e muitos deles procuravam se fixar nas reas urbanas das pequenas
municipalidades brasileiras situadas na fronteira com o Paraguai.
Como jé mantinham relagdes com essas cidades antes mesmo de
retornar ao Brasil, isso contribuiu para que as escolhessem como
local de residéncia. Por isso 0 transito fronteirigo ficou bastante acen-
tuado nas entrevistas orais, permitindo a posterior retomada dessas
narrativas com 0 objetivo especifico de problematizar as relagdes dos
narradores com a fronteira.
Para este capitulo, serao analisadas as narrativas orais de quatro
destes trabalhadores brasiguaios pobres retornados ao Brasil, todos
eles apresentados aqui com nomes fictfcios em respeito a sua privaci-
dade: Carlos, metalirgico, morador da cidade de Marechal Candido
1 A pesquisa de iniciagao cientifica foi orientada pela Profa. Dr* Geni Rosa
Duarte no curso integrado de Licenciatura e Bacharelado em Historia, na
Uni
intitulado Escolarizagdo, trabalho e vida urbana em Marechal Géndido
ersidade Estadual do Oeste do Parana. Dela se originou o relatério
Rondon (Langaro, 2003). Jé a pesquisa de mestrado foi orientada pelo Prof
Dr. Paulo Roberto de Almeida, no Programa de Pos-Graduacao em Historia da
Universidade Federal de Uberlandia. Deu origem a dissertagao Para além de
006).
pioneiros e forasteiros: outras histdrias do Oeste do Parand (Langaro,
268
Sumério
Rondon, estado do Parana, e cuja entrevista foi realizada em 7 de
dezembro de 2002, quando ele tinha 29 anos; Alberto, servente de
pedreiro, habitante da mesma cidade, entrevista realizada em 29 de
novembro de 2002, estando ele com 24 anos; Renato, construtor,
morador da cidade de Santa Helena, estado do Parané, e entrevistado
em 9 de julho de 2004, aos 32 anos; Fernando, eletricista, residente
na mesma cidade, entrevista ocorrida em 11 de julho de 2004, quando
ele contava com 27 anos
Esses quatro narradores foram escolhidos em virtude de sua “re-
presentatividade”, que, segundo Alessandro Portelli (1996), nao esta
ligada a sua capacidade para expressar o que pensa a média de uma
sociedade; para ele, um narrador é representativo quando consegue
articular narrativamente elementos compartilhados por seu grupo
social. Assim, representatividade se refere mais a possibilidades que
a médias. No caso dos narradores selecionados, a representativida-
de de suas falas permitiu confrontar visdes e tendéncias narrativas
antagénicas sobre o Paraguai.
No momento histérico em que realizamos as entrevistas, ficou
patente a recorréncia de certos enredos — no sentido de padroes
narrativos — para expressar 0 tempo vivido no estrangeiro. Quando
retomamos as narrativas orais, conseguimos, apés uma andlise apro-
fundada dessas fontes, distinguir dois enredos muito nitidamente, um
que apresenta a vida no Paraguai destacando seus aspectos negativos
¢ outro que a apresenta de forma positiva. Duas das narrativas sao
povoadas por elementos auspiciosos e até mesmo romantizados da vida
no outro lado da fronteira; nas outras duas, a t6nica sdo os aspectos
negativos sobre o lugar. Duas formas relativamente padronizadas de
lembrar as trajetérias pessoal e familiar no além-fronteira.
As quatro narrativas trazem em comum 0 universo masculino,
remetendo & vida cotidiana de homens que trabalhavam no campo,
no pajs vizinho. A escolha das narrativas masculinas, no entanto, nao
foi decorrente de um critério estabelecido previamente. Como ja
afirmamos, as pesquisas que originaram as entrevistas orais abordadas
269
Sumério
neste capitulo foram produzidas sem a pretensao inicial de proble-
matizar a vida na fronteire
tematica explorada posteriormente ao
retomarmos essas narrativas para lancar sobre elas novas interrogagées.
Assim, quando realizamos as entrevistas, nao houve preocupagao em
formar um conjunto heterogéneo de narradores que contassem suas
experiéncias fronteirigas, pois, como as pesquisas desenvolvidas na
primeira metade da década de 2000 eram mais amplas, a heteroge-
neidade no interior do grupo de entrevistados se dava em outros ter-
mos. Somem-se a esse fato as dificuldades que tivemos em encontrar
mulheres brasiguaias dispostas a dar entrevistas, principalmente no
estudo realizado em Marechal Candido Rondon. Entendemos que
essa questao nao inviabiliza nossa reflexao, mas requer consideragées
quanto as possibilidades de trabalhar com narrativas femininas dentro
da proposta de corpus documental mencionada e dos parémetros
estabelecidos pela metodologia de andlise da histéria oral. Embora
este nao seja um estudo sobre relagdes de género e sexualidades, tais
questées servem de convite para novas e futuras discussées.
No tocante & metodologia, as entrevistas sao concebidas e anali-
sadas nesta pesquisa a hz de autores como Alessandro Portelli (1996),
Alistair' Thomson (1997, 1998), Janaina Amado (1995), Heloisa Helena
Pacheco Cardoso (2004), Yara Aun Khoury (2004), Luisa Passerini
(1993), Robson Laverdi (2005), Silvia Salvatici (2003) e Verena Alberti
(2008). Esse conjunto variado de referéncias sinaliza que as narrativas
orais devem ser analisadas como memérias em construgao cultural-
mente mediadas e subjetivamente produzidas. Mais ainda, aponta que
o historiador deve saber lidar com as especificidades metodolégicas da
historia oral em vez de buscar uma pretensa objetividade nas falas ¢
trata-las como verdade ou como mentira. E preciso também entender
as falas dentro da cultura em que sao geradas, compreendendo cultura
como maneiras de viver em movimento ao longo do tempo (Williams,
1979). Se as falas tém ligacao com a cultura dos falantes, os sentidos
os significados produzidos pelos entrevistados sao pegas integrantes
¢ fundamentais de sua cultura.
270
Sumério
Assim, a preocupacao aqui nao é realizar um levantamento sobre
as condigées de vida dos narradores no Paraguai, no intuito de efetuar
dentincias sociais. O objetivo central é entender como as narrativas
orais retratam as migragées pela fronteira, quais significados os entre-
vistados imprimem aos fatos narrados sobre suas vidas no exterior €
como estes significados auxiliam na compreensao de suas trajetérias
e culturas. Afinal, como indica Thompson (1987),’ eles so mediados
pela experiéncia social, que, no caso dos narradores, 6 formada com
base no lugar social que passaram a ocupar em seu retorno ao Brasil.
Esta nao é a primeira vez, que retomamos essas quatro entrevistas
com a finalidade de problematizar as memérias e experiéncias de vida
fronteirigas dos narradores. Em outras duas oportunidades, trabalhamos
com elas, tendo jé produzido dois artigos baseados em seu contetido.
Na primeira publicagao (Langaro, 2013), exploramos as narrativas
que focam nos aspectos negativos da vida no Paraguai; na segunda
(Langaro, 2014), tratamos da visao positiva e talvez romantica da vida
e do trabalho nesse pafs, Embora a op¢ao por trabalhar separadamente
com cada um dos tipos de enredos fronteirigos nos tenha permitido
aprofundar a discussao, ao final da escrita de ambos os trabalhos,
houve um sentimento de incompletude. Parecia que faltava algo para
complementar o debate, como 0 caldeamento ou mesmo 0 contraponto
entre esses dois modos de narrar a vida no Paraguai
Na tentativa de suprir essa lacuna, resolvemos mais uma vez,
revisitar nossos narradores para tratar, agora de maneira conjunta
e/ou em contraposigao, as visdes negativada e positivada sobre o
Paraguai. Seus enredos sintetizam parcelas da complexidade existen-
te nas relagées entre o Bra
il ¢ esse pafs vizinho. Particularmente,
constatamos que, embora o Paraguai seja tao préximo ao Brasil —
2 Deacordo com E. P. Thompson (1987), a experiéncia humana € decorrente
da capacidade que as pessoa
base em seus referentes culturais a realidade vivida. Refere-se ao potencial
dos seres humanos para ler o mundo circundante e agir sobre ele de forma
nao totalmente livre, mas também nao totalmente determinada.
tém para tratar em suas consciéncias e com
271
Sumério
fisica, comercial e diplomaticamente -, ele ainda é pouco conhecido
€ muito incompreendido pelos brasileiros, e vice-versa. I! sobre essa
complexidade das relagées entre ambos os paises ¢ scus habitantes
que trataremos na préxima segao.
Brasil e Paraguai: complexas relacdes, uma histéria de tensdes
No plano das relagées internacionais, apesar da aproximagao
ocorrida entre Brasil e Paraguai no final do século XX e da formagao
do Mercado Comum do Sul (Mercosul), o envolvimento entre os
dois paises é pontuado historicamente por conflitos, cuja expressao
méaxima foi a Guerra do Paraguai (1864-1870). Também conhecida
como a Guerra da ‘Iriplice Alianga ou Guerra Guasti, terminologia
empregada no Paraguai, esta é considerada 0 maior conflito bélico
da América do Sul. Configura-se como um trauma nas memérias
paraguaias, ainda muito presentes nos debates politicos nacionais
(Souchaud, 2011), sendo um dos marcos da subordinagao do pais
na rea de politica internacional
Desenvolvidas no plano macropolitico, tais tensdes acabam por
se espraiar por todo o tecido social, de maneira a interferir na vida
cotidiana de ambos os pafses. Atualmente, a imagem do Paraguai
circulante no Brasil é a de um pais pobre, desorganizado, economi-
camente atrasado e, portanto, inferior. De modo anélogo, no Paraguai
também circula uma imagem negativa dos brasileiros como povo
que subjugou os paraguaios com a vitoria na guerra do século XIX,
suposta origem dos grandes problemas enfrentados pelo pais no pre-
sente. Contribuem para esse quadro os intimeros crimes de guerra
cometidos por brasileiros durante o grande confronto; a anexagdo
pelos vencedores, principalmente Brasil e Argentina, de terras em
litigio na fronteira com o Paraguai; a privatizagao de terras estatais
paraguaias, também imposta pelos vencedores, de forma a originar
o latiftindio e a grande concentragao fundidria existentes naquele
pats (Almeida Neto; Flores, 2014)
272
Sumério
Para agravar as tensdes entre os dois pafses, a imigragao brasileira
no Paraguai, intensificada desde a década de 1950, ocorreu no inte-
rior de um contexto problematico, sendo instigada pelas politicas de
desenvolvimento adotadas na ditadura do general Alfredo Stroessner.
Ou seja, essa imigracao, alids, expressiva, nao resultou de um amplo
debate com a sociedade ou mesmo de uma discussdo democratica
com as instituigées paraguaias. Entre as décadas de 1970 e 1980, a
comunidade brasileira chegou a representar cerca de 10% da popu-
lagao do Paraguai (Baller, 2008). Nesse perfodo, empresas coloniza-
doras paraguaias venderam Areas rurais de diferentes dimensdes para
agricultores brasileiros e, nas décadas de 1980 e 1990, verificou-se
nas regides fronteirigas uma intensa concentragao fundidria decor-
rente da modernizagao da agricultura. Tal concentragao, entretanto,
nao se verificou apenas no Brasil, mas também no Paraguai (Silva,
2010). Apés a derrota do regime de Stroessner, sucedida em 1989,
movimentos reivindicatérios de polfticas de reforma agrdria passaram_
a questionar a presenga de brasileiros e de suas propriedades rurais
no pafs (Baller, 2008). Nessas circunstAncias, as memérias da guerra
sao invocadas para denunciar que a submissao do pais ao estrangeiro
contribuiu para excluir a populagao paraguaia do acesso & terra, €
o nacionalismo passa a ser 0 elemento balizador de reivindicagoes.
No contexto dos anos de 1970 e 1980, brasileiros de diferentes
niveis sociais adquiriram terras no pafs vizinho, desde pequenos e
médios agricultores até latifundidrios. Para 14 afluiram também os
Ppequenos posseiros, aqueles que cultivavam dreas rurais sem as
ter comprado ou regularizado perante a justiga. Os posseiros eram
trabalhadores rurais pobres que, em grande fluxo migratério, na
década de 1980, dirigiram-se ao Paraguai para trabalhar no cultivo
de hortela, recebendo terras cedidas pelas empresas colonizadoras
para que fizessem nelas o trabalho de desmatamento. A partir da ex-
pansio da produgao mecanizada de soja no Paraguai, principalmente
na década de 1990, esses posseiros sofreram pressao para deixar ou
273
Sumério
comprar as terras, cujos valores eram majorados pela especulagao
imobilidria. Assim, ante a impossibilidade de se tornarem pequenos
, 2010).
Os posseiros geralmente eram “caboclos”, como sao geralmente
proprictarios, muitos retornaram ao Brasil (Sib
chamados na fronteira os brasileiros mestigos, ao passo que, nos ou-
tros estratos de proprietarios, era mais comum encontrar brasileiros
brancos, descendentes de europeus. Deixando 0 Sul do Brasil, onde
ja eram pequenos ou médios proprietérios, estes emigravam para
o Leste do Paraguai ¢ ali conseguiam adquirir areas maiores para
o cultivo. Entre os motivos para a emigracdo, esse segundo grupo
citava o desejo de obter propriedades que pudessem ser partilhadas
com os filhos como heranga; 0 fato de possuir, no Brasil, uma Area
muito diminuta e, portanto, invidvel para a modernizagao agricola
ou de ter sido desapropriado para a edificagéo de grandes obras
governamentais, como a Usina I idrelétrica de Itaipu, construfda na
regido fronteiriga na passagem da década de 1970 para a de 1980; a
necessidade de desistir de uma Area rural no Brasil por falta da devida
regulamentagao dessa rea sob 0 ponto de vista legal
Embora as atividades rurais tenham sido 0 grande chamariz
do Paraguai, dentro do universo pesquisado fica perceptivel que
muitos brasileiros no conseguiram sobreviver no campo nesse pas
Os motivos foram variados, envolvendo a condigo de posseiros, os
conflitos fundidrios e as dificuldades em permanecer no meio rural
em face do baixo subsidio estatal & agricultura. Esses e outros fatores
resultaram em um violento processo de concentragao fundiéria no
Paraguai, na passagem do século XX para o XXI
Em seu retorno ao Brasil, muitos daquele:
brasileiros, empobre-
cidos e na condigao de trabalhadores rurais sem terra, acabaram por
se integrar aos movimentos brasileiros de luta pela reforma agraria.
Aliés, foi no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra que se
forjou o termo “brasiguaio” para denominar esses brasileiros pobres
que emigraram para 0 Paraguai e depois voltaram ao solo patrio:
“O termo [oi a expressao ¢ bandeira de luta dos migrantes [e serviu
274
Sumério
para representd-los na imprensa], que levou a situago vivida por eles
ao conhecimento de todo o pats” (Silva, 2010, p. 17).
Brasiguaio, no entanto, é um vocdbulo de dificil conceitua
pois, ao longo do tempo, adquiriu diferentes sentidos, como aponta
Leandro Baller (2008, p. 163-164)
Para os especialistas ¢ pesquisadores brasileiros que tra
balham o tema, o brasiguaio é compreendido como 0
migrante brasileiro que foi ao Paraguai e nao conseguit se
reproduzit enquanto agricultor, Sofreu o desgaste de dé-
cadas de trabalho em terras estrangeiras e posteriormente
retornou ao Brasil, fomentando as periferias das cidades
do este paranaense e/ou a populagao do movimento
de trabalhadores sem terras, e por tiltimo ainda vive em
condigées precarias no pats vizinho ou no Brasil. [...] Por
outro lado, a maioria dos pesquisadores paraguaios, salvo
algumas excegées, como 0 sociélogo Ramén Fogel, com-
preendem como brasiguaios todos os brasileiros que foram
a0 Paraguai desde o ir
do movimento migratério que
deriva do final da década de 1950, adentrando as décadas
seguintes. Outra percepgao desse novo individuo que ha-
bita os dois paises e é dinamizador do espago fronteirigo
vem da imprensa, que amplia a nocd
» de quem possa ser
© brasiguaio, Tanto a imprensa brasileira como a paraguaia
nao procuram especificar quem ele realmente seja, au-
mentando a disposigéo de pessoas que, queiram ou nao,
» introjetadas enquanto brasiguaios no cenério social
Das perspectivas descritas, brasiguaio pode designar tanto os
trabalhadores brasileiros pobres que viveram no Paraguai e retorna-
ram ao Brasil, como todos aqueles brasileiros que se radicaram no
pafs vizinho, sem distingdes de classe. Enquanto as duas primeiras
definigdes sao muito empregadas pelos intelectuais do Brasil, a dltima
6 adotada pelas midias paraguaia e brasileira.
Nas pequenas cidades da fronteira do Brasil com o Paraguai,
em especial no estado do Paran4, 0 termo adquiriu conotagées pe-
jorativas para definir aqueles que seriam considerados como cida-
278
Sumério
daos de segunda categoria, nao portadores de direitos. ‘Trata-se de
uma regido que nutre uma autoimagem de sociedade fundada por
proprictarios rurais descendentes de curopeus, principalmente de
alemaes ¢ italianos. Os integrantes dessa sociedade nao concebem
de maneira positiva aqueles que deixam o campo, principalmente
se eles sao pobres e mestigos, e/ou se viveram alguns anos no outro
lado da fronteira, mesmo que nesta estadia sequer tenham apren-
dido os idiomas dos “vizinhos”. Para justifi
r
sses preconceitos,
alegam que retornar ao Brasil nem sempre significa uma ruptura
total dos vinculos pessoais e de trabalho com o pais vizinho (Silva,
2010). Diante do sentido depreciativo aplicado ao termo, brasiguaio
é comumente uma denominagao externa aos sujeitos, nado assumida
como uma identidade pelos retornados do Paraguai.
Foi nesse contexto que tomamos contato com tais sujeitos nas
pesquisas realizadas entre julho de 2002 ¢ janeiro de 2006, quando
eles j4 habitavam as pequenas cidades brasileiras de fronteira, onde
encontraram alguma dificuldade para se inserir socialmente. Ao
analisar suas trajetorias, percebemos que a fronteira nao implica
apenas questoes de ordem legal e diplomatica, mas também relagdes
sociais ¢ culturais, com a consequente produgio de significados
sobre ambos os paises
No interior desse universo significativo é
que problematizaremos aqui aqueles dois enredos mencionados,
muito marcantes nas narrativas dos entrevistados, um que apresenta
memérias positivas da vida no Paraguai e outro que apresenta 0 pais
vizinho por meio da negatividade.
© Paraguai positivo: a romantizagéo da
vida no campo no pais vizinho
Para os nossos narradores, lembrar da vida no Paraguai nao requer
somente refletir sobre 0 tempo em que residiram no exterior, mas
também sobre o trabalho e 0 cotidiano no campo. Tais narrativas sao
produzidas a luz de um momento posterior em suas trajet6rias, apés
276
Sumério
seu retorno ao Brasil e sua insergao no meio urbano de pequenas
cidades fronteirigas. Portanto, elas lidam com os clichés elaborados
sobre Brasil ¢ Paraguai, ¢ ainda com aqueles remissivos ao campo e A
cidade. Ler e interpretar o rural eo urbano, no mundo contemporaneo,
é lidar com lugares-comuns. Em O campo e a cidade: na historia e
na literatura, obra classica sobre o tema, Raymond Williams (1990)
estuda as imagens historicamente cristalizadas sobre esses dois am-
bientes. O autor apresenta intrigantes conclusées especificamente
sobre a pratica de romantizar determinado passado rural, muito
observada na literatura inglesa do perfodo da Revolugao Industrial.
Conforme assinala, essa literatura que trata o campo como um lugar
idilico, em que as pessoas levavam uma vida simples e sem grandes
conflitos sociais, era produto de uma leitura romantizada que os es-
critores do tempo da Revolugao Industrial faziam do Medievo. Como
sabemos, nesse perfodo da hist6ria, a Idade Média, a violéncia ¢ as
hierarquias sociais faziam sentir seu peso sobremaneira no ambiente
rural. Entretanto, o tempo da Revolucao Industrial, perfodo em que
eram escritas as obras literdrias analisadas por Williams, compunha
um contexto histérico de violentas transformagdes no campo, em
que se verificou um drduo processo de concentragao fundidria e
expuls
o das populagées camponesas dos meios rurais. Assim, Wil-
liams defende que a leitura romantizada do campo medieval era uma
resposta dos escritores do perfodo da Revolugao Industrial ao duro
processo verificado no meio rural de seu tempo. Portanto, conforme
pontua, todas essas construgdes sobre campo e cidade sao gestadas
nas relagées sociais vividas pelos escritores e constituem intervengoes
nas realidades por cles vividas.
O caminho trilhado por Williams (1990) para construir sua
reflexo é uma inspiragdo para pensarmos as narrativas orais. Para o
autor, nao caberia discutir a obra dos escritores ingleses do periodo
industrial sob 0 crivo da verossimilhanga, mas pensar nas relages
cdo de seus
sociais com que eles dialogavam no momento de elabora
277
Sumério
livros e na intervengao criativa que pretendiam produzir no mundo
em que viviam. De maneira semelhante, nao devemos buscar nas
memérias sobre campo ¢ cidade, presentes em entrevistas orais, uma
fidedignidade & realidade histérica. Ela seria impossivel, porquanto
a realidade é lida de muiltiplas formas por diferentes pessoas. En-
tendemos, pois, ser bem mais proveitoso explorar as relagdes sociais
subjacentes as narrativas e os significados politicos resultantes da
intervengao na realidade, os quais moldam as entrevistas orais tanto
em relagao a forma como ao contetido.
Assim, por mais idilicas e romantizadas que sejam as memérias
sobre a vida no campo no Paraguai, tais aspectos nao invalidam as
narrativas. Amparados na discussao feita por Alessandro Portelli
sobre 0 conceito de subjetividade, compreendemos que o ideal é
procurar entender 0 universo de valores e sentidos compartilhados
pelos narradores com seu grupo social ¢ materializados nas narrativas
orais, em vez de tentar corrigi-las ou separar o subjetivo e o objetivo,
tarefa ingléria e impossivel ao historiador.>
Nessa perspectiva, iniciaremos a discussao das entrevistas orais
com a narrativa de Carlos, j4 apresentado na secao anterior juntamente
com os demais narradores, Alberto, Renato e Fernando. Nascido em
Bom Destino, estado do Espfrito Santo, Carlos partiria mais tarde com
sua familia rumo a Sao Paulo, onde moraram por pouco tempo, tendo
se deslocado em seguida para Marechal Candido Rondon, estado do
Parané, a fim de trabalhar no cultivo de hortela. Segundo o narrador,
3 Para Alessandro Portelli (1996), a subjetividade nao 6 um defeito, mas o
elemento de maior riqueza possivel presente nas fontes orais. Segundo ele, 6
indtil ao pesquisador querer sepatar os aspectos subjetivos dos objetivos numa
entrevista, pois ambos sao intimamente amalgamados, sendo impossivel dife
renci-los. Mais que impossivel, tal intento constituitia um erro metodolégico,
pois a subjetividade de uma narrativa nao é uma distorgao da "verdade”, mas
a forma como os narradores organizam individualmente processos vividos ¢
lembrados coletivamente, impregnando-os com os valores de seu grupo social
Cabe aos historiadores, enfim, ficar atentos & subjetividade das narrativas orais
e exploré-la adequadamente, para que seja possfvel o estudo nao apenas dos
fatos narrados, mas também da cultura dos narradores.
278
Sumério
a decisao de deixar o Brasil foi motivada pelo falecimento do pai, pois,
e muito dificil sustentar a
para a mae € os irmaos mais velhos, tornar:
familia em Marechal Candido Rondon. Dessa mancira, el dirigiram.
para a regido de Marangatu, departamento (equivalente a provincia
ou estado) de Canindeyti, no Paraguai, onde, na época da entrevista,
possufam uma pequena 4rea de terras que somavam sete alqueires
paulistas,* administrados pelo irmao de Carlos. Aos quatorze anos de
idade, o entrevis
‘ado passou a trabalhar nas fazendas da redondeza,
atuando, inclusive, como tratorista, a fim de obter renda propria. Ali
permaneceu até os 26 anos, quando emigrou de volta para o Brasil.
Carlos recorda de forma bastante positiva esse perfodo de sua
vida em que trabalhou e vivew na zona rural do pats vizinho
Era boi berrando... e... roca plantando... e... a gente
motosserra derrubando mato... [...] j4 recebia I4, a cada
seis meses ia chegar © pagamento, né? Daf a gente jé
perdia, entéo, um pouco dos dias que tinha marcado, né?
O patrao] Chegava, fazia uma festa e... pagava... safa.
(Entrevista concedida em Marechal Candido Rondon,
PR, 7 de dezembro de 2002)
As possiveis tensées existentes nas relagées de trabalho, como
as decorrentes dos dias de servigo nao pagos, so ignoradas no relato,
prevalecendo as relagdes amistosas, relembradas por meio das imagens
das festas que 0 patrao fazia para os empregados, quando do paga-
mento, marcas de relagées trabalhistas mediadas pelo paternalismo.
Colabora para tal perspectiva o quadro tragado na citagao acima, em
4 O gentilico “paulista’ acompanha a denominagao da unidade de medida
porque a extensio de um alqueite nao é uniforme em todo o Brasil, experi-
mentando variagées regionais. Cada alqueire paulista corresponde a 24.200
metros quadrados
A pontua
Jo das transcrigdes de passagens das entrevistas orais, prinei-
palmente o uso da virgula ¢ das reticéncias, segue a légica da oralidade
do narrador, com suas pausas curtas e longas, e nao preceitos gramaticais
rigidos da lingua portuguesa.
sa
279
Sumério
que Carlos coloca o trabalho no campo em primeiro plano, acima das
divisdes sociais. Nesse quadro, a fazenda também é descrita como
um ambiente harmonioso, um lugar ordenado: a natureza domada (as
vacas) ou em processo de conquista (a floresta sendo derrubada pelas
motosserras) compée com os seres humanos uma mesma dimensao.
Ao responder nossa questo sobre sua infancia no Leste do
Paraguai, a perspectiva do narrador é extremamente otimista, de
forma que ele apresenta esse periodo e lugar como uma espécie de
“parafso perdido”. Em suas lembrangas, a caga, a pesca ¢ 0 trabalho
no campo, na companhia dos irmaos e amigos, séo apresentados
como parte de um tempo de muita diversdo, ainda que a cacga e a
pesca tivessem como objetivo também a subsisténcia das familias,
e nao apenas 0 lazer. © trabalho no campo, mesmo exigindo muito
esforco, é igualmente apresentado como parte de um contexto festivo,
imagem resultante da meméria positiva construfda sobre o Paraguai.
O narrador faz aqui uma “recomposigéo” de suas memérias
correspondentes & experiéncia social vivida na infancia e no inicio
da adolescéncia.’ Esse periodo é lembrado de forma nostalgica, ao
contrario do que acontece quando Carlos narra especificamente a
vida na fazenda do patrao: embora ela também seja recordada de
mancira positiva, aparece imersa em um sentido de ordem que abar-
ca natureza e seres humanos, conforme pontuamos anteriormente.
Essas memérias podem indicar a diferenca vivenciada pelo narrador
ho regime e na disciplina de trabalho, pois, & medida que passa a
laborar fora do circulo familiar e do ambiente doméstico, a “festa”
dé espaco a “vida adulta”. Isso, no entanto, nao é narrado por Carlos
de forma trégica ou como uma ruptura em suas manciras de viver,
6 De acordo com Alistair Thomson (1997), a “recomposigao” de memérias é a
maneira pela qual os narradores reorganizam, no e em fungao do presente,
as reminiscéneias de experiéncias passadas. O objetivo da reorganizacéo é
sentir-se confortével com as préprias recordagdes no tempo presente, superar
lembrangas de passagens dificeis da vida e vencer traumas. E 0 processo
que permite As pessoas lidar com memérias desagradéveis e utilizé-las para
dar sentido (politico, inclusive) as suas vidas no presente
280
Sumério
uma ver que ele se identifica com as lides do campo. O quadro—de
certa forma romAntico — tragado por Carlos para o perfodo em que
viveu no Paraguai possivelmente emergiu como um contraponto
formas adversas como ele se inseriu no universo urbano, ao retornar
ao Brasil, por volta de 1999, com 26 anos de idade. Na ocasiao, a
falta de escolaridade e de experiéncia em atividades urbanas 0 relegou
ao subemprego nas agroindistrias locais. Sua trajet6ria na cidade,
portanto, nao representou uma conquista de qualidade de vida, mas
grandes dificuldades para conseguir sobreviver.
O segundo narrador, Alberto, nasceu em Saudades, estado de
Santa Catarina, onde viveu com seus seis irmaos. Apés o falecimento
de seu pai, a familia também emigrou para o Leste do Paraguai, para a
localidade de Troncal Quatro. Conforme aponta, também eram peque-
nos produtores rurais que, a custo, procuravam manter-se no campo.
Quando relata a vida no pats vizinho, 0 narrador apresenta 0
campo, onde viveu com a familia, usando os mesmos clichés adotados
por outros brasileiros que também ali residiram: o isolamento do local
onde moravam, 0 contato com a mata e demais empecilhos enfren-
tados para o estabelecimento da familia. Porém, em determinado
momento, a fala muda de rumo e Alberto passa a elencar os pontos
positivos da vida que levou no exterior: “L4, choveu tu nao faz nada, ¢
anda para cima, para baixo, cagando e... meio jogando bola [futebol]
[...] Jogava baralho...” (Entrevista concedida em Marechal Candido
Rondon, PR, 29 de novembro de 2002). Além de citar diferentes
formas de lazer, o narrador destaca que aquela sociedade nao era
dominada pelo materialismo e pelo jogo de aparéncias, caracteristicas
que compreende como tipicas do universo urbano:
No interior tu usa um cal¢ao assim, um[a] camisa... 0 que
tu quiser vestir est4 bom. E na cidade ja nao, na cidade
ja tu sai... mal-arrumado... para comegar, se tu nado tem
dinheiro, tu dentro da cidade nao € ninguém também,
dai... as primeiras vezes e... nao gostei nada, nada da
cidade, viu? Por qualquer coisinha estava voltando para
281
Sumério
tras. Mas depois peguei 0 costume de... da cidade... safa
com 0s amigos... ia para baile, ia por... por tudo que é
canto, festinha de aniversério, por af. E, fui pegando o
jeito e... até hoje [estou] na cidade, mas se... por acaso
tiver algum dia que... resolvo de ir para a cidade, [corrige
a informagao] para o interior [zona rural], eu mudo de
novo. Nao desprezo o interior de jeito nenhum, né... mas...,
por enquanto, eu estou bem aqui... e sei Ié..., pode surgir
algumas outras coisas melhores, mais tarde né, mais, sei
li, (Entrevista concedida em Marechal Candido Rondon,
PR, 29 de novembro de 2002)
Nesse momento, notamos uma contraposicao entre o passado,
vivido na zona rural do Leste do Paraguai, e 0 presente, em que 0
narrador residia em Marechal Candido Rondon. Na cidade brasileira,
Alberto nao possufa um trabalho fixo, era servente de pedreiro diarista,
morava na periferia ¢ encontra'
¢ em processo de alfabetiza
cdo.
E nesse ambiente, marcado pelo peso das hierarquias sociais, que
ele recorda o perfodo anterior 4 mudanga focando em temas como
a simplicidade do ambiente rural, com que se identificava e onde
se sentia mais a vontade.
Alberto demonstra cuidado ao falar dos problemas vivenciados
no pats vizinho e evita langar um olhar estereotipado sobre aquela
realidade. Segundo ele, gostava de morar l4, ¢ somente se mudou
para a cidade, por volta do ano de 1998, em fungao da pressao feita
por sua familia, j4 quase integralmente retornada ao Brasil. Embora
nao compreendesse o tempo presente de forma tragica ou puramente
negativa, em determinado trecho da entrevista, chegou a afirmar que
ainda nutria 0 desejo de voltar ao meio rural do Paraguai
© Paraguai sob o manto da negatividade: intercruzamentos
entre esteredtipos nacionais e relacées entre campo e cidade
AAs narrativ
orais que tratam da vida no Paraguai pelo prisma
negativo referem-se ao pais vizinho por meio de elementos impregna
dos de esteredtipos e de carga pejorativa. Como Williams (1990) bem
282
Sumério
pontuou, 0 préprio meio rural nem sempre é lembrado de maneira
muitas vezes, ele é significado negativamente. A contrapo-
positive
sigdo entre campo e cidade, nao raro, resulta em uma visao favoravel
ao urbano e prejudicial ao rural. Esse contraponto esta presente nas
narrativas orais que analisamos, cuja visdo sobre o passado rural toma
por base um presente urbano. Assim, nessas narrativas, as imagens
depreciativas do Paraguai se coadunam com as visées negativas sobre
o campo, existindo uma simbiose entre ambas.
Comegaremos a explorar esse enredo negativo com a entrevista
de Renato, que nasceu na zona rural do municipio de Santa Helena,
estado do Parané, e, aos nove anos de idade, deixou a regido do Oeste
paranaense juntamente com sua familia para morar em Rebougas, no
Centro-Oeste do estado. A familia fora desapropriada de uma area
rural que possufa, na qual seria construida a usina hidrelétrica de
Itaipu. A cidade de Rebougas foi destino comum de muitos agricul-
tores expulsos do Oeste do Parand pelo empreendimento hidrelétrico
levado a cabo pela ditadura militar. No municipio havia terras pouco
férteis, porém a precos acessiveis para quem $6 contava com 0 parco
dinheiro da indenizacao recebida em virtude da desapropriagao.
A mudanga para o Leste do Paraguai ocorreu em 1991, quando
Renato tinha dezenove anos de idade. Sem a familia, ele foi morar
na regido de Vila Procépio, departamento de Alto Parana. Foi para
14 a contragosto, pois seus irmaos, administradores dos negécios da
familia, compraram uma 4rea de terras naquela regiao e o investiram
da fungao de tomar conta da pequena propriedade, enquanto eles
© sua mae permaneceram em Rebougas. A drea possufa titulagdo,
¢ Renato, que, inicialmente, havia emigrado sem a documentagao
legal, adquiriu o visto da imigragao paraguaia, nao tendo dificuldades
para permanecer ali, sob o ponto de vista juridico. A compra foi uma
forma de manter a famflia no campo, uma vez que, em Rebougas,
eles eram oito irmaos para dividir uma Area de quatorze alqueires
paulistas, extensao insuficiente para a sobrevivéncia de todos eles
como agricultores.
283
Sumério
A zona rural de Vila Procépio, no Leste do Paraguai, é caracterizada
por Renato como um lugar habitado majoritariamente por brasileiros.
A narrativa dele é marcada pelas dificuldades 14 vividas, tais como a
falta de méveis ¢ utensilios domésticos em sua casa e a auséncia de
energia elétrica, que o forgava a mudar a alimentagao: para contornar a
falta de um congelador e nao estragar os alimentos, ele precisava salgar
muito 0 feijao ou fazer charque com a came, salgando-a e colocando-a
na banha. As falas sobre o desconforto vivido nesse local sao fortes e
assumem o [oco da entrevista nas passagens que se referem ao Paraguai.
Em outro momento, ao tratarmos mais a fundo de seus habitos
alimentares, tanto do passado como do presente, Renato retornou a
esse tema, discutindo novamente as privagées vividas no estrangeiro:
“No Paraguai eu tive épocas l4, que... [tosse] até inclusive quando.
[tom de voz mais baixo] eu estava ca... com a minha [volta ao tom de
voz normal] ex-mulher, ela estava... gravida, né, ¢ a gente nao tinha
de onde tirar... é... 0 pao” (Entrevista concedida em Santa Helena,
PR, 9 de julho de 2004). A falta de dinheiro para comprar comida
decorria da escassez de trabalho como diarista rural, desempenhado
paralelamente as lides do sitio da familia, e da caréncia de produtos
para comercializar, como soja e milho. O narrador tampouco podia
contar com aquilo que cra passivel de ser produzido no proprio si-
tio, como animais para consumo. Estes haviam sido destruidos por
circunstancias locais, como a febre aftosa, endémica naquela regido,
na €poca, e 0 ataque de animais selvagens, muito presentes no lugar.
Renato se esforca para nos convencer de que tal situacao nao fora
gerada por falta de empenho pessoal ou de zelo com a propriedade,
mas por clementos alhcios 4 sua vontade. Como forma de atestar
sua capacidade em superar tais obstaculos, ele destaca ainda que a
filha nasceu com boa satide, apesar dessas intempéries. Com isso,
ele sugere que, mesmo tendo vivido tantos problemas, nao deixou
que a familia padecesse. Nesse momento, o narrador constréi a si
mesmo como um bom chefe de familia, procurando, provavelmente,
284
Sumério
compensar a passagem em que relatou terem passado fome. A in-
tengao é deixar claro que, a despeito das situagdes delicadas, ele foi
um bom pai e marido, cumprindo seu papel de homem “provedor’,
ainda muito difundido na sociedade brasileira.
Notamos que muitas das adversidades relatadas siio configuradas
pelas condigées de vida enfrentadas pelo narrador, segundo ele, de-
correntes da situagdo de pobreza em que se mudara para o Paraguai
e da precaria estrutura ali existente. Seus problemas nao se referem
ao convivio interpessoal, que nao é tratado por Renato como algo
gerador de tensées: “A gente se sentia como se fosse aqui no Brasil
porque... em matéria de pessoas, né, porque [...] s6 tinha brasileiro
[em Vila Procépio]” (Entrevista concedida em Santa Helena, PR,
9 de julho de 2004). Renato construiu sociabilidades com os com-
patriotas, que formavam a maioria da populagao de Vila Procépio,
segundo relatou. No momento da entrevista, muitos deles também
jé haviam voltado ao Brasil, vivam em Santa Helena e continuavam
a manter contato com o narrador. Em outros trechos da entrevista,
Renato explica que mesmo 0 lazer na localidade de Vila Procépio nao
diferia muito daquilo que tinha vivido na zona rural do Parana. No
pais vizinho, aprendeu tao somente um espanhol rudimentar e nado
se naturalizou paraguaio. Sem contar que sua filha nasceu em Santa
Helena, onde vivia a familia de sua ex-esposa, e foi registrada como
cidada brasileira, pratica comum entre os trabalhadores brasiguaios
Os habitantes paraguaios e os poss{veis conflitos vividos no estrangeiro
so silenciados por Renato, provavelmente como forma de afirmar-se
como brasileiro, mesmo tendo vivido alguns anos fora do pais.
Em outra passagem marcante, cle contrapée sua trajetéria no pats
vizinho a do irmao mais velho, que, depois dele, também emigrara
para ld, Esse irmao é apresentado como alguém de sucesso, pois
tivera melhores condigdes financeiras para investir em sua proprie-
dade estrangeira. J4 trabalhava na agricultura e era independente dos
demais. Conseguiu acumular certo capital, aproveitando, inclusive, para
285
Sumério
comprar 4reas vizinhas e carentes de titulagdo, no Paraguai. Renato,
ao contrario, possufa, no pafs vizinho, uma 4rea rural muito diminuta,
cuja propriedade dividia com outros irmaos, e, sem dinheiro suficiente
para investir, nao conseguira obter sucesso no empreendimento rural.
Ao longo dos cinco anos que viveu no exterior, casou-se com uma
brasiguaia e teve uma filha. Nesse intervalo de tempo, alguns de seus
irmaos, sécios da area rural, mudaram para aquele local e passaram
a morar junto com Renato e sua familia. Depois de alguns conflitos
familiares, por volta de 1996-1997, cle, a esposa ¢ a filha deixaram 0
Paraguai e retornaram ao Brasil, para a cidade de Santa Helena, estado
do Parana. A mudanga foi motivada, também, pelo convite do cunhado
de Renato, que era mestre de obras e Ihe ofereceu emprego como ser-
vente de pedreiro, além de prestar-lhe sua solidariedade ensinando-lhe
a nova profissio. A érea de terras do Paraguai ficou com seus irmaos,
que posteriormente a venderam para vizinhos latifundidrios. A despeito
do 4rduo trabalho na construgao civil, Renato se profissionalizou nes-
se ramo e se tornou construtor, ascendeu economicamente e voltou
a estudar. Por essa razao, talvez, perceba de maneira tao negativa 0
tempo em que viveu no Paraguai trabalhando no campo, sem obter
resultados tao bons como na profissao atual.
Tomar as dificuldades vividas no Paraguai como enredo nao é
exclusividade de Renato, j4 que encontramos elementos semelhantes
na entrevista realizada com Fernando. Segundo afirmou o narrador,
seus pais eram sergipanos e deixaram o Nordeste do Brasil na déca-
da de 1970,
aprovava a uniao. Nesse perfodo, a mae de Fernando tinha dezoito
‘ugindo” para se casar, pois a familia de sua mae nao
anos ¢ 0 pai, vinte. De Sergipe, eles mudaram para Sao Paulo e, apés
alguns meses, dirigiram-se para Matelandia, no Oeste do Parand, onde
vivia um amigo de seu pai. Foi nessa cidade que Fernando nasceu.
Além das questées que envolveram motivos pessoais, Matelandia
foi escolhida num contexto de intensa migracao de trabalhadores
evadidos das regides Sudeste e Nordeste do Brasil nas décadas de
1960 ¢ 1970 (Laverdi, 2005). Na época, Matelandia ficou conheci-
286
Sumério
da na regio por ter sido palco de conflitos agrarios entre os muitos
posseiros que a habitavam. Possivelmente o pai de Fernando e 0
amigo dele foram residir no local a fim de obter uma rea de terras
para trabalhar. Do mesmo modo, a conquista de uma propriedade
rural estava entre os objetivos da familia do narrador quando eles se
mudaram para o Paraguai, entendendo que, naquele pats, tal em-
preendimento seria realizado com menos dificuldades. Inicialmente,
atuaram na agricultura da regidio de Vila Procépio trabalhando com
hortela, na condigdo de possciros. Mais tarde, venderam a terra ¢
deixaram o campo, deslocando-se por diversas localidades paraguaias
e passando a exercer atividades comerciais.
Silva (2010) aponta os problemas enfrentados pelos trabalha-
dores da hortela para permanecer nas terras cultivadas no Leste
do Paraguai. Porém, nas memérias de Fernando, as sucessivas mu-
as dificuldades, mas
dangas de locais de moradia nao se deviam a
exclusivamente a vontade de seu pai e a sua suposta falta de plane-
jamento das atividades com que trabalhava. A mudanga da familia
para o Paraguai — quando Fernando ainda era um bebé — também
é interpretada como motivada unicamente pelo desejo de seu pai,
que teria preferido morar em lugares mais remotos como forma de
nao se integrar 4 modernidade
Todavia esses deslocamentos podem ter sido uma consequéncia
do empenho de seus pais por permanecer no campo por meio da
obtengao de terras para plantar, quando eram jovens e possufam satide
e disposigao para (e)migrar. Assim teriam ido em busca de regides sem
grande infraestrutura instalada, na esperanga de adquirir terras para
sic sua prole. Também podemos compreender de maneira diferente
as outras atividades da familia em cidades paraguaias — vender frutas
ou pipocas, por exemplo —, entendendo-as como a improvisagao de
alternativas para sobrevivéncia quando o trabalho rural nao lhe era
mais possfvel. Ou seja, nao se tratava de mera vontade ou falta de
planejamento: eram trabalhadores rurais com pouca escolaridade
¢ baixa qualificagdo, 0 que limitava seu acesso ao trabalho urbano.
287
Sumério
Fernando, porém, lembra e narra com outro olhar essas passagens
de sua vida, ¢ é justamente sobre a forma como ele recorda seu tempo de
permanéncia no Paraguai que precisamos refletir. Seu ponto de partida
para relatar sua vida no pais vizinho sao as dificuldades lé encontradas.
O Paraguai surge em sua narrativa como local onde os trabalhadores
rurais eram submetidos & moradia e alimentagao de baixa qualidade,
levando uma vida insalubre, responsdvel pela mé formagao fisica das
criangas. Mas Hernando ressalta principalmente o trabalho extenuante,
realizado no campo, quando ainda era crianga ¢ adolescente.
A gente trabalhava, direto na lavoura, e... passamos por
momentos Ié dificeis, |...] alimentagao, péssima, sabe,
alimentagao, assim, era terrivel [pausa]. [..] [Mordvamos]
em casas... feitas de... madeira, cobertas com folhas tipo de
sapé, aquelas... coberturas, terriveis. (Entrevista concedida
em Santa Helena, PR, 11 de julho de 2004)
Um diferencial entre a narrativa de Fernando ¢ a de Renato est4
na maneira como enxergam 0 convivio com os paraguaios: ao passo que
o segundo silencia os conflitos interpessoais, o primeiro trata a convi-
véncia com os habitantes do pafs vizinho como parte da negatividade
desse pafs. Ao relatar sobre a vida em Hernandarias, uma das cidades
Pparaguaias em que viveu, destaca que os paraguaios nao gostavam
de brasileiros ¢ interpreta essa questéo como resquicios de contlitos
com o Brasil, como a Guerra do Paraguai, em que este foi derrotado:?
eu tive [um] ami-
Quando eu fui morar em Hernanda
go paraguaio, assim, [pausa] mas na verdade cle é amigo
seu assim... tem que ficar sempre esperto com ele, sabe,
A guerra é 0 grande marco da histéria do Paraguai, sendo entendida como a
razio fundamental do declinio econémico e politico do pats. Acredita-se que
com ela se deu também o principio dos latiftindios e da desnacionalizacao
das terras paraguaias quando, sob a imposigdo dos pais
s vencedores, as
termas estatais foram vendidas para empresas de capital estrangeiro. Sobre a
Guerra da Triplice Alianga e sua relago com os conflitos entre paraguaios
¢ brasileiros no perfodo contemporaneo, ver Albuquerque (2005)
288
Sumério
porque eu ndo, deve ser por causa dis, é... um problema
hist6rico, né, por causa de guerras que o Brasil teve com
cles, assim, ganhou deles [pausa] e... eles sio teus amigos,
mas, na primeira oportunidade que eles tiverem pra te..
fazer alguma coisa de mal, eles fazem. Nao vou dizer to-
dos, mas pelo menos as pessoas com quem eu convivi foi
assim. Eles sao... bastante vingativos, assim, ¢, tive amigo,
mas quando vocé pensava que, nao podia contar com ele,
assim. Eles [pausa] e... ainda mais assim, 6: se, se tu tem
um amigo paraguaio, esté vocé e ele s6, tudo bem, daf
chega mais uns dois, paraguaios, assim, dai cles comegam
jé tramar [risos] contra, contra vocé, tem que ficar esperto,
nesse sentido af. (Entrevista concedida em Santa Helena,
PR, 11 de julho de 2004).
O narrador expressa as tensées entre brasileiros e paraguaios por
meio do contetido e da forma como narra: faz diversas pausas, pens
naquilo que diré ¢ ri de situagées relatadas como forma de demonstrar
que, desse contexto, nao resultavam atos de violéncia deliberada.
Como fica evidente, tais embates também nao impediam o convivio
e as relagdes de amizade entre brasileiros e paraguaios, embora o
narrador entenda que, mesmo assim, era necessdrio tomar cuidado:
com os naturais do pais vizinho. Dessa forma, ele aponta a existéncia
de uma barreira a separar as pessoas de ambos as nacionalidades.
A situagao na fronteira é bastante tensa, conforme frisamos
anteriormente. Existem criticas de setores politicos e de movimentos
sociais quanto a presenca de brasileiros na regiao Leste do Paraguai
e, sobretudo, quanto ao grande mimero de latiftindios em Areas
muito férteis sob o dominio de brasileiros, enquanto grande parte
da populagao natural do pafs se encontra sem terra para trabalhar.
Além disso, como aponta Baller (2008), a presenga brasileira naquela
regidio de fronteira suscita debates a respeito da soberania do Paraguai
sobre parte importante de seu territério.
Nesse contexto, uma parcela das populacées brasileiras se negou
a integrar-se a sociedade paraguaia: aprendeu muito rudimentarmente
289
Sumério
os idiomas locais (espanhol e guarani) e permaneceu ligada as cidades
do lado brasileiro da fronteira
Isso revela qu
apesar de interagir
com os moradores daquele pais, tais brasileiros nao deixam de nutrir
preconceitos contra eles. Fernando mesmo procura enfatizar que,
embora tenha crescido no pats vizinho, nao se tornou paraguaio.
Admite as relagées estabelecidas com os paraguaios, mas evidencia
que preservou elementos identitarios brasileiros. Possivelmente esse
movimento em seu relato procura reafirmar o direito de retornar
ao Brasil. Todos esses elementos concorrem para demonstrar que
Fernando nao se identifica com aquele lugar e que, em sua visdo,
era invidvel permanecer ali.
Depois de atravessar a fronteira de volta para o Brasil, mais
especificamente para Santa Helena, estado do Parané, em fins da
década de 1980, Fernando continuou a viver muitas dificuldades,
como o trabalho infantil, desenvolvido ainda na adolescéncia quando
foi trabalhador volante, ou boia-fria, como era popularmente conhe-
cido aquele tipo de atividade. Entretanto, a despeito das intimeras
adversidades enfrentadas em Santa Helena, ele conseguiu se pro-
fissionalizar como eletricista e voltou a estudar, chegando a cursar
o ensino superior. ‘Tal como Renato, expressa uma visdo positiva
sobre o Brasil ¢ 0 trabalho urbano e s
¢ sente como quem conquistou
muito, o que talvez. contribua para fazé-lo lembrar do Paraguai de
maneira mais negativa.
Consideracées finais
Neste capitulo, lidamos com dois enredos diferentes por meio
dos quais os brasiguaios entrevistados costumam tratar suas vidas
no Paraguai, Um deles é representado por Carlos ¢ Alberto, que se
lembram do pais vizinho como um paraiso perdido, terra venturosa e
prospera, onde viveram bons momentos e da qual s6 safram porque
seus familiares também ja haviam emigrado. Tal visio foi construfda
com base na comparagio entre a vida na zona rural paraguaia e a vida
290
Sumério
urbana no Brasil, caracterizada pelas dificuldades dos narradores para
conseguir bons empregos por conta da falta de experiéncia profissional
em offcios urbanos e de sua baixa escolaridade. O retorno ao Brasil,
quando se mudaram para Marechal Candido Rondon, estado do
Parana, foi vivido por eles como uma experiéncia, de certa forma, de
exchusao social, embora nao seja lembrado em tons de tragicidade
O outro enredo € notado nas falas de Renato e Fernando, que
tratam o Paraguai com negatividade. Suas narrativas foram gestadas
nos grandes obstaculos encontrados no outro lado da fronteira ¢
possivelmente contribuiu para sua elaboracao a melhoria que ambos
os narradores experimentaram em suas trajetérias na zona urbana de
Santa Helena, estado do Parana. Por essa razao, a volta para o Brasil
é vista de maneira positiva, embora reconhegam que aqui também
tiveram seus reveses.
Conforme se percebe, os esterestipos difundidos sobre o Paraguai,
no Brasil, sdo tratados de maneiras diferenciadas pelos narradores. Alguns
os incorporam, outros os refutam e apresentam um Paraguai positivo.
Entretanto, a mediar tais memérias, existem a trajet6ria e a historia
de vida de cada um deles, além de suas experiéncias sociais e de suas
relagdes com 0 campo ea cidade. Ou seja, as recordacées pessoais dos
entrevistados foram sendo esculpidas ao longo de suc
(0s ¢ insucessos,
de conquistas e decepgées vividas ao longo de suas existéncias, néo
podendo, portanto, ser tomadas de forma descontextualizada.
Referéncias
ALBERTI, Verena. Fontes orais: hist6rias dentro da histéria, In:
PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Fontes histéricas. Sao Paulo: Con-
texto, 2008. p. 155-202
ALBUQUERQUE, José Lindomar C. Fronteiras e identidades em
movimento: fluxos migratérios e disputa de poder na fronteira Para-
guai-Brasil. Cadernos CERU, Sao Paulo, v. 19, n. 1, p. 49-63, jun
2008. Série 2.
291
Sumério
ALMEIDA NETO, Francisco Barreto de; FLORES, Mariana Flores
da Cunha Thompson. Apontamentos ac
da politica agréria no
Paraguai do pés-guerra (1870). In: ENCONTRO ESTADUAL DE
HISTORIA DA ANPUILRS, 12., 2014, Sao Leopoldo. Anais [...].
Sao Leopoldo: Anpuh-RS, 2014
AMADO, Janaina. O grande mentiroso: tradigao, veracidade e imagi-
nagdo em histéria oral. Histéria (Sdo Paulo), n. 14, p. 125-136, 1995
BALLER, Leandro. Cultura, identidade e fronteira: transitorieda
de Brasil/Paraguai (1980-2005). 2008. Dissertagao (Mestrado em
Historia) — Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados,
MS, 2008.
CARDOSO, Heloisa Helena Pacheco. Narrativas de um candango
em Brasilia. Revista Brasileira de Histéria, Sao Paulo, v. 24, n. 47,
p. 163-180, 2004.
KHOURY, Yara Aun. Muitas memérias, outras historias: cultura ¢ 0
sujeito na histéria. In: FENELON, Déa Ribeiro; MACIEL, Laura
Antunes; ALMEIDA, Paulo Roberto de; KHOURY, Yara Aun (org.)
Muitas memGrias, outras histérias. S40 Paulo: Olho d’Agua, 2004
p. 116-138.
LANGARO, Jiani Fernando. Escolarizagao, trabalho e vida urbana
em Marechal Candido Rondon. 2003. Pesquisa de iniciagao cientifica
financiada pelo Pibic/Unioeste/PRPPG e orientada pela Prof*. Dr*
Geni Rosa Duarte, do Centro de Ciéncias Humanas, Educagao e
Letras da Unioeste,
LANGARO, Jiani Fernando. Para além de pioneiros e forasteiros
outras histérias do Oeste do Parana. 2006. Dissertagao (Mestrado
em Histéria Social) — Instituto de Histéria da Universidade Federal
de Uberlandia, Uberlandia, MG, 2006.
292
Sumério
LANGARO, Jiani Fernando. Entre o campo e a cidade: Brasil e Pa-
raguai em memérias e narrativas orais de migrantes transfronteirigos
(Santa Helena, PR, décadas de 1990 ¢ 2000). Tempos Histéricos,
Cascavel, PR, v. 17, n. 2, p. 258-288, 2013.
LANGARO, Jiani Fernando. Histéria oral ¢ fronteira: 0 campo e a
cidade nos relatos de migrantes transfronteirigos (1970-2000). Tempos
Historicos, Cascavel, PR, v. 18, n. 2, p. 396-425, 2014
LAVERDI, Robson. Tempos diversos, vidas entrelagadas: trajetérias
itinerantes de trabalhadores na paisagem social do extremo oeste
paranaense (1970-2000). Curitiba: Aos Quatro Ventos, 2005
PASSERINI, Luisa. Mitobiografia em historia oral. Projeto Historia,
Sao Paulo, n. 10, p. 29-40, dez, 1993
PORTELLI, Alessandro. A filosofia ¢ 0s fatos; narragao, interpretacéo
¢ significado nas memérias ¢ nas fontes orais. Tempo, Rio de Janciro,
v. 1, n. 2, p. 59-72, 1996.
SALVATICI, Silvia. Relatando a meméria: identidades individuais ¢
coletivas na Kosovo de pés-guerra: os arquivos da meméria. Projeto
Histéria, Sao Paulo, n. 27, p. 9-47, 2003.
SILVA, Danusa Lourdes Guimaraes da. “Um pé aqui e outro ld”: expe
riéncias transfronteirigas e viveres urbanos de brasiguaios (Marechal
Candido Rondon, PR, 1990-2010). 2010. Dissertagao (Mestrado em
Historia) — Universidade L’stadual do Oeste do Parané, Marechal
Candido Rondon, PR, 2010.
SOUCHAUD, Sylvain. A visio do Paraguai no Brasil. Contexto
Internacional, Rio de Janciro, v. 33, n. 1, p. 131-153, jan-jun, 2011
THOMPSON, Edward P. A formagéo da classe operdria inglesa
Rio de Janeiro: Paz. e Terra, 1987.
293
Sumério
THOMSON, Alistair. Recompondo a meméria: questdes sobre a
relacdo entre a histéria oral e as memérias. Projeto Histéria, Sao
Paulo, n. 15, p. 51-71, abr. 1997.
THOMSON, Alistair, Quando a meméria é um campo de batalha:
envolvimentos pessoais e politicos com o passado do Exército Na-
cional. Projeto Histéria, Sao Paulo, n. 16, p. 277-296, fev. 1998.
WILLIAMS, Raymond. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1979
WILLIAMS, Raymond. O campo e a cidade: na histéria € na lite
ratura. Sao Paulo; Companhia das Letras, 1990
Você também pode gostar
- O Ensino de História, Entre o Local e o Global: Relato de Experiência Docente e Esboço de Uma Metodologia para Sala de AulaDocumento27 páginasO Ensino de História, Entre o Local e o Global: Relato de Experiência Docente e Esboço de Uma Metodologia para Sala de AulaJiani Fernando LangaroAinda não há avaliações
- De Sertão A Região: História, Memória e Regionalismo Na Fronteira Brasil-Paraguai-ArgentinaDocumento34 páginasDe Sertão A Região: História, Memória e Regionalismo Na Fronteira Brasil-Paraguai-ArgentinaJiani Fernando LangaroAinda não há avaliações
- "SEU VOTO VALE UM ESTADO". HISTÓRIA E MEMÓRIA, DIVISIONISMO E USOS DO PASSADO NA FRONTEIRA ENTRE BRASIL, PARAGUAI E ARGENTINA: Reflexões Sobre Uma Cartilha em Defesa Do Estado Do IguaçuDocumento40 páginas"SEU VOTO VALE UM ESTADO". HISTÓRIA E MEMÓRIA, DIVISIONISMO E USOS DO PASSADO NA FRONTEIRA ENTRE BRASIL, PARAGUAI E ARGENTINA: Reflexões Sobre Uma Cartilha em Defesa Do Estado Do IguaçuJiani Fernando LangaroAinda não há avaliações
- 50 Anos de Pos Graduacao em Historia NaDocumento492 páginas50 Anos de Pos Graduacao em Historia NaJiani Fernando LangaroAinda não há avaliações
- De Memorias Publicas e Narrativas OraisDocumento15 páginasDe Memorias Publicas e Narrativas OraisJiani Fernando LangaroAinda não há avaliações
- De Pouso Frio A Vila Boa Esperanca HistoDocumento32 páginasDe Pouso Frio A Vila Boa Esperanca HistoJiani Fernando LangaroAinda não há avaliações
- Dissertação Completa - Jiani Fernando LangaroDocumento280 páginasDissertação Completa - Jiani Fernando LangaroJiani Fernando LangaroAinda não há avaliações