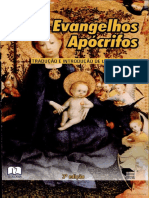Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Cultura Escolar Como Objeto Histórico - DominiqueJulia
A Cultura Escolar Como Objeto Histórico - DominiqueJulia
Enviado por
Najla Lopes0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
11 visualizações36 páginasTítulo original
9. A cultura escolar como objeto histórico_DominiqueJulia
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
11 visualizações36 páginasA Cultura Escolar Como Objeto Histórico - DominiqueJulia
A Cultura Escolar Como Objeto Histórico - DominiqueJulia
Enviado por
Najla LopesDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 36
A Cultura Escolar
como Objeto Histérico*
Dominique Julias*
Traducio de Gizele de Souz
(© sxtign tem como eseapo a cultura escolar como objeto histrice. Desnonstn que a cular
‘excolar io pode ser esta sem 0 exame preciso das relagdes conflituosas ou pacifics que
la mantém, a exda periodo de sua histria, com o conjunto das cultura que Ihe so eontempo-
rineas.A cultura escolar é deserita como tm eonjunto de nomnas quedefinem conhecimentosa
ensinar¢ condutas a ineuler, ¢ um conjunto de péticas que permitem a transmissto desses
conecimentos ea incorporagto dessescomportsento. O trabalho ¢cirnscrito o periodo
smodemo econtemporiney, perioda comprecndido ene os aéculos XVIe XIX. O texto ¢deven-
volvido segundo tes eixos, perspective interessante par se eutender cultura escolar como
objeto histrco:interessa-se pelas nonnas e peas finalidades que regem a escola: avaliar 0
papel deseapeatiade pela profissionalizagto do trabalho do edueador:intresea-te pela sndlise
doe conteadoecxsinados e dae prtices esolares,
HISTORIA D4 ESCOLS; CULTURS ESCOLAR- VORMAS E FINALIDADES Da ESCOLA:
PROFISSIONALIZiG@10 DO EDUCADOR: CONTELDOS DO EYSINO: PRATICAS ESCOLIRES.
“The sim of the article isto present the school cure at historical object. t show thatthe
school enfnue cant be stidied with the accurate examination of tae conflicting or peacefil
relations they keep, each period ofits history, withthe set of cultures that are contemporary it
‘The school culture is desribed as ast of rules that define knowledge tobe taught and conducts
{obe implanted anda set of practices that pent the knowledge transmission and these beavis
{ncorporation. The paper is cireumseribed tothe modern and contemporaneous period, within
the 16" and 19* centuries. The texts developed according to three ates, interesting perspectives
to wuderstand the echool culture as hirtovicel object: to becom interested in the ules ed the
purposes tht gover the school evaluate terole performed by te professionalism ofthe teacher's
‘work: to besome intrested in the taught contents analysis and the school practices
SCHOOL HISTORY: SCHOOL CULTURE: SCHOOL RULES AND PURPOSES, EDUCATOR
PROFESSIONALISM, TEACHING CONTENTS; SCHOOL PRACTICES.
+ Este texto € tadupSo do artigo de Julia: “La culture scolaire comme objet historiqu
Paedagogica Historica International ournal ofthe history af education (Supp. Sevies,
vol. I coord. A. Novos, M. Depaepe e E. V. Johanningmeiet, 1995, pp. 353-382),
+E diretor de pesquisas do CNRS, antigo prof. do Instituto Universitrio Europeu
(Florenga),e especialista em histriareligiosae historia da educapdo na época mo-
ema. Publicou Les trois couleurs du tableau noir. La révolution (Paris, Berlim,
1981) ¢, em colaboragio com Matie- Madeleine Compire, Les clléges francais (XVE-
XVIII sdcles), > vols. Paris Editions du CNRS-INRP, 1984 e 1988). Dirigiu o vol
Enseignement de I'Atlas de la Revolution frangaise (Pais, Editions du EHESS, 1985).
‘++ Professora do setor de Educagao da Universidade Federal do Parana e doutoranda
‘no Programa de Pés-Graduaco em Educagio: Historia, Politica e Sociedade.O pre-
sente texto de tadugao coatou com a colaboragso de Angela Brandi e revista
‘cnica de Sandra Moreira © Marta Maria Chagas de Carvalho.
10 revista brasileira de istiia de ducaglo 1 jan jun 2001
‘Ao me pedir que proferisse uma conferéncia no XV Congresso da
Associagdo Internacional de Histéria da Educaco, 0 professor Anténio
Névoa cometew a imprudéncia de dar-me a liberdade de escolher 0 asstun-
to que eu proporia para a reflexdo de vocés. Com efeito, eu Ihe havia
objetado enfaticamente que, nunca tendo sido, em nenhum momento da
‘minha carreira, um historiador da colonizacao, sentia-me totalmente in-
capaz de fomecer elementos tteis aos debates e pesquisas que vocés rea-
lizariam durante esses tr8s dias. Falar da cultura escolar como objeto
hist6rico repousa, ao mesmo tempo, sobre os limites das minhas préprias
competéncias e sobre a preocupagdo de abrir esta leitura de encerramen-
to direcionando-a para o tema do Congresso que se desenvolver no pri-
ximo ano em Amsterda e que se indagara justamente sobre 05 problemas
das trocas e transferéncias culturais que se operam através da escola.
‘Minha tinica ambigao aqui sera a de colocar algumas questdes prelimina-
res sem pretender, de modo algum, tratar todas as facetas de um assunto
«que me parece, a0 mesmo tempo, apaixonante, mas infinitamente dificil
de tratar. Queiram, portanto, desculpar-me 0 aspecto exploratério de
‘minhas assergdes!
E necessétio, justamente, que eu me esforce em definir o que entendo
aqui por cultura escolar; tanto isso & verdade que esta cultura escolar
niio pode ser estudada sem a andlise precisa das relagdes conflituosas ou
pacificas que ela mantém, a cada periodo de sua histéria, com 0 conjunto
das culturas que Ihe sio contempordneas: cultura religiosa, cultura pol
tica ou cultura popular, Para ser breve, poder-se-ia descrever a cultura
escolar como um conjunto de niormas que definem conhecimentos a ensi-
nar e condutas a inculcar, ¢ um conjunto de praticas que permitem a
transmissao desses conhecimentos e a incorporacao desses comportamen-
tos; normas e priticas coordenadas @ finalidades que podem variar se-
gundo as épocas (finalidades religiosas, sociopoliticas ou simplesmente
de socializacdo). Normas e priticas nfo podem ser analisadas sem se
IL Deverse desculpar 0 intenso cariter francéfono da bibliografia utlizada: razdes,
de comodidade, de acesso e de tempo nos obrigaram a restringir nosso campo de
investigagao. Nao ha divida de que avaliamos plenamente os limites desta expo-
sigfo, na qual maativemos o estilo proprio da expressto oral,
cum esolarcomo objeto isto u
levar em conta 0 corpo profissional dos agentes que so chamados a
obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagégicos
encarregados de facilitar sua aplicagao, a saber, os professores primirios
0s demais professores. Mas, para além dos limites da escola, pode-se
buscar identificar, em um sentido mais amplo, modos de pensar e de agir
largamente difundidos no interior de nossas sociedades, modos que no
concebema aquisicAo de conhecimentos e de habilidades sendo por inter-
‘médio de processos formais de escolarizago: aqui se encontra a escalada
dos dispositivos propostos pela schooled society que seria preciso anali-
sar; nova religito com seus mitos e seus rites contra a qual Ivan Ulich se
levantou, com vigor, hé mais de vinte anos*. Enfim, por cultura escolar &
conveniente compreender também, quando isso é possivel, as culturas
infantis (no sentido antropolégico do termo), que se desenvolvem nos
patios de recreio e o afastamento que apresentam em relagao as culturas
familiares.
Ousaria eu uma questio provocadora? Dispomos, hoje, de instru-
‘mentos prprios para analisar historicamente esta cultura escolar? Faz
‘uns vinte anos, as probleméticas da historia da educagao refinaram-se
consideravelmente, mas também desconheceram em grande parte, pare-
ce-me, o estudo das priticas escolares. Na década de 1970, 0 estudo
sociolégico das populagdes escolares, em diferentes niveis de escolarida-
de, assim como a anilise do sucesso escolar desigual segundo as catego-
rias socioprofissionais, conduziram numerosos historiadores, nas pegadas
de Pierre Bourdiew e Jean-Claude Passeron (mas também na agitagao dos
acontecimentos de maio de 1968) a ver na escola apenas “o meio inven-
tado pela burguesia para adestrar e normalizar 0 povo”, responsive,
portanto, sob 0 manto de uma igualdade abstrata, que veicula, intactas,
as desigualdades herdadas, pela reprodugdo das herangas culturais e pela
reposicZo do mundo tal qual ele 6°. Nos anos 80, que assistiram, em
‘CE Ilich (1971); numa visto bastante diferente, fundacia na teovia da motivagao e
visundo na verdade o fortalecimento dos dispositivos escolares de wm complexe
educativo (cite éducative), cf, THusén (1974). A bibliografia sobre este tema €
precisa ¢ abundant
3 Esta Intepretagdo encontra-se também na recente obra de M. Crubellier (1993).
R revista brasileira de istiia de ducaglo 1 jan jun 2001
varios paises, a comemoragao das grandes leis que impuseram, no fim do
século XIX, a obrigatoriedade escolar, essa mesma escola foi, pelo con-
ttirio, reabilitada como um triunfo ao mesmo tempo técnico e civico,
fruto da imposicao segura de uma pedagogia normativa. Em um e outro
caso, os autores realmente compartilham uma convic¢ao idéntica: a de
uma escola todo-poderosa, onde nada separa intengdes de resultados.
‘Trabalhando principalmente sobre textos normativos, os historiadores da
pedagogia tenderam sempre a superestimar modelos e projetos e a cons-
titwir, no mesmo lance, a cultura escolar como um isolamento, contra 0
qual as restrigdes e as contradigdes do mundo exterior viriam se chocar:
xno colégio jesufta, as hierarquias das antigas ordens seriam substituidas,
‘como por milagre, pela igualdade fundada no mérito individual, os ru-
{dos da corte e da cidade nfo penetrariam nos pétios de recreio ou nas
salas de aula; a escola de Jules Ferry teria sido inteiramente reservada &
formagio de perfeitos republicanos. Esta visto um pouco idilica da po-
téncia absoluta dos projetos pedagégicos conforma talvez uma utopia
contempordnea. Ela tem muito pouco a ver com a historia sociocultural
da escola e despreza as resisténcias, as tensdes € os apoios que os proje-
tos tém encontrado no curso de sua execuedo.
De fato, para evitar a ilusdo de um total poder da escola, convém.
voltar ao funcionamento inferno dela. Sem querer em nenhum momento
negar as contribuicdes fornecidas pelas probleméticas da historia do en-
sino, estas tém-se revelado demasiado “extemalistas”: a historia das idéias
pedagégicas é a via mais praticada e a mais conhecida; ela limitou-se,
por demasiado tempo, a uma histéria das idéias, na busca, por definicao
interminavel, de origens e influéncias; a historia das instituigdes educati-
vvas nao difere fundamentalmente das outras histrias das instituicdes (quer
se trate de instituigdes militares, judiciais etc.) A histéria das populagdes
escolares, que emprestou métodas e conceitos da sociologia, interessou-
se mais pelos mecanismos de selecdo e exclusdo social praticados na
escola que pelos trabalhos escolares, a partir dos quais se estabeleceu a
discriminagao. E de fato a histéria das disciplinas escolares, hoje em
preciso, sobretudo, perguntarse sobre quais acordos foram estabelecidos entre a
cultura imposta do alto pelo Estado e a cultura populat.
cum esolarcomo objeto isto B
plena expansio, que procura preencher esta lacuna. Ela tenta identificar,
tanto através das priticas de ensino utilizadas na sala de aula como atra-
vvés dos grandes objetivos que presidiram a constituigao das disciplinas, 0
niicleo duro que pode constituir uma histéria renovada da educacdo*. Ela
abre, em todo caso, para retomar uma metéfora aerondutica, a “caixa
preta” da escola, ao buscar compreender 0 que ocorre nesse espaco par-
ticular.
‘Minha proposta se limitard, por varias razbes, ao periodo modemo e
contemporaneo, isto é, o periodo compreendido entre os séculos XVI e
‘XIX: razdes de competéncia primeiramente, mas também por trés razbes
‘a0 menos, melhor fundadas sobre o plano epistemoligico.
P. 0 século XVI vé a realizaeao de um espaco escolar & parte, com
‘um edificio, um mobiliério e um material especificos: o que é verda-
deiro para as universidades desde o século XV prolonga-se neste
‘momento no colégio, que hoje chamamos secundério, Basta refletir
sobre as exigéncias materiais manifestadas pelos jesuitas no mo-
‘mento em que eles se véem encarregados, por determinagao da ad-
‘ministrado de determinada municipalidade, de um estabelecimento
escolar, ¢ também sobre a proximidade das plantas utilizadas, que
‘toma ainda hoje reconhecivel, no espaco urbano contemporiineo, 0
antigo colégio da Companhia (cf. Vallery-Radot, 1960). Quanto &
escola elementar, tem-se a impressio de que as instituigdes de cari-
dade tiveram um papel pioneiro, a partir do século XVITE: nos Pai-
ses Baixos, as escolas diaconais dos pobres e os orfanatos tiveram
assim, relativamente cedo, seu equipamento especifico; na Franca,
as escolas urbanas dos Frades das Escolas Cristas dispunham de
‘um local e de um mobilidrio apropriados ao ensino simultdneo e
Jean-Baptiste de La Salle inspirou-se, em suas diretivas, nas expe-
rigncias realizadas nas escolas das paréquias-piloto da capital, a
partir do século XVI E verdade que as escolas de caridade consti-
‘iam apenas uma minoria e que a existncia de um espaco escolar
4 CE Jean Hébrard (1988), “Pour une histoire des disciplines scolaires", Histoire
de 1éducation, n. 38, mao.
revista brasileira de istiia de ducaglo 1 jan jun 2001
autGnomo s6 foi obtida, no conjunto das escolas primirias, no de-
cosrer do século XIX.
2. O periodo modemo e contemporaneo vé instaurar-se a mudanga
decisiva dos cursos em classes separadas; cada uma delas marca
‘uma progress4o de nivel. De inicio, utilizado pelos Frades da Via
‘Comum dos Paises Baixos, o sistema foi retomado pela Universida-
de de Paris, de onde seu nome modus parisiensis (cf. Mit, 1968),
mais tarde difuundido tanto nos gindsios protestantes dos paises
germénicos (cf. Schindling, 1977, 1984; Maffei & De Ridder-
Symoens, 1991) como na Companhia de Jesus, que aderiu a esse
sistema desde o inicio. Na Inglaterra, o ensino lnumanista se desen-
volveu, apés a dissolugdo, pela Reforma, dos monastérios e das
capelas (chantries), com a fundacdo das grammar schools que se
‘modelaram pelas experiéncias feitas na St, Paul’s School por John
Collet e nos colégios de Oxford e Cambridge, a partir das primeiras
décadas do século XVI (cf. Simon, 1966).
3°, Ba partir do século XVI que nascem os corpos profissionais que
se especializaram na educasfo: eles podiam tomar a forma de
corporagdes ou de congregagdes religiosas. A partir do fim do sécu-
lo XVIII, quando os Estados ilustrados entendem que é necessério
retomar da Igreja o controle tanto do ensino das elites como do en-
sino do povo, a formacio profissional dos educadores torna-se uma
prioridade reconhecida como o atesta, segundo cronologias diversi
ficadas, 0 estabelecimento de escolas ditas “normais”, nascidas,
primeiramente, em tomo do monastério dos cénegos agostinhos de
Sagan, cujo abade era Tgnace Felbiger e desenvolvidas, em seguida,
‘no conjunto dos paises da coroa austro-lningara (Allgemeine
Schulordnung fiir die deutschen Normal-, Haupt-, und
Trivialschulen in den sdmtlichen Kaiserlich-Kéniglichen
Erblanden, Viemne, 1774; Ratio Educationis tottusque rei literariae
per regnum Humgariae et provincias eidem adnexas, Vietme 1777),
antes de se estender ao conjunto da Europa.
Estes trés elementos, espaco escolar especifico, cursos graduados em
niveis e corpo profissional especifico, so essenciais & constituigao de
cum esolarcomo objeto isto 1s
‘uma cultura escolar e justificam, portanto, a restri¢o cronolégica que
‘me impus.
Uma Questao Preliminar: Quais Fontes de Arquivos?
Antes de tocar no ponto central do assunto, convém, entretanto, fazer
‘uma tiltima questo. A partir de quais elementos e como podemos exami-
nar a cultura escolar de maneira rigorosa? O historiador da educagao tem
freqlentemente oscilado entre duas afirmagdes contririas e igualmente
falsas: ou declara que no hi inovacdo pedagégica, j4 que sempre pode
descobrir os antecedentes de uma nova idéia ou de um nove procedimen-
to, pois tudo jé existia desde o comeco do mundo, sob o mesmo sol; ou,
pelo contrario, ele ressalta a novidade das idéias de um determinado pen-
sador em relagdo aos seus predecessores ou a originalidade absoluta que
tal iniciativa pedagégica representaria. Por serem simplistas, estas afir-
‘mages niio t8m propriamente sentido algum. Convém, pelo contririo, a
cada vez, recontextalizar as fontes das quais podemos dispor, estar cons-
cientes de que a grande inércia que percebemos em um nivel global pode
estar acompanhada de mudancas muito pequenas que insensivelmente
‘ransformam o interior do sistema; convém ainda nao nos deixarmos en-
‘ganar inteiramente pelas fontes, mais freqtlentemente normativas, que
lemos. A hist6ria das priticas culturais 6, com efeito, a mais dificil de se
reconstruir porque ela nao deixa trago: o que é evidente em um dado
‘momento tem necessidade de ser dito ou escrito? Poderiamos pensar que
tudo acontece de outra forma com a escola, pois estamos habituados a
ver, nesta, 0 higar por exceléncia da escrita. Ora, os exercicios escolares
escritos foram pouco conservados: o descrédito que se atribui a este g&-
nero de producio, assim como a obrigaco em que periodicamente se
acham os estabelecimentos escolares de ganar esparo, levaram-nos a
{jogar no lixo 99% das producdes escolares (cf. Chervel, 1988). Na Fran-
‘62, para a totalidade do Antigo Regime, chegaram-nos As milos somente
seis pacotes de deveres escolares do colégio jesuita de Louis-le-grand, de
Paris, realizados por volta de 1720, devido a um acaso inteiramente ex-
cepcional: 0 antigo bibliotecirio do colégio, precisando de papel para
1 revista brasileira de istiia de ducaglo 1 jan jun 2001
escrever um Comentario do Céntico dos Cénticos e uma obra consagra-
da A liturgia, abasteceu-se com provas de tradugao e de versio em latim,
€ de versos latinos, no verso das quais péde eserever (ef. Compére &
Pralon-Julia, 1992), Em relacdo ao século XIX, somente através das ¢6-
pias de exames on de concursos & que podemos esperar reconstimair uma
historia das priticas escolares em vigor e da apropriacao, feita pelos
alunos, dos conhecimentos disciplinares ministrados: cépias do Concur-
80 Geral, onde se confrontavam os melhores alunos dos colégios reais
(transformados em liceus), foram conservadas, assim como as versbes
latinas do exame de baccalauréat feitos nas Faculdades de Letras*. Quanto
aos ditados da escola priméria da Terceira Republica, deve-se a conser-
vagdo de alguns milhares deles a mania de um inspetor que, no decorrer
de suas inspegdes, propunha 0 mesmo texto aos alunos das classes que
visitava e 05 reunia aos relatérios que enderecava ao ministro (cf. Chervel
& Manesse, 1989a, 1989b). André Chervel, 0 autor que encontrou 0 lote
de ditados da Terceira Repiiblica que dormiam nos Arquivos Nacionais
de Paris, ressaltou de modo pertinente, antes de analisar as faltas comet
das pelos alunos, todos os vieses que caracterizam a amostra constituida
or esse inspetor que, devido ao estado das comunicagdes ferrovidrias,
86 visitava as comunidades menos isoladas do territétio, por definicao
mais abertas modernidade. Nao é certo, infelizmente, que as cépias dos
alunos estejam melhor conservadas no século XX, em razio tanto da
expansio da escolarizagao para o conjunto da sociedade quanto da exi
Bitidade dos locais escolares, a despeito do interesse que atualmente psi
célogos e soci6logos da educagtio demonstram por este género (cf. Lahire,
1994; Beaud, 1994): regularmente, como se diz, ¢ preciso “arranjar es-
ago” e os documentos nao sao nem mesmo transferidos para depésitos
de arquivos que deveriam legalmente recebé-los. Seria conveniente, em
cada um dos paises que representamos, fazer uma coleta similar de docu-
‘mentos idénticos, perguntando-nos a cada vez sobre a representatividade
que Ihes podemos atribuir.
5 Relativo ao Concurso Geral, ver Biblioteca da Universidade de Paris, ms n° 1538-
1546 (provas premiacas de 1809 a 1821) e Arquivos Nacionais AF 16630678 (provas,
do pesiodo 1882-1903); para as versdes latinas do vestibular, cf A. Chervel (994),
cum esolarcomo objeto isto ”
Sem divida, no devemos exageraro siléncio dos arquivos escolares.
Ohiistoriador sabe fazer flechas com qualquer madeira: quanto ao sculo
XIX, por pouco que procure e que se esforce em reuni-los, os cadernos
de notas tomadas pelos alunos (mesmo sendo grande o risco de se verem
conservados apenas os mais bonitos deles) e os cademos de preparagdes
dos educadores, no sto escassos* e, na falta destes, pode-se tentar
reconstituir, indietamente, as priticas escolares a partir das normas di-
tadas nos programas oficiais ou nos artigos das revistas pedagogicas.
Mas estamos menos equipados para perceber as diferencas — diversas
segundo as classes sociais de origem — que separam as culturas familia-
es ou profissionais da cultura escolar. Os estudos quantitativos sobre as
taxas de alfabetizagao que se multiplicaram no curso dos iltimos anos,
seja a partir das assinaturas por ocasifio de casamentos, seja a partir dos
dads de recenseamentos nacionais sio extremamente preciosos, mas n30
nos fornecem elementos para responder as questdes que nos colocamos
hoje: a assinatura é um teste frégil que nfo pode nos dar mais do que ela
raz. A colocagdo em série desias assinaturas segundo a longa duragao
permitin estabelecer uma cronologia dinamica das distribuigdes geogra-
ficas regionais, das reparticbes entre cidade e campo, entre classes s0-
ciais, entre profissbes, entre sexos; essa colocacdo em série fez:a0 mesmo
‘tempo emergir os grandes fatores econdmicos que facilitam ou dificultam
o acesso A escrita. Todas essas aquisicBes sto capitais (cf. Julia, 1993).
A assinatura, porém, ndo nos diz nada e nio pode nos dizer nada
sobre 0 como da apropriagao lexica, nem sobre os niveis de leitura atin-
gidos por cada um. De fato, para especificar as culturas familiares, con-
‘vem dirigit-se a outras fontes: nas regides onde a alfabetizagto progrediu
suficientemente, multiplicam-se, no século XIX —e as vezes bem antes,
embora tais textos ndo tenham sido necessariamente conservados -, as
autobiografias de camponeses e operirios que, a0 se tornarem “novos”
leitores, adquiriram o dominio da escrita para contar seus prprios itine-
ririos: a organizacao de tais documentos em série permite-nos medir 0
lugar do livro e das priticas de leitura no foro familiar, nos meios onde,
6 Para uma identificagto sumiria das riquezas conservadas na Franga ef. A.Sentilhes
(1992) e D. Julia (1992.
8 revista brasileira de istiia de ducaglo 1 jan jun 2001
«a priori, as taxas de alfabetizagao nos teriam impedido de imaginé-lo e
avaliar também o desejo ou a recusa da escola nesses meios (cf. Hébrard,
1985, 1991). Na pesquisa que Jacques Ozouf realizou com 4000 mil
professores primérios franceses que ainda estavam vivos na década de
1960 e que tinham exercido sua profissao antes da Primeica Guerra Mun-
dial, 0 autor péde mostrar que, se os professores primérios da Terceira
Reptiblica so oriundos de meios modestos (artestios, camponeses, co-
‘merciantes), seus pais (nascidos por volta de 1850) eram em geral muito
mais alfabetizados que o conjunto de suas categorias sociais, e que em
suas familias havia mesmo um desejo de escola, compartilhado por pais
e filhos, que permitiu a ascensio social em direcdo & profissdo, entio
muito dignificada, de professor primério (cf. Ozouf et al., 1992). Seria
preciso, naturalmente, poder dispor de pesquisas similares sobre outros
meios para esclarecer os respectivos graus de proximidade e de
distanciamento das diferentes familias com relagdo a instituigo escolar
¢, se possivel, de maneira diacrénica,
E verdade que estamos bem menos informados sobre os séculos an-
teriores. Se as autobiografias espirituais dos puritanos ingleses, analisa-
das em série, permitem-nos retracar com precisdo as etapas da entrada
de sous autores na escrita, em uma atmosfera familiar onde a leitura da
Biblia tem uma importincia capital (cf. Spufford, 1979), estamos redu-
zidos, em outros lugares — e particularmente em paises catélicos — a
retomar 05 textos literarios oferecidos pelas descrigdes de aulas (mas
que tipo de veracidade atribuir & transposiedo literéria?)’ ou as memé-
rias de personagens cuja trajetdria é, sob todos os pontos de vista, excep-
cional. Tal como a de Valentim Jamerey-Duval, pequeno camponds iletrado
de Auxertois, nascido no inicio do século XVIII que, tendo fugido de
‘uma madastra particularmente severa, terminaré sua vida como bibliote-
cério do imperador em Viena, depois de uma errancia autodidata, que 0
conduziu da sua cidade natal as florestas da Lorena, onde ele aprende a
ler por intermédio de seus companheiros pastores. Tendo chamado a aten-
7 Cha descricio do professor de Nity, pequena cidade de Anxestois, feta por Rétt
de La Bretonne (1778) e, do mesmo autor (1796), a descrigao da aula de leitura
em Sacy.
cum esolarcomo objeto isto 1”
‘fo do duque da Lorena durante uma cagada, foi enviado a Universidade
de Pont-3-Mousson para ai fazer seus estudos de lingua e literatura greco-
latinas, isto é, para terminar sua aculturagao no mundo dos letrados (cf.
Jamerey-Duval, 1981; Hébrard, 1985). Mas se tal percurso pode ser
interessante pela sua prépria estranheza, nao podemos evidentemente
atribuir-the uma representatividade que no possui. Se ¢ verdade, no
entanto, que os documentos nao sto abundantes para 0s periodos anti-
208, € certo que os historiadores os procuraram com a tenacidade de-
monstrada por Armando Petrucci na Italia, reconstituindo, a partir da
anilise paleogrifica do registro de contas de uma salsicharia do bairro
do Trastevere, em Roma, as priticas de escrita utilizadas nos meios da
Cidade Eterna no século XVI: com efeito, os proprios clientes escreviam
© reconhecimento de suas dividas nesse registro (cf. Petrucci, 1978).
‘Como repetia incansavelmente Armando Momigliano, as fontes podem
ser encontradas se temos a tenacidade de ir procuré-las.
Apés esta recapitulacdo suméria das fontes utilizaveis pelo historia-
dor, que constituem apenas uma fina pelicula em relacdo a todos os tex-
tos que foram realmente produzidos, gostaria de desenvolver minha
exposi¢do segundo trés eixos que parecem vias particularmente interes-
santes de serem seguidas para o entendimento do objeto do qual nos
‘ocupamos hoje : a primeira via seria interessar-se pelas normas e pelas
finalidades que regem a escola; a segunda, avaliar o papel desempenha-
do pela profissionalizagao do trabalho de educador; ea terceira, interes-
sat-se pela andlise dos contetidos ensinados e das praticas escolares.
Andlise das normas e das finalidades
que regem a escola
Nao existe na histéria da educaco estudo mais tradicional que o das
normas que regem as escolas ou 0 colégios, pois nés atingimos mais
facilmente os textos reguladores e os projetos pedagdgicos que as pri-
prias realidades. Gostaria de insistir somente sobre dois pontos: os textos
normativos devem sempre nos reenviar as praticas; mais que nos tempos
de calmaria, 6 nos tempos de crise e de conflitos que podemos captar
melhor 0 funcionamento real das finalidades atribuidas & escola,
2 revista brasileira de istiia de ducaglo 1 jan jun 2001
Um exemplo: a elaboragao do Ratlo studiorum jesulta
Sobre o primeiro ponto, me limitarei a tomar o exemplo de um texto
{que teve uma difusdo europea; trata-se do Ratio studiorum jesuita, cuja
edic2o definitiva apareceu em 1599 e serviu de norma aos colégios até a
supresséo da Companhia em 173%. A primeira vista, o Ratio é apenss
‘mais um dos inumeriveis programas de estudos e de ligBes que foram
abundantes no curso do século XVI, detalhando para cade classe autores
aserem estudados, partes da gramética a serem aprendidas, exercicios a
serem feitos. E, deste ponto de vista, pertence a um género bem estabele-
cido do qual é herdeiro. Mas a originalidade do Ratio jesuita deve-se &
lentidao de sua elaboragao: além do fato de que duas versbes sucessivas,
de 1586e de 1591, circularam através de diversas regides antes da publi
cag2o do texto definitivo de 1599, cingtenta anos separam as primeiras
regras do colegio de Messina, editadas pelo Padre Nadal em 1548, mes-
‘mo que as Constituigdes da Companhia tivessem expressamente previsto
a redagdo de um texto regulamentar destinado a unificar os modus agendi
dos jesuitas*. Ao menos duas razdes dio conta da lentidio do proceso
de redac20: a primeira é que o objetivo perseguido munca foi o de impor
de cima para baixo uma norma cuja execuco, no mais, teria sido proble-
‘miética, mas o de elaborar um texto o mais préximo possivel das expe-
ri8ncias conftontadas. E necessitio lembrat o papel primordial, no interior
da Companhia, da correspondéncia, cujas regras foram codificadas mui-
to cedo e que tende a tomar 0 lugar ocupado pelo oficio divino nas ant.
‘gas ordens religiosas". E por esta correspondéncia continua, como pelas
8 As diferentes versdes do Ratio studiorum jesuita foram reeditadas pelo Pade
Ladisias Lukics (1986).
9 © conjunto de textos pedagégicas da Companhia é atalmente objeto de uma
seedigio critica organizada pelo Padre Ladislas Lukes, da colegio publicada
em Roma Monumenia Paedagogica Socieiats Jesu: see volumes foram publica
dos entte 1965 e 1992.
10 CE. as cartas de Ignicio de Loyola a Pierre Favre, 10 de dezembro de 1542, a
Nicolas Bobadilla, 1543, a toda a Companhia de Jesus, 27 de julho de 1547,
ttaduzidas em francés (Giuliani, 1991).
cum esolarcomo objeto isto 2
inspegdes regulares dos padres visitadores (e a circulagao dos préprios
padres entre as regides, ainda muito forte no século XVI), que se pode
realizar uma unificagao das priticas. A segunda razio da lentidao da
redacio do Ratio & 0 extraordindrio crescimento da Companhia no século
XVI, que passa de um pouco mais de mil membros na ocasiao da morte
de Inicio de Loyola, em 1556, para mais de oito mil em 1600 e toma
‘mais complexa tanto a troca de informagdes como a unificagdo desejada
(cf. Lukées, 1960-1961, 1968). De fato, a redacto final seré fruto da
releitura do conjunto dos textos normativos relativos aos estudos produ-
zidos, sejaem Roma, seja nas provincias da Companhia, por uma comis-
sfo internacional de seis padres jesuitas, eo texto definitivo de 1599 serd
publicado somente apds a versio de 1591 ser colocada a prova (ad
experimentum) por trés anos, no conjunto dos colégios, levando-se em
conta a recepeao e as observacdes vindas das provincias.
Eun entraria nos detalhes das modificagSes que podem ser indicadas
entre as diversas versdes do Ratio, mas vou reter uma tinica mudanca que
‘me parece particularmente significativa. Entre a verstio de 1586 e a de
1591, o plano foi completamente alterado. Na primeira, o plano se desen-
volve segundo obrigacdes a cumprir, isto é, segundo o curriculo das au-
las: trata-se de um programa de licdes e de exercicios graduados que
parte do curso de teologia para chegar na infima grammatica, isto & a
‘mais simples aula de gramitica. Na segunda versio, a de 1591, e também
a de 1599, o plano se desdobra segundo as funcdes de cada jesuita no
interior dos dispositivos de estudo, desde 0 papel do provincial até o
Imumilde oficio do porteiro, pasando pelo prefeito (diretor) de estudos:
aqui é estabelecida uma hierarquia de fungdes e de poderes especializa-
dos, que se imbricam uns nos outros segundo uma arquitetura comple-
Xa, mas extremamente precisa. O que aconteceu entre 0s dois textos?
Pode-se certamente invocar a dupla genealogia dos textos regulamenta-
res jesuitas; uns, consagrados as licdes e aos programas, outros, encar-
regados de definir as funedes atribuidas a cada membro da Companhia.
Mas € necessério, sobretudo, recorrer a todo 0 movimento de reflexiio
que se desenvolveu em seguida A crise que se abateu sobre os colégios e
as dificuldades experimentadas quando se tentou manter no interior das
comunidades jesuitas o entendimento entre os regentes ea disciplina, Pouco
2 revista brasileira de istiia de ducaglo 1 jan jun 2001
‘a pouco, ao longo das experiéncias de revolta ou de abandonos, emergit
aevidéncia de que o colégio nfo é somente um lugar de aprendizagem de
saberes, mas é, ao mesmo tempo, um ugar de inculeago de comporta-
mentos e de habitus que exige uma ciéncia de governo transcendendo &
dirigindo, segundo sua prépria finalidade, tanto a formacao crista como
as aprendizagens disciplinares*, Donde @ figura progressivamente cen-
tral do ditetor dos estudos que permanece, entretanto, subordinado a0
superior; donde, no interior de cada estabelecimento, esta imbricagao
hierarquizada de poderes especializados definindo a esfera de interven-
‘lo pripria de cada um. Donde, enfim —e isto é particularmente verda-
deiro para os estabelecimentos com pensionistas -, a necessidade de
‘munir-se de um conhecimento psicolégico sobre as eriangas extrema-
‘mente detalhado para reconhecer nfo somente o nivel intelectual em que
se encontra cada uma delas, mas também a sua natureza, a fim de saber
‘como agir apropriadamente sobre cada uma". A cultura escolar desem-
boca aqui no remodelamento dos comportamentos, na profiunda forma-
lo do cariter e das almas que passa por uma disciplina do corpo e por
suma diregto das consciéncias. A anilise das congregagdes marianas fun-
dadas pelos jesuitas a partir de seus colégios mostrou o papel essencial
que estes grupos de piedade organizada desempenharam para uma
catolicizacdio profunda da Europa central (cf. Chatellier, 1987),
A evoluclo mesma do Ratio nos remete, portanto, as préticas que a
experiéncia progressivamente legitimou nos colégios. E necessério, so-
bretudo, imaginar nesta, um texto normativo que teria sido aplicado de
‘maneira uniforme de Lisboa a Viena ou de Bruxelas a Roma. Se é verda-
de que a circulagao dos textos, como a circulagio dos homens, favorece-
rama constitui¢ao de um modus agendi commum ao conjunto do corpo da
Ordem, a regra de ouro de Inacio de Loyola — 0 que aliss, faz.a forea da
‘Companhia, foi sempre a lei da adaptacdo aos lugares e is circunstan-
11 CE particularmente as Constituigdes do Colégio Genménico de Roma, redizidas
pelo padre G. Cortesono (Lukies, 1974, 12, pp. 861-934),
12 CF. paricularmente o tratado do Padre M. Lauretano, diretor de estudos de lingua
¢ literatura greco-atinas no Colégio Germinico de Roma sobre a manera de go-
‘vera o dito colegio (Lukics, 1974, t2, pp. 934-953),
cum esolarcomo objeto isto 2
cias: toda uma série de regras proprias a cada provincia ow a Assisténcia
(Alemanha, Itlia, Espanha), foram, aliés, explicitamente mantidas; pro-
vade que uma diversidade podia ser tolerada no interior do corpo, contanto
que as diretrizes gerais fossem aceitas (cf. Lukics, 1986).
Projetos pedagégicos e realidade histérica
A abordagem que acabamos de fazer mostra bem 0 quanto seria
falso imaginar 0 universo jesuita como um mundo fechado, fechado aos
ruidos do exterior, e isto me leva a abordar a segunda pista de trabalho
que gostaria de propor para reflexdo: temos sempre tendéncia, ao ler-
‘mos textos normatives ou projetos pedagégicos, de destacar a tentagao
“totalitéria”, ou ao menos englobante de todo o ser da crianga, que os
caracteriza. Mas 08 tempos de crise nos revelam também o quanto, a0
menos até a aurora do século XX (faco esta restri¢do porque, voces
compreenderam bem, sou um historiador de periodos mais antigos), re-
sisténcias e contradi¢des atravessaram a aplicacdo dessas ambicdes. Seja
© caso da instauracdo da instrucdo priméria obrigatéria que foi realiza-
da em diferentes paises da Europa , em diferentes momentos do século
XIX: esta construiu-se mais freqHentemente ligada a um projeto politico
que visa a associar cada cidadio ao destino da nago A qual pertence.
Nao se trata somente de alfabetizar, trata-se de forjar uma nova cons-
ciéncia civica por meio da cultura nacional e por meio da inculcagao de
saberes associados & nogdo de “progresso”. Os professores primérios
tornam-se funcionérios do Estado que se emancipam progressivamente
da tutela dos padres e dos notaveis locais, sendo encarregados de difun-
dir as luzes trazidas pelo advento das cineias. Como voces todos sa-
bem, o estabelecimento desta nova escola priméria nfo se realizou
pacificamente, e eu no preciso detalhar aqui a violéncia dos combates
que pontuaram as lutas das Igrejas e dos Estados neste terreno. F que,
‘no momento em que uma nova diretriz redefine as finalidades atribuidas
0 esforgo coletivo, os antigos valores nfo so, no entanto, eliminados
como por milagre, as antigas divisdes nao so apagadas, novas restri-
‘ees somam-se simplesmente as antigas. Donde as insoliveis contradi-
ees nas quais se exerceu o trabalho do professor primério, que constituem.
” revista brasileira de istiia de ducaglo 1 jan jun 2001
seu espago de reflexao e de ago e o preservam dos totalitarismos inst
tucionais construidos sobre a convergéncia de todos os meios em dire-
‘Go a um fim tinico. Os professores primarios “tepublicanos” da Revolugio
Francesa ensinavam a ler usando a Declaragdo dos Direitos do Homem,
a Constituieao, mas também, sob a pressao das familias, as preces cris-
1s e o catecismo (cf. Kennedy & Netter, 1981). A pesquisa desenvolvi
da por Jacques Ozouf junto aos professores primarios da Terceira
Republica mostra a que ponto o testemunho destes desmente os estered-
tipos que foram complacentemente difundidos por seus adversétios: eles
esto conscientes dos limites do seu saber, longe de ser uma falange
arrogante, agressiva e sectiria; eles medem prudentemente seus atos em
‘seu campo de atuagao, distinguindo muito bem o possivel do desejivel e
tomando, por vezes, suas liberdades diante das diretrizes oficiais, quan-
do elas nao Ihes parecem aplicaveis; eles nao foram nem agentes de um
genocidio cultural nem de uma cruzada anti-religiosa, mesmo se suas
posi¢des, ao mesmo tempo politicas e sociais, em seus vilarejos fixam-
‘nos em um papel predeterminado frente ao paroco. Enfim, a experiéncia
de ensino cotidiano ensinov-lhes que, mesmo no mais intenso de suas
esperancas, a escola niio pode fazer tudo: a obrigatoriedade escolar co-
locou-os em presenca do éxito, que hes agrada obviamente evocar; mas
também frente ao fracasso (cf. Ozouf et al., 1992). Poderiamos certa-
‘mente mostrar como, atualmente, a redefinico das finalidades da esco-
la, que elimina cada vez mais as fronteiras da escola primria e do colégio,
nna maior parte dos paises europeus, prolongando a obrigatoriedade es-
colar € desembocando, ao mesmo tempo, em um prolongamento dos
estudos gerais e no desenvolvimento das formagdes profissionais na ins-
timigao escolar, também implica conflitos, confrontos e debates relacio-
nnados & manutengio dos valores e das finalidades antecedentes,
A profissionalizagao dos professores
Na anilise histérica da cultura escolar, parece-me de fato funda-
‘mental estudar como e sobre quais critérios precisos foram recrutados
08 professores de cada nivel escolar: quais so 05 saberes ¢ 0 habitus
requeridos de um futuro professor? Sobre este ponto, um estudo sobre a
cum esolarcomo objeto isto
longa duragao e nao apenas sobre a curta durago permitiria, sem di
dda, medir melhor as herangas e as modificacdes que se operam no decor-
ret das geragdes. Limito-me a destacar duas etapas importantes deste
processo.
‘Uma das primeiras figuras desta profissionalizagao ocorre quando a
antiga Cristandade se desmembra em confissdes plurais e, nos paises
catdlicos, na dinamica que segue o Concilio de Trento: ser cristo nto é
‘mais, como nos séculos passados, somente pertencer a uma comunida-
de, manifestando-se como tal, mas ser capaz de proclamar pessoalmente
as verdades da f e ser instruido sobre as verdades de sua religitio. Nos
temos, alids, refletido o bastante sobre a mutaco fundamental que uma
tal definig7o péde representar? Para dar apenas um exemplo, quando,
no século XVIIL, nos vilarejos da bacia parisiense, pérocos jansenistas
totalmente imbuidos de cultura urbana requisitaram de suas ovelhas
iletradas um enunciado minimo das verdades teologicas para poderem
teracesso a comunhao ¢ estabelecer, coma mesma medida, uma espécie
de exame de passagem, com seu lote de fracassos, eles excluem da so-
ciedade dos adultos os jovens que tém entre quinze e dezoito anos. O
recurso contra esta discriminagao humilhante foi, por vezes, ocasitio de
‘uma missio jesuitica, no decorrer da qual os sacramentos eram distri-
‘buidos com maior indulgéncia; segue-se que, bem antes da obrigatoriedade
escolar do sSculo XIX, é colocada uma questo que continua extrema-
‘mente atual: se a perten¢a a uma comunidade passa pelo dominio de um
saber (aqui, catequético), que destino se deve reservar Aqueles que no
se consegue instruir? E a intransigéncia quanto a0 nivel de exigéncia
‘ilo levard & rejeigto dos mais desfavorecidos? (ef. Julia, 1988; Boutry,
1986). De resto, a rejeic4o nao é unilateral, mas reciproca, pois aqueles
que a religito rejeita estardo entre os primeiros a rejeité-ta: as regides
fortemente marcadas pelo jansenismo foram também aquelas entre as
quais a “descristianizagdo” foi mais forte. Seria conveniente analisar,
sob este mesmo ponto de vista, os efeitos acarretados, do lado luterano
ou calvinista, pela pritica, muito precoce — e ela é atestada desde os
séculos XVIe XVI do exame feito na frente do pastor antes da contfir-
‘maco; os pastores na verdade se perguntam: todos devem ser admit
dos? Que cristos serdo esses que no sabem ler ou que, sabendo ler,
2s revista brasileira de istiia de ducaglo 1 jan jun 2001
iio compreendem o que Iéem?"*. A importincia concedida pela doutrina
pietista 4 confirmaco, nas igrejas Iuteranas, como afirmacao puiblica
de uma convie¢ao interior diante da comunidade reunida, nao s6 refor-
cou a presso em favor da obrigatoriedade escolar, mas também de uma
maior visibilidade do fracasso (cf. Liedtke, 1991).
‘No século XVI, na conjuntura da reconquista religiosa que se incen-
tiva, seja do herético, seja do selvagem do Novo Mundo, nao & pois es-
pantoso que, no seio da Tgreja catdlica, as ordens religiosas missionarias
‘enham.-se investido das tarefas de ensino que devem atingir a totalidade
dos fis: as elites e 0 povo. Mas se notari imediatamente a divisao que se
opera desde cedo nos meios moderados, onde ja se pode observar um
primeiro corte entre o que é um ensino elementar no sentido préprio do
termo (os elementos da f8) eo que é uma instrugao voltada para a forma-
lo superior: a missio, pregacao extraordinaria que retorna, no entanto,
«em intervalos regulares, é modalidade escolhida para atingir o conjunto
cde uma populacao em que todas as idades estdo misturadas (cf. Chitellier,
1993); o colegio destina-se as futuras elites e os jesuftas sempre manites-
taram a maior reticéncia em admitir em seus colégios as classes ditas de
abecedatios, julgando que tal ensino dos rudimentos nao estava previsto
por suas fungBes. No nos esquecamos de que um dos principais objeti-
vvos de Inicio de Loyola ¢ a recatolicizagdo da Alemanha: esta passa por
‘uma reconquista da nobreza alema* : donde a preocupacio de competi-
io intelectual que visa a fazer dos colégios jesuitas alemes universida-
des completas, nas quais a qualidade dos ensinos ministrados deveria ser,
a0 menos, igual 4 das universidades luteranas. Nao podemos nos espan-
tar com 0 fato de que, muito cedo, as congregagdes que ensinam nos
13 C£.a titulo de exemplificagio, o catilogo dos alunos da pardquia de Lebus na
rissa, redigido em 1779 pelo pregador Baumann: dentre 34 alunos de 14 a 15
‘anos que se preparavam para a canfirmaglo, 4 nfo conheciam as letras, 9 sabiam
soletrar com dificuldade, 15 liam gaguejando e de maneira quase sempre incorre-
‘a; 6 liam com dificuldade ¢ sem compreender (texto publicado por W. Neugebauer,
1992).
14 CEA carta de Inicio de Loyola aos Companhelros que partem para a Alemania,
24 de setembro de 1549 (Giuliani, 1991, pp.757-762), carta a Claude Jay, 8 de
agosto de 1551 (Giuliani, 1991, pp. 793-795}; carta a Albert V, duque da Baviera,
22 de setembro de 1551, Giuliani, 1991, pp. 798-801).
cum esolarcomo objeto isto 7
colégios tenham estabelecido em seu proveito uma identificagao sistema-
tica das capacidades suscetiveis de oferecer ao corpo da Ordem as com-
peténcias apropriadas ao ensino: as Constituigdes da Companhia de Jesus
prevéem, antes do ingresso, um exame geral que comporta uma andlise
das qualidades intelectuais dos candidatos jesuitas, e elas sublinham a
necessidade de desencorajar, no decorrer do curso, os que niio sejam ca-
pazes de segui-lo, estando a Companhia de Jesus sempre livre para recu-
sar, até 08 votos finais, aqueles que ela ndo considere adequados as tarefas
de sua vocarao. Os catilogos trienais, compostos em cada provincia e
encaminhados « Roma, julgam aliés, regularmente, 0 ingenium (inteli-
gencia), a prudentia (perspicécia), a pietas (devoco) e as vires (quer
dizer, a satide) de cada membro, instituindo assim um controle de cada
um deles, pelas autoridades centrais. Entre os oratorianos franceses, os
registtos do noviciado, onde sao detalhadas as qualidades dos novigos,
‘mantém quatro critérios: além das qualidades fisicas (um candidato que
‘manca ou que gagueja seré mais dificilmente aceito), entra em jogo a
inclinagdo para as ciéncias (os espiritos “obtusos” ou “pequenos” nao
sto particularmente apreciados, contrariamente aos espiritos “abertos”
‘ou “4geis”). Mas também entram em jogo a natureza (a um cardter “som
brio” ou “melancélico” seré preferivel uma natureza “doce” ou “décil”)e
naturalmente a piedade, o que parece, depois de tudo, bem normal, em
‘uma congregacio cuja finalidade é primeiramente religiosa. Quanto 20
‘modo de recrutamento dos professores do colégio na antiga universidade
deParis, que nfo é uma congregagao religiosa e que antes funciona como
‘uma corporacao medieval, ele assemelha-se a ima formacao preceptoral:
ccabe ao principal de cada colégio identificar os methores elementos, ret8-
os no colégio e ensinar-lhes 0 oficio progressivamente , dando-Ihes pro-
vvas para corrigit, exercicios a fazer ou aulas para substiuir, antes de
estabelecé-los definitivamente em uma cétedra. Aqui também entram em
Jogo, segundo matizes varidiveis e dificeis de documentar, no somente a
competéncia, mas também o cariter, a piedade e os costumes (cf. Julia,
1994),
Com relaciio a essas corporagbes que se proptem a construir ou a
‘manter uma sociedade catélica por meio da educa¢ao e enquadramento
de suas elites, a figura do mestre de escola elementar e particularmente a
a revista brasileira de istiia de ducaglo 1 jan jun 2001
do mestre do campo continvaram pouco profissionalizadas por muito
tempo. Em paises catélicos, pelo menos, a aprendizagem das verdades da
salvagio péde ser feita por via puramente oral, através de um catecismo
aprendido de cor, freqientemente mesmo em dialeto, posto que a Igreja,
diferentemente dos Estados, privilegia a lingua vernécula local em detri-
‘mento da lingua imposta pelo poder central: que necessidade ento de um
professor, se nfo se faz sentir a necessidade da escrita? A forma propria-
‘mente escolar, com um local separado da igreja e um pessoal apropriado,
‘no &, portanto, consubstancial ao ensino da doutrina, que pode servir-se
de canais menos formas. Por outro lado, a competéncia desses professo-
res elementares dependeu largamente no sé do nivel de exigéncia mani-
festada pelas municipalidades, que os remuneravam, como também da
importéncia dos honorrios que elas podiam pagar. J4 que nenhuma for-
‘maga inicial comum thes era dada, certamente & preciso admitir uma
extrema heterogeneidade desse pessoal, que se dedicava, freqentemente,
a outras atividades. A preocupacao de pér fim 4 errancia das criangas
pobres da cidade e exercer um controle sobre seus comportamentos, que
podiam ser delituosos, desencadeia, no fim do século XVIL, a criacao de
‘uma figura original: 0 irmao-professor. Jean Baptiste de La Salle pode
bem ser considerado tm inovador incémodo, que rompe com tradicao
das congregacdes religiosas quando decide fundar um instituto de lei-
‘gos — 0s Itmfos das Escolas Cristis nfo slo padres — que se excluem,
por vocagio, da cultura das elites para se consagrarem is escolas de
caridade destinadas aos mais pobres: eles no ensinardo 0 latim, mas
somente os rudimentos do ler, do escrever e do contar¢ eles 0 farao em
francés, Para essas categorias urbanas desfavorecidas, entre as quais a
escrita nao tinha penetrado— ou tinha pouca penetracao —a formacao de
uum habitus cristo ser’ baseada em uma pedagogia escolarizada nos
‘minimos detalhes: emprego do tempo, curso gradual de aprendizagem da
leitura e da escrita, tecnologias de transmissito e de disciplina, centros de
formaco para os mestres. Mas sabe-se bem, ao mesmo tempo, o quanto
esta nova figura do mestre de escola continuow minoritaria no Antigo
Regime. Um contra-exemplo disso é fornecido pela congregacio das Es-
colas Pias estabelecida por Joseph Calasanz para 0 mesmo objetivo do
Instituto dos Irmaos das Escolas Cristas. Posto que seu fundador no
cum esolarcomo objeto isto 2
havia expressamente proibido que seus membros fossem padres, nio es-
capou a deriva que a levou a responsabilizar-se por colégios e pensionatos
para a elite, notadamente na Europa Central.
Nos paises protestantes, a situacdo pdde variar consideravelmente,
segundo os Estados. A Reforma luterana funda-se, no entanto, na idéia
de que 08 Estados devem criar e manter as escolas: é com efeito necessé-
rio, como lembra Melanchthon, ensinar as criangas os principios de uma
vida crista e piedosa. Sabe-se 0 papel decisive desempenhado pelo
Praeceptor Germaniae na inspiragao das Schulordnungen, nos diferen-
tes Estados alemfes no século XVI; a Schulordiung editada para Saxe
(1528) serviu de modelo para a maioria das demais!*. Sem diivida, a
influéncia dos reformados foi mais sensivel na instalagao das escolas
latinas que no estabelecimento de um ensino elementar; isto nao impediu
que a Reforma favorecesse largamente o desenvolvimento de um controle
regular das escolas e dos mestres pelas autoridades laicas, 0 que pode,
por sua vez, favorecer a emergéncia de um perfil “profissional”. Aqui,
preciso permanecer extremamente prudente, distinguir entre mestres da
cidade e mestres do campo, entre grandes e pequenos Estados. Segundo
W. Neugebauer, que estudou a Prissia entre os séculos XVI e XVI, 0
Estado Modero ndo tinha os meios para impor uma politica escolar: a
despeito da legislacio, as escolas permaneceram sob o controle das auto-
ridades locais—e em grande parte nas mos do clero—até o fim do século
XVIII; devido & mediocridade de seu salério, o professor primario rural
era condenado a exercer uma atividade paralela, sendo ela, na maioria
dos casos, a de alfaiate (Neugebauer, 1985). Nao é certo, entretanto, que
6s resultados obtidos para a Prissia possam ser generalizados para 0
conjunto da Alemanha: a fragmentagao territorial em miiltiplos principa-
dos, frequentemente mintisculos, que muitas vezes foi considerada pelos
historiadores como uma fraqueza no plano do poder politico, revela-se,
aqui, como um trunfo, na medida em que a politica dos principes, sendo
exercida sobre um espaco mais reduzido, péde assegurar 0 controle da
aplicagao de suas decisdes e um enquadramento mais eficaz da socieda-
‘CE. Paulsen (1919), @ Mertz (1902), R. Vormbaum (1860); para uma andlise
recente dos métodos dos contedidos, ef. Strauss (1978).
0 revista brasileira de istiia de ducaglo 1 jan jun 2001
de. A Kleinstaaterei servi, na verdade, aos propésitos do absolutismo e,
sem dtivida, contribuiu para melhorar a competéncia dos professores (cf.
Vogler, 1975; Le Cam, 1992), Seria preciso, aqui, ainda estabelecer as
cronologias exatas e se perguntar como 0 impulso vindo do alto pode
encontrar-se com as aspiragdes culturais oriundas das populacdes: em
‘que momento e em quais meios & atestada a leitura intensiva da Biblia no
foro familiar? E certo que no interior do espago luterano e calvinista do
‘Norte da Europa defasagens importantes podem ser identificadas. Em
todo caso, nfo se pode fazé-lo na Suécia, onde o aprendizado da leitura e
do catecismo ocorreu sem a presenga das escolas e por intermédio apenas
do pastor que anotava os resultados de seus jovens discipulos tanto no
que diz respeito & capacidade de leitura quanto & compreensio dos con-
teiidos; uma espScie de modelo: esta alfabetizacdo que nao conhece a
forma escolar parece ser um caso inteiramente particular (cf. Johansson,
1981).
A segunda etapa da profissionaliza¢ao poderia ser situada no mo-
‘mento em que 0s Estados substituem as Tgrejas eas corporaedes munici
pais no controle do ensino: esta etapa situa-se no fim do século XVIII e
coincide com a supressio da Companhia de Jesus, que obrigou, durante
‘um periodo muito breve 15 anos, de 1759 a 1773 —0s Estados catélicos
a considerar substitutos para os professores de mais ou menos 600 colé-
«gios, distribuidos por toda a Europa catélica. Estudando de maneira com-
parativa os grandes Ratio studiorum editados pelos diferentes principes
ilustrados, seria necessério examinar com atengao o leque das condigdes
disponiveis para 0 professorado do ensino secundério: a virada maior me
parece ser, aqui, a passagem de uma selegdo discriciondria que se opera-
vvanno interior do corpo religioso pela tinica autoridade das congregagdes
‘ou dos prineipais, para a do exame ou do concurso, que introduz uma
visibilidade que repousa sobre provas escritas e orais codificadas; 0 exa-
‘me ou o concurso definem, tanto na forma das provas como nos contei-
dos dos saberes propostos aos candidatos, a base minima de uma cultura
profissional a se possuir. Nao seri mais possivel, daqui por diante, elimi-
znar um candidato, send com provas ostensivas de incompeténcia relati-
vvas As prOprias provas e nfo mais simples suspeitas. Seria precioso poder
beneficiar-se de estudos transversais e diacrdnicos de varios paises que
cum esolarcomo objeto isto a
analisassem de maneira aprofundada este momento especifico do recru-
tamento dos professores, levando em conta simultaneamente trés termos,
a fim de esbogar 0 que & a cultura do professor ideal no século XIX: a
evolugo dos autores no que se refere ao programa dos exames ¢ dos
concursos ¢ dos assuntos das provas efetivamente aplicadas, as
performances efetivamente realizadas pelos candidatos (que podem ser
controladas quando sto conservadas cépias das mesmas), os relatérios
das bancas, que prestam conta das expectativas e dos desejos —satisfei-
{0s ou nfo dos examinadores.
Para tomar 0 tinico exemplo do concurso de magistério francés para
© ensino secundario no século XIX, recentemente estudado por André
Chervel (1993), percebe-se que, desde entio, a piedade ou o cariter nio
mais so objeto de prova (como no interior das antigas congregacbes
educadoras); durante o periodo da Restauracao (1815-1830) os candida-
tos ainda devem fornecer certificados sobre a ortodoxia de sua conduta
religiosa ea conformidade de seu comportamento politico aos principios
‘monarquicos. Sobretudo, um julgamento sobre os habirus dos candida-
tos é imperceptivelmente reintroduzido nas provas: 0 candidato dito “bri-
Ihante” se distingue do bom aluno, mais lento, por um dominio da
argumentacHo oral ou da explicac2o, uma facilidade, um gosto, em resu-
‘mo, uma gama de qualidades que remetem nilo tanto ao exercicio pro-
priamente dito, mas & natureza do candidato, ela mesma socialmente
conotada, Ao mesmo tempo, os candidatos a0 concurso magistério de-
vem curvar-se a uma regra absoluta, a de se restringir aos limites do
pensavel autorizado no concurso. E por ter transgredido esta regra que 0
{futuro historiador Hyppolite Taine, aluno da Escola Normal, que tinha
todos os habitus requeridos para ser aceito em primeiro ingar no concur-
so de magistério de flosofia, em 1851, foi finalmente recusado: nao tinha
ele pretendido tratar das divisdes da moral separando-a da existéncia
divina? Nos tempos de ordem moral consecutivos & Revolugo de 1848,
uma tal audécia nao era de modo algum admissivel e © presidente da
‘banca sublinhow as razdes que levaram os examinadores a rejeitar “um
jovem vido de renome e pleno de confianca em si mesmo, que busca
distingnir-se, desviando-se dos caminhos tracados”. O dever prescrevia &
‘banca “desencorajar tentativas semethantes (...] E itil advertir aqueles
2 revista brasileira de istiia de ducaglo 1 jan jun 2001
«que se destinam ao ensino da moral que nao se podera ter toda a liberdade
de inovar em semelhante matéria”, Para bom entendedor, meia palavra
basta! A cultura escolar é efetivamente uma cultura conforme, e seria
necessirio definir, a cada periodo, os limites que tragam a fronteira do
possivel e do impossivel.
Seria conveniente desenvolver uma andlise similar propésito da fi
gura do professor primario. Desde os primeiros semindtios de protesso-
res primérios ¢ das primeiras escolas normais nascidas no dominio
germénico no final do século XVII, foi necessério um século para que
emergisse, através de toda a Europa, seu novo perfil profissional. Seria
necessirio aqui avaliar as herancas do pasado, que se desfazem muito
lentamente — a profissio de professor primario nao tinha sido pensada,
até muito recentemente, como uma “vocacdo”, leiga certamente, e nos
dois sentidos do termo; mas esta denominagao religiosa nao é sem signi-
ficado. Seria necessério também entender como esta figura subalterna
progressivamente tornou-se auténoma e definida nas competéncias de
‘uma profisstio muito diferente daquela do professor secundério. O pro-
fessor primério no ministra um curso magistral, mas seu papel é fazer
as criancas trabalhar, circular entre as carteiras para verificar como se
desenvolvem as atividades de cada grupo (quando deve, por exemplo, dar
aula em uma classe multiseriada), mandar um aluno para a lousa para a
correcdo, constantemente dar conselhios ou ordens a fim de melhor admi-
nistrar a sucesso dos exercicios que cada aluno nao chega a realizar
necessariamente no mesmo ritmo, Na memoria dos professores primé-
tos, as ligdes da escola normal nao os preparava, de modo algum, para
esta gestdo cotidiana das praticas da sala de aula; donde sua bulimia pela
leitura de revistas pedagégicas, onde eles esperavam encontrar suportes
para a sua inexperiéneia (cf. Ozouf et al., 1992). Contrariamente ao tra-
balho do professor do ensino secundério, no do professor primério existe
uma espécie de corpo a corpo fisico com a aula do qual seria preciso
reconstituir as modalidades histéricas (cf. Chartier, 1992). A separacdo
institucional das duas ordens de ensino, as finalidades completamente
distintas que elas perseguiam (a instrucdo obrigatéria de todo um povo,
de um lado, 0 ensino de uma parte das elites, do outro) nao puderam
sendo acentuar a oposigdio de duas culturas, priméria e secundaria,
cum esolarcomo objeto isto 8
Conteudos ensinados e praticas escolares
A anilise precedente remere-nos a um estudo daquilo que hoje se
chama disciplinas escolates: estas nfo sio nem uma vulgariza¢fo nem
‘uma adaptagto das ciéncias de referéncia, mas um produto especifico da
escola, que pde em evidéncia o carter eminentemente criativo do sistema
escolar. Como notou muito bem André Chervel, as disciplinas escolares
sfo insepariveis das finalidades educativas, no sentido amplo do termo
“escola”, e constituem “um conjunto complexo que nao se reduz aos en-
sinos explicitos e programados™*. © ensino clissico, tanto no Antigo
Regime quanto no século XIX, comportava também toda uma edhucaga0
‘moral continua, através dos modelos propostos is criangas como exem-
plona escolha das versdes, dos temas ou dos assuntos a serem desenvol-
vidos. Endo se pode esquecer que a inéreia do sistema pode efetivamente
‘mascarat, para os préprios agentes, as finalidades reais das disciplinas
‘que ensinam: um exemplo manifesto disso é 0 desenvolvimento eo uso da
‘gramitica escolar do francés, concebida de inicio como um simples aux
liar da aprendizagem da ortografia e transformada pouco a pouco em
{inalidade em si mesma da escola priméria. Contrariamente As idéias re-
cebidas, o estudo hist6rico das disciplinas escolares mostra que, diante
das disposicdes gerais atribuidas pela sociedade & escola, os professores
dispdem de uma ampla liberdade de manobra: a escola nfo é o ugar da
rotina e da coagdo e o professor ndio & o agente de uma didética que Ihe
seria imposta de fora. Mesmo se a corporacZo & qual pertence exerce
‘uma pressio — quer se trate de visitantes de uma congregaco, ou de
inspetores de diversas ordens de ensino ~, ele sempre tema possibilidade
de questionar a natureza de seu ensino; sendo a liberdade evidentemente
muito maior nas margens do sistema (nos internatos ou junto 20
preceptorado que pode ser exercido depois da aula). De fato, a tinica
restrigdo exercida sobre o professor & o grupo de alunos que tem diante
de si, isto &, os saberes que funcionam e os que “nao funcionam” diante
deste puiblico. Os professores primirios interrogados por Jacques Ozout
16 NOs nos ingpiramos aqui nas reflexdes pertinentes propostas por A. Chervel em
artigo publicado em 1988.
” revista brasileira de istiia de ducaglo 1 jan jun 2001
sublinham com encantamento o sentimento de ser rei no seu reino que
experimentavam quando entravam na sua sala de aula, orgulhando-se de
sta destreza e dos procedimentos que inventaram, procurando submeter
a renovacio da pedagogia ds restricbes de uma instrucdo coletiva (Ozout
et al., 1992). Fazer um inventitio sistematico destas praticas, periodo
por periodo, constituiria, a meu ver, um campo de trabalho efetivamente
interessante: ele permitiria compreender as modificagdes, freqilentemen-
te insensiveis, que surgem de geracdo em geracao. Aliés, a mudanga de
piiblico que impde freqiientemente a nudanca dos contetidos ensinados.
‘Uma das primeiras gramiticas escolares do francés (a de Not e Chapsal)
foi abandonada a partir do momento em que o ensino primério tornou-se
‘um ensino de massa, Seu contetido era julgado demasiado complicado, ¢
era necessirio chegar rapidamente a uma simplificacdo dos métodos e
dos exercicios (cf. Chervel, 1977). Convém examinar atentamente a evo-
lugdo das disciplinares escolares, levando em conta diversos elementos
«que, em ordem de importancia variada, compdem esta estranha alquimia:
‘0s contetidos ensinados, os exercicios, as priticas de motivagao e de est.
mulago dos altos, que fazem parte destas “inovagbes” que no so
vistas, as provas de natureza quantitativa que asseguram o controle das
aquisigdes
Aqui, vou-me deter sobre apenas duas delas. Sobre os contetidos en-
sinados, muito trabalho jé foi feito e bem feito. Em particular sobre os
‘manuais escolares (cf. Chopin, 1993). Mas eu gostaria de fazer uma
dupla adverténcia: 0 manual escolar no é nada sem 0 uso que dele for
realmente feito, tanto pelo aluno como pelo professor. Por outro lado,
‘io temos tido muito frequentemente a tendéncia de fazer uma andlise
puramente ideolégica desses manuais, que frisa o anacronismo? E claro
que uma das razdes maiores da crise da escola contemporinea e do
universalismo laico que a fundamenta foi a descolonizacao: havin para
s republicanos continuidade da emancipacao pela escola na emancipa-
io pela colonizacdo. E os professores primarios da Terceira Repiiblica,
interrogados em plena guerra da Argélia na década de 1960, reconheciam
facilmente, acerca disso, que seus olhos se abriram muito tardiamente
sim, vibraram em unissono com as conquistas que separavam os nativos
dos feiticeiros e potentados locais e transformavam os pequenos selva-
cum esolarcomo objeto isto a
‘gens em civilizados; sim, 2 politica colonial parecia-Ihes uma necessida-
de, pois se tratava de acelerar 0 acesso de todos os povos & razio. E
conveniente, portanto, recontextualizar muito precisamente os manuais
em sua circunstincia histérica (cf. Ozouf et al. 1992). Aqui, dois tipos
de pesquisas poderiam trazer resultados convincentes: a primeira seria
analisar sistematicamente 0 gesto que consistiu em expurgar os autores
clissicos antigos e reescrevé-los sem ceriménia, como o fizeram os jesui-
tas, preocupados em ndo permitir que seus alunos conhecessem as inde-
céncias de um Teréncio ou de um Marcial"; a outra seria fazer, a longo
prazo, uma comparacao internacional do cinone dos autores ensinados
tanto no nivel primério como no secundéio, e que sto promovidos &
dignidade de autores cujos textos so propostos para a meditaciio dos
candidatos dos exames e concursos. Na Franea, em um s6culo XIX que
vai até 1880, 0 cénone dos autores clissicos tende a se organizar, no
ensino secundério, em tomo de alguns autores maiores do século de Luis
XIY, enquanto que quatro autores sobre cinco citados nos manuais de
ensino primétio pertencem ao século XTX. O canone, no ensino secunda-
rio, alarga-se em seguida ao século XVI ao século XIX, segundo uma
nomenclatura que praticamente no é mudada até os anos de 1960, E
sintomitico constatar que a explosio deste canone coincide coma explo-
sto escolar que caracterizou 0 decénio de 1960 (cf. Milo, 1986; Chervel,
1936).
‘Tratando-se dos exercicios escolares, parece-me que o terreno acaba
de se abrire que nds estamos no corago mesmo da caixa preta da qual eu
falava na introducao. Os primeiros resultados adquiridos sao suficiente-
‘mente promissores para que possamos esperar muito ainda desse lado: a
variacao das performances escolares identificadas nos mesmos ditados,
com um século de intervalo, permitiu medir como mudou a relacdo dos
franceses com a sua pr6pria lingua. O exercicio de versio latina no sécu-
Jo XVIII nto é percebido pelos alunos nem corrigido do mesmo modo
pelos professores no século XVIII e no século XX. O estudo diacrdnico
dos exercicios nos introduz, portanto, em uma historicizagao das modali-
17 CE. sobre este ponto, alzumas indicagdes ripidas em F. de Dainvlle (1940); cf.
também PA. Fabre (a ser publicado),
38 revista brasileira de istiia de ducaglo 1 jan jun 2001
dades de relacionamento com a escrita escolar: neste campo ainda novo
‘onde podemos enfim perceber concretamente a distincia entre a realidade
ea ambigao inicial e a norma prescrita, tudo, ou quase tudo esti por ser
Reto.
Conclusaéo
‘Tenho plena consciéncia de aqui ter tratado apenas de uma infima
parte do assunto que escolhi para falar. Gostaria, a0 menos, de assinalar
trés lacunas de minha exposicao que me parecem importantes:
1°) Nao falei sobre a inculcaedo dos habitus tal como ela foi operada
no espago escolar: habitus cristios, habitus civicos, ou simples-
‘mente civilidade pueril e discreta, Seria preciso, aqui, poder acom-
panhar, a longo prazo, os manuais de piedade e de civilidade,
identificar a evolugdo dos mesmos, mensurando a atengo que con-
ferem As hierarquias sociais, mas também distinguindo o que pro-
‘vém do fundo muito antigo dos Padres da Tgreja, o que vem da
civilidade de Erasmo ou de seus contempordneos, e o que & acres-
centado pelos manuais escolares ao longo das geragBes (cf. Elias,
1939; Chartier, 1986; Revel, 1986). Mas em retrospectiva e no
‘mesmo movimento, seria preciso recolher, através das autobiografi-
as, como através de uma historia oral, questionando as antigas ge-
ragdes, tudo 0 que de uma cultura tradicional, ou de uma cultura
especifica de determinado grupo social, pode resist & tentativa de
aculturagao da escola, tudo que também péde acolhé-la e sustenté-
Ja, Todos sabem que os professores no conhecem tudo que se passa
ros patios de recreio, que existe, ha séculos, um folclore obsceno
das criancas (cf. Gaignebet, 1974) e hoje, como ontem (pensemos
‘nas antigas abadias da juventude)*, existe uma cultura dos jovens
‘que resiste a0 que se pretende inculcar: espagos de jogos e de asti-
18 CE por exemplo, N. Zemon Davis (1971); para um exemplo regional, ef. N.
Pellegrin (1982).
cum esolarcomo objeto isto 7
ccias infantis desafiam o esforgo de disciplinamento. Essa cultura
infantil, no sentido antropol6gico do termo, é tio importante de ser
estucdada como o trabalho de inculcagao.
2°) Seria conveniente analisar atentamente as transferéncias culturais
‘que foram operadas da escola em direcao a outros setores da socie-
«dade em termos de formas e de contetidos e, inversamente, as trans-
feréncias culturais operadas a partir de outros setores em direc &
escola. A quais retradugbes especificas procede a escola quando ela
deixa passar no seu préprio dispositive aprendizagens que nfo eram.
propriamente escolares e dependiam de culturas “profissionais”?
‘Como, por exemplo, as aprendizagens da cultura comercial trans-
mitidas nas lojas dos grandes negociantes foram escolarizadas? (cf
Hébrard, 1988). Segundo quais modalidades e quais inflexdes a
pedagogia da historia que era reservada a educagao do principe trans-
formou-se, no século XTX, em uma disciplina propria dos colégios
secundérios? Como so reintroduzidos na escola, hoje, certos pro-
Você também pode gostar
- Urbano Zilles - Introdução Aos ApócrifosDocumento27 páginasUrbano Zilles - Introdução Aos ApócrifosNajla LopesAinda não há avaliações
- FUNARI, Pedro Paulo GLAYDSON, José Da Silva. Teoria Da HistóriaDocumento51 páginasFUNARI, Pedro Paulo GLAYDSON, José Da Silva. Teoria Da HistóriaNajla Lopes100% (1)
- GUIMARÃES, Manoel Salgado. Historiografia e Nação No BrasilDocumento142 páginasGUIMARÃES, Manoel Salgado. Historiografia e Nação No BrasilNajla Lopes100% (4)
- Movimento Feminista - Seculo XIX e XXDocumento82 páginasMovimento Feminista - Seculo XIX e XXNajla LopesAinda não há avaliações
- LE GOFF, Jacques SCHMITT, Jean-Claude. Dicionário Temático Do Ocidente Medieval, Vol. 1Documento318 páginasLE GOFF, Jacques SCHMITT, Jean-Claude. Dicionário Temático Do Ocidente Medieval, Vol. 1Najla LopesAinda não há avaliações