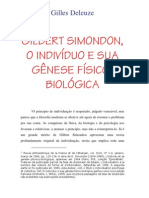Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Paulo Vaz - Risco e Justica
Paulo Vaz - Risco e Justica
Enviado por
Beth VianaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Paulo Vaz - Risco e Justica
Paulo Vaz - Risco e Justica
Enviado por
Beth VianaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Risco e Justia
Paulo vaz
Risco e Justia in Calomeni, Teresa Cristina B. (org) - Nichel Foucault - entre o murmurio e
a palavra. Campos: Editora Faculdade de Direito de Campos, 200+, pp 101-131
Trinta anos ja se passaram desde o aparecimento de vigiar e Punir, livro no qual Foucault
exps grande parte de suas teses sobre o direito. Nuita coisa aconteceu desde entao. Talvez seja a
hora, portanto, de aplicar a Foucault um de seus principios basicos de analise do pensamento, a
raridade discursiva, com sua estratgia de reconduzir um enunciado terico qualquer as suas
condioes de enunciaao, ao contexto onde ele apareceu. Nao se trata mais de manter intocada
sua conceituaao da sociedade, pois mudamos. Cabe, sim, usando alguns de seus principios
metodolgicos, avaliar a distancia que nos separa da sociedade disciplinar; em outras palavras,
mais do que suas hipteses, cabe reativar seu modo de conceber o questionamento do presente. A
figura Foucaultiana do intelectual requeria a intervenao no debate politico do presente atravs da
analise de nossa herana intelectual. Nanter a figura implica hoje historicizar seu pensamento,
admitir que parte do que Foucault pensou pertence a um mundo que nao existe mais.
A circunscriao temporal do pensamento de Foucault sera feita atravs de dois
movimentos. No primeiro, suas teses serao associadas ao momento histrico singular que as
tornaram possiveis. vigiar e punir resume e resulta de diversas lutas anti-autoritarias que estavam
ocorrendo desde o inicio da dcada de 60 do sculo passado. O segundo movimento o esforo de
conceituar o sentimento de distancia entre nosso presente e aquele onde Foucault escrevia. Essa
distancia sera aqui apreendida pela passagem da norma ao risco como o conceito basico a partir do
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
qual seres humanos da cultura ocidental pensam o que sao e o que podem ser, definindo a partir
dai o que devem fazer consigo mesmos para se tornarem o que devem ser.
A estratgia de circunscrever temporalmente as teses de Foucault sobre a sociedade
disciplinar nao novidade. Deleuze, em seu curto artigo Ps-escrito sobre as sociedades de
controle, abriu o caminho, que explorado desde entao por varios autores. Uma vez mais, a
circunscriao temporal nao significa o abandono do pensamento de Foucault. O fato de que cada
vez menos se utilizem tcnicas disciplinares de poder nao invalida suas intuioes sobre a relaao
entre poder e sujeito e sobre como se pensar a histria do pensamento.
vigiar e punir, hoje
No final da introduao de vigiar e punir, Foucault diz que foi a luta entao vigente contra a
prisao o que tornou possivel e necessaria a redaao do livro. Alm de mostrar seu engajamento
politico, este enunciado tipico do modo como ele pensa as relaoes entre presente e passado.
uma descontinuidade na histria o que a oferece ao intelectual como objeto, ou ainda, uma
fratura virtual nos modos de ser e pensar de um dado presente o que torna possivel e necessaria a
investigaao da histria. E a investigaao narra que tambm houve uma descontinuidade no
surgimento do que hoje esta sendo questionado. Uma histria perpassada por descontinuidades
visa mostrar que nosso presente nao necessario, que nosso modo de punir nao o mais racional
e adequado a uma suposta natureza humana, que ele surgiu por acaso e que pode ser
transformado. Nais precisamente, a descontinuidade simultaneamente ontolgica, metodolgica e
retrica. Ontolgica porque as crenas e valores as quais aderimos com tanto ardor nao sao
verdadeiras, nao tem fundamento; surgiram ao acaso das lutas dos homens em torno do que se
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
tem por verdadeiro e por acaso podem desaparecer. Netodolgica porque a possibilidade de
mudana no que hoje existe, o descortinio de uma descontinuidade virtual, o que suscita a
investigaao da nossa histria intelectual. E retrica porque a narrativa quer atualizar uma
descontinuidade na histria ao tornar dificil que continuemos a considerar naturais e adequadas as
praticas que sao historiadas, sejam elas o modo de lidar com a morte e o sofrimento, a forma de
punir quem comete atos ilegais, o que acreditamos ser racional ou nossa relaao com os prazeres
sexuais.
Concretamente, Foucault argumenta em vigiar e punir que a prisao nao era o modo de
puniao imaginado como correto por aqueles que entao criticavam o suplicio no final do sculo
Xv!!!. Ao contrario, o que os criticos da puniao ostentatria propunham como alternativa era uma
relaao qualitativa entre um dado crime e seu castigo, o que diametralmente oposto a uma mera
modulaao quantititativa da pena segundo o tipo de crime e o comportamento do prisioneiro. E por
que entao a prisao foi rapidamente aceita? Segundo Foucault, a prisao sucedeu ao suplicio porque
ela era a forma pura e concentrada de outras instituioes disciplinares, como colgios, hospitais,
asilos e fabricas, que estavam se desenvolvendo desde o sculo Xv!!. A aclimataao rapida das
sociedades ocidentais a prisao e seu carater de inevitabilidade decorre da semelhana de tcnicas
de poder. Nas a hegemonia da prisao desde meados do sculo X!X como forma de punir marca o
nascimento da sociedade disciplinar. A prisao se parece com escolas, fabricas, hospitais e
sanatrios; nelas, os prisioneiros aprenderiam, trabalhariam e se curariam de seus desvios,
voltando a ser bons cidadaos. !nversamente, porm, para se aprender, trabalhar e se ficar sao e
saudavel, seria preciso que os seres humanos aceitassem se comportar um pouco como
prisioneiros, sendo vigiados e obedecendo regras disparatadas em nome da eficincia.
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
Pode-se dizer que Foucault apresenta quatro teses maiores sobre o poder nos livros e
artigos escritos na dcada de 70 do sculo passado. A primeira uma conceituaao da mudana
histrica: a passagem da !dade Classica a Nodernidade apresentada em vigiar e punir atravs de
uma mudana no objeto da aao punitiva. Enquanto no suplicio o que importava era fazer o corpo
sofrer, a prisao visa castigar a alma: quer corrigir, disciplinar, readequar os prisioneiros a sociedade
(Foucault, 1979, p. 16). A argumentaao se apia na idia de reabilitaao e em sua consequncia
pratica - um prisioneiro continua a ser julgado mesmo aps ter recebido sua sentena. Se as penas
sao moduladas quantitativamente segundo nao s a natureza do crime, mas, sobretudo, segundo o
comportamento dos individuos durante o cumprimento da sentena, o desejavel que o prisioneiro
compreenda que agiu erradamente quando cometeu um crime. De modo menos singelo, o que a
prisao faz atravs dessa pretendida transformaao espiritual injetar um pouco de ma-conscincia
naqueles que at entao nao a tinham. O sofrimento visado na modernidade a culpa, a mordida da
conscincia: o arrependimento se torna condiao da liberdade.
A segunda tese a invasao da lei pela norma trazida pela mudana no objeto da aao
punitiva. O novo modo de punir muda a teoria e pratica judicial, pois a prisao faz dos prisioneiros
delinquentes, primeiro numa dimensao de idealidade (Foucault 1979: 251-6). O delinquente um
personagem, um ser que tem em seu passado individual o principio de explicaao de seus atos. A
dimensao de idealidade faz com que um individuo seja julgado nao pelo que fez, mas pelo que ele
: na fixaao da sentena e durante a puniao, o passado do individuo e o que revela de suas
propensoes futuras estao em jogo. Quem julga, por sua vez, nao sao apenas os juizes, mas
tambm os especialistas em normalidade - psiquiatras, psiclogos, mdicos, servidores sociais, etc.
- que empregam seu olhar clinico durante a formulaao e o cumprimento da sentena. E se o
comportamento do criminoso visto como determinado por seu passado, a teoria criminolgica
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
recorreria a causas de longo prazo, como a anomia social (a ausncia de oportunidades absoluta ou
relativa) e a causalidade psicolgica inconsciente, encarregada de explicar trajetrias criminosas ou
irrupoes subitas de violncia.
A terceira tese, inovadora e aparentemente paradoxal, a de que um sistema penal deve
ser concebido como um esforo nao para eliminar ilegalidades, mas como um modo de administra-
las (Foucault 1979: 272). Aparentemente paradoxal porque estariamos diante de uma circularidade:
como poderia haver ilegalidades antes de existir a lei? Contudo, o paradoxo desaparece quando
pensamos que o que se esta analisando uma mudana histrica, onde um dado sistema legal
entra em crise porque seu modo de administrar ilegalidades nao funciona mais. O modo de a prisao
gerir ilegalidades - que tambm determina a forma do aparato de segurana, a policia - decorre do
fato de ela criar concretamente a delinquncia atravs do fenmeno da reincidncia: sao os
mesmos que nela entram e saem. Desde cedo, a prisao conviveu com a constataao de seu
fracasso; criticos apontavam que, ao invs de reabilitar, ela era lugar de aprendizado do crime,
onde jovens presos por um leve deslize se tornam criminosos de carreira. Partindo da suposiao de
que a lei serve para gerir ilegalidades, Foucault propoe, porm, que a criaao de um meio fechado
de delinquentes era elemento da estratgia de poder por trs razoes principais (Foucault 1979:
272-9). Em primeiro lugar, dado o efeito de negatividade - criminosos eram doentes, anormais,
estranhos - o movimento operario de contestaao ao capitalismo procurou se diferenciar dos
`criminosos comuns' e, assim, pouco utilizou formas de luta que tm um potencial de imensa
perturbaao e de difusao rapida, como saques e quebras de maquinas. Em segundo lugar, o meio
fechado e local de delinquentes facilita o trabalho da policia por ser controlavel: facil de infiltrar,
de encontrar informantes e de organizar atividades ilegais lucrativas, ao mesmo tempo em que se
mantm o crime dentro de limites toleraveis. Por fim, a presena constante do delinquente nos
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
jornais, um ser cujos elos com a populaao de baixa renda foram cortados pela carga de
negatividade, torna aceitavel e desejavel a vigilancia da policia pela sociedade.
A quarta tese , na verdade, a generalizaao da terceira. Foucault famosamente props
que o poder, especialmente na modernidade, era produtivo. Nuita tinta foi gasta na tentativa de
compreender este enunciado, com alguns chegando ao equivoco de supor que deveriamos
compreender o poder como `bom'. O poder moderno produtivo no sentido de que seu exercicio,
ao contrario da forma classica de poder, nao visa extinguir do real a negatividade que ele designa.
O poder nao tem mais o direito de marcar, banir, estropiar ou matar; deve, sim, cuidar da
normalidade de todos os individuos. Seus efeitos dependem do fato de ele produzir no real aquilo
que ningum pode ser: a estranha classe dos anormais, povoada por loucos, delinquentes e
perversos sexuais. Essa tese trabalhada mais extensamente no livro Histria da Sexualidade ! - A
vontade de saber, especialmente nos capitulos `A implantaao perversa' e `Direito de morte e poder
sobre a vida'. De certo modo, essa caracteristica do poder moderno uma herana do pensamento
cristao. O que se tem como positivo, como `bom', na modernidade nao tem realidade prpria; todo
o ser do normal consiste em nao ser anormal, assim como o caminho da pureza permaneceria
indefinido sem os pecados, as tentaoes.
O `bem' talvez seja sempre a negaao de uma negatividade inventada pelo poder. Nas, na
Nodernidade, essa produao no real da negativade tica provia uma letigimaao pastoral para o
exercicio do poder. Os novos padres - mdicos, psiquiatras, professores, pais, etc - sempre tinham
para si a `boa conscincia' de exercer o poder baseado na verdade - na forma moderna de
verdade, a cincia - e para o bem de todos os desviantes. Fazia-se o que tinha de ser feito para
salvar as ovelhas negras: loucos se tornariam saos, perversos teriam uma sexualidade saudavel,
doentes se curariam e deliquentes se tornariam bons cidadaos. Um outro efeito da produao no real
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
da negatividade tica, talvez mais importante, a delimitaao da forma de cuidado de si dos ditos
normais. Todos eles temerao haver em si algo que os tornaria anormais e, assim, passarao suas
vidas a lutar contra si mesmos, contra seus desejos, para se constituir como sujeitos normais. Os
normais sao culpados; o exercicio de sua liberdade consiste no esforo de livrar-se das tentaoes. A
divisao da sociedade entre normais e anormais faz existir essa mesma divisao no interior de cada
ser humano. O campo das experincias intimas do sujeito moderno , portanto, delimitado pelo
temor da anormalidade e pelo prazer ressentido em ser normal. Nada muito diferente do campo
delimitado pelos conceitos de pecado e paraiso.
Aps essa breve revisao das teses foucaultianas sobre poder, direito e subjetividade,
podemos abordar o contexto histrico que as tornou possiveis. Se Foucault colocou como condiao
de possibilidade de seu texto a luta dos prisioneiros, se criticava a aceitaao do movimento operario
da negatividade de atos ditos `delinquentes' e se mostrava como o desejo de normalidade era, de
fato, instalado em ns pelo poder, seu livro buscava uma espcie de aliana estratgica entre o
movimento operario de contestaao ao capitalismo e as lutas libertarias que ocorreram desde o
inicio da dcada de 60 at meados da dcada de 70. Nao s havia inumeraveis greves; tambm
estava surgindo o feminismo, o movimento dos estudantes, a liberaao sexual, a defesa do uso de
drogas, a luta contra o racismo, etc. Desse modo, nesses anos, a prisao e outras `instituioes
totais', como o asilo, comearam a ser questionadas diferentemente. Pelo fato de o prisioneiro
continuar a ser julgado aps ter sido sentenciado, denunciava-se que havia nas prisoes abusos de
poder. As criticas frisavam a ausncia de tratamento humano de loucos e delinquentes, que seria a
responsavel pelas falhas em reabilitar e curar. Abrir os muros era a palavra de ordem. O que
ocorria com prisioneiros e loucos era o caso exemplar da situaao de todos os cidadaos, oprimidos
pelo Estado e seus funcionarios, cujo o poder era exercido em nome da verdade. Por um breve
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
momento, pensou-se que a experincia de loucos e prisioneiros condensava a de cada um dos
cidadaos. Nesmo Hollywood nao resistiu; basta lembrar de filmes como Um Estranho no Ninho e
Papillon.
O resultado desses movimentos sociais em relaao as praticas de puniao, esperavam
criminologistas, psiquiatras e ativistas, seria a multiplicaao de penas e tratamentos alternativos,
que nao recorressem ao encarceramento. O resultado, porm, foi a reinvenao da necessidade da
prisao desde o final da dcada de 70, s que com a pura e simples funao de conter os prisioneiros
(Garland 2003: 8, 178). O que agora importa na prisao sao seus muros, sua capacidade de isolar os
prisioneiros do restante da populaao. Essa reinvenao aparece como realidade nos paises
desenvolvidos e como `esperana' nos paises subdesenvolvidos. A singularidade da `periferia'
decorre da existncia do crime organizado de carater transnacional. Nos paises subdesenvolvidos, a
prisao nao produz mais um meio fechado de delinquentes. A promiscuidade entre criminosos e
policiais funciona hoje em favor dos primeiros, seja por que o trafico de drogas rende dinheiro
suficiente para corromper, seja porque seu elo com o trafico de armas permite ao crime organizado
usar a violncia contra funcionarios do sistema de justia como tatica politica (Lee !!! 1989: 12). O
mundo descrito por Foucault se rompeu em dois pontos basicos: o personagem do delinquente
substituido pelos criminosos de alto risco, com o que isso envolve de mudanas na teoria e na
pratica da justia, e a estratgia de segurana via meio fechado de delinquncia fracassa
estrepitosamente diante do poderio do crime organizado transnacional.
Entre as dcadas de 70 e 80, experimentamos, portanto, uma outra descontinuidade
histrica, similar aquela que deu origem a prisao com reabilitaao. O intenso questionamento da
prisao nao produziu os resultados que se esperava: a prisao nao se humanizou, as penas
alternativas ocupam um lugar marginal no sistema de puniao e se multiplicaram as famosas
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
prisoes de segurana maxima. Como disse anteriormente, essa descontinuidade - a transiao da
prisao com reabilitaao para a prisao sem reabilitaao - deve ser pensada como a passagem da
norma ao risco. A idia de reabilitaao esta contida na de norma. Esta ultima veio substituir a de
natureza humana e requer o esforo de curar. Quando dizemos que algo anormal, implicitamente
estamos supondo que algo pode e deve ser feito para superar o `erro'. Desse modo, a idia de
norma supoe que o futuro pode ser diferente: no presente, ainda existiria uma separaao entre
normais e anormais, mas no futuro s a norma vigorara. Reabilitaao, norma, progresso e utopia -
esses conceitos tao importantes para o sentido de tempo dos seres humanos modernos tm uma
`semelhana de familia'.
A prisao sem reabilitaao implica a idia de risco: o que se visa manter a segurana e o
prazer de parte da populaao atravs da continncia do risco posto por outros. E essa passagem
nao ocorre apenas nas praticas de puniao; o conceito de risco parece hoje ocupar o lugar da
norma em todas as praticas que articulam o sofrimento humano e o tempo. O cuidado com a
saude, por exemplo, hoje marcado pela hegemonia da medicina preditiva. Somos incitados a
cuidar de nosso futuro nos nossos minimos atos cotidianos, com o cuidado sendo entendido como o
esforo de evitar futuros indesejaveis como doena e morte prematura. Cada vez menos comemos
uma feijoada - ou um bife com fritas - sem um pouco de ansiedade, seja com a aparncia do
corpo, seja com colesterol e doenas coronarias ou talvez cancer
1
.
O conceito de risco
1
Escrevi uma srie de artigos nos ultimos 7 anos descrevendo a passagem da norma ao
risco tendo em vista as transformaoes da medicina e o cuidado de si. Os mais recentes e
completos sao `Um corpo com futuro' e `Kinds of self-surveillance: from abnormality to individuals at
risk' (com Fernanda Bruno).
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
Um modo de aprofundar o diagnstico fazer um esforo de clarificaao conceitual, tao
mais necessario pelo fato de que o conceito de risco adquiriu recentemente uma enorme
relevancia. Ele aparece em uma srie de praticas sociais e disciplinas tericas: ecologia, mercado
financeiro, industria de seguros, empresa `responsavel', saude, justia criminal, justia civil,
probabilidade, psicologia cognitiva, etc. Essa variedade condena de antemao qualquer esforo
simples de unificaao. Contudo, ele pode ser melhor compreendido se prestamos atenao a sua
histria e ao seu uso corrente.
Segundo Hacking, a palavra vem do francs risqu que, por sua vez, deriva do italiano
rischio e data do sculo Xv! (Hacking 2003). O termo comeou a ser usado em conexao com a
navegaao comercial; estava em jogo a distribuiao de lucros nesse empreendimento outrora
aventuroso. Alm desse uso pratico, o advento do termo marca uma outra relaao dos individuos
com o tempo. A modificaao pode ser vista na mudana semantica sofrida pelo conceito de
prudncia. No sculo Xv!, na linguagem cortesa, a palavra denotava covardia, a baixeza do frugal,
a falta de honra e o egoismo. Desde o sculo Xv!!, porm, o prudente passa a designar o sabio que
aceitou o dever moral de se precaver em relaao ao futuro, de poupar para os dias chuvosos,
aquele que tem a virtude da previsao (Hacking 2003: 25). Essa outra relaao com o tempo,
portanto, implica os conceitos correlatos de previsao e acidente, a tentativa de trazer um
acontecimento futuro indesejavel para o presente, calcula-lo e definir os modos de enfrenta-lo.
Precisemos a relaao nova com o tempo. O conceito de risco esta em oposiao ao conceito
filosfico de necessidade nas suas dimensoes epistemolgica e existencial. Ele se aplica em
situaoes onde o futuro nem necessario, absolutamente previsto, nem totalmente desconhecido.
Numa definiao simples da diferena entre risco e incerteza, se nao sabemos ao certo o que ira
acontecer, mas conhecemos as chances dos eventos, temos o risco; se nao conhecemos sequer sua
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
probabilidade, se nao possivel nenhuma estimativa, estamos diante da pura e simples incerteza
(Garland 2003: 52). Risco designa assim uma relaao epistemolgica de conhecimento parcial do
futuro. Por outro lado, nao haveria sentido em falar de risco se no conceito nao houvesse embutido
o esforo de evitar o indesejavel. Se a cultura ocidental desde o sculo Xv!! fosse marcada por uma
aceitaao fatalista dos eventos futuros, embora enfrentasse inumeros perigos, nao haveria risco. O
futuro parcialmente conhecido tambm transformavel.
O esforo de elaboraao conceitual precisa ser aprofundado, pois at aqui nao possivel
propor nenhuma explicaao para a relaao entre a difusao do conceito e a singularidade da cultura
contemporanea; afinal, pode-se argumentar que desde que ha cultura humana os homens tentam
prever o futuro e que o esforo de domesticaao do acaso tem origem no surgimento da onto-
teologia em Platao, com sua escolha ontolgica da permanncia ao propor que ha mais ser no que
imutavel. A associaao entre risco e cultura contemporanea entrevista quando pensamos que
estes calculos do futuro requerem a coleta de dados. preciso haver uma verdadeira avalanche de
dados para que conceitos como homem mdio e norma surjam (Hacking 1990). A associaao ganha
contornos mais nitidos se observamos a diferena entre as tcnicas estatisticas de construao da
norma e da construao do risco. Partindo de uma populaao heterognea, a construao da norma
trabalha os dados com a finalidade de construir a polaridade entre uma imensa maioria homognea
e o seu desvio. As tcnicas de inferncia estatistica que calculam o risco, ao contrario, partem de
uma populaao heterognea para nela encontrar varios sub-grupos homogneos (Pratt 1995).
Nesse caso, nenhum individuo tem um risco zero em relaao a alguma coisa; ha apenas grupos
com diferentes niveis de risco.
A associaao entre risco e cultura contemporanea fortalecida se atentamos a diferenas
no modo como se problematiza a aao humana. Os conceitos modernos de progresso e revoluao
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
assumiam implicitamente que, no presente, a aao humana se encontrava limitada e que a funao
da politica era liberar os homens dos entraves a sua liberdade. A preeminncia do conceito de risco
na problematizaao da tecnologia em praticas como biotica implica, ao contrario, que a aao
humana pode muito e que preciso encontrar limites a este poder. A mesma diferena percebida
na substituiao da problematica moderna da liberaao e do desejo pela do risco. Nietzsche e Freud
tanto afetaram as praticas cotidianas ocidentais porque ao invs de tentarem definir o que seria
licito de ser desejado por todos, preocupavam-se em indagar os motivos de os homens nao
fazerem o que desejavam, questionando a cultura moderna por sua limitaao a liberdade ao
pressionar inconscientemente para que todos se parecessem, para que desejassem a mesma coisa
as espensas do que `verdadeiramente' desejavam (vaz 2003). O conceito de risco, por sua vez,
ocorre numa sociedade onde ha uma margem de autonomia individual em relaao a escolha de
estilos de vida, em relaao ao que ser e fazer. Ele define a margem exterior do aceitavel tendo em
vista o desejo dos individuos de continuar a viver. Em suma, esse conceito se torna hegemnico
quando ha escolha individual em relaao a identidade, quando se reduz a pressao social
homogeneizadora.
A continuidade da elaboraao conceitual passa pelo retorno a linguagem cotidiana e a
distinao entre risco e perigo. Este ultimo designa um mal contingente, identificado e atribuido a
alguma coisa, pessoa ou situaao como uma caracteristica intrinseca delas. Risco, por sua vez,
refere-se a possibilidade de dano e mede a exposiao ao perigo. Em termos simples, risco a
medida da probabilidade do potencial de perigo (Garland 2003: 50). Por isso, ele nao o atributo
de individuos, mas o que qualifica fatores supra-pessoais - genes, histria individual, habitos de
vida - cuja a presena pode acrescer a probabilidade de dano que um individuo pode sofrer ou
provocar se ele esta, respectivamente, em risco ou coloca os outros em risco. Uma outra diferena
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
decorrente que um risco, ao contrario de um perigo, nao pode ser afastado imediata e
definitivamente. Fatores de risco s podem ser reduzidos ou ampliados, o que implica um cuidado
de si crnico, permanente, para a vida toda. Ningum tem risco zero e os fatores de risco agem a
longo prazo; a prudncia em relaao a um risco qualquer deve ser diaria e interminavel. Desse
modo, evitar um evento futuro indesejavel torna-se a base de decisoes individuais e coletivas; de
fato, torna-se um dever, uma obrigaao moral. Nao agir se precavendo contra riscos cada vez
mais socialmente visto como negativo.
A cronicidade e a obrigatoriedade do cuidado geram um paradoxo temporal. Como uma
aao do presente irreversivel, um futuro possivel tem como correlato uma consequncia
determinada no presente. Esse paradoxo ganha contornos dramaticos em decisoes sobre
mastectomia ou histerectomia preventivas (seriam casos de auto-destruiao ou de auto-
preservaao?), embora esteja na base de diversas atitudes cotidianas de muitos individuos em
relaao a prazeres ligados a sexo, bebida, drogas e alimentaao. Ou pode nos deixar perplexos,
quando conter riscos legitima praticas de aprisionamento de individuos mesmo aps terem
cumprido a pena, como o caso da prisao perptua por trs ofensas a lei no estado da Califrmia
(que no ano de 2003 foi reconhecido como legitima pela Suprema Corte) ou os direitos que o
governo americano se atribui em relaao aos presumidos terroristas na base de Guantanamo.
Ha um outro ponto a ser feito a partir da diferena entre risco e perigo. Este s se torna
aquele quando se avalia a probabilidade de um evento adverso e se estima a magnitude de seus
efeitos. Nao existe, portanto, risco sem o nosso conhecimento deles. Em outras palavras, o risco
nao algo que exista desde sempre, anterior a sua descoberta. Ao contrario, ha seleao e
construao sociais, pois depende de convenoes de percepao, juizo e medida. Ha variaao cultural
na seleao, nos juizos feitos, na distribuiao de responsabilidades por sua administraao e nos
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
mtodos de lidar com os riscos. Os riscos que identificamos revelam nao s o que acreditamos
existir no exterior de nossa cultura, mas tambm, e sobretudo, sua prpria constituiao interna
(Garland 2003).
A oposiao entre riscos objetivos e subjetivos, tao relevante na profissao de analista de
risco, com sua perene questao de por que os leigos discordam dos cientistas em relaao as
estimativas do que se deve evitar, pode ser vista como uma falsa questao. Um risco dito `objetivo'
significa nada mais e nada menos do que um risco construido por peritos socialmente autorizados,
isto , um risco objetivo aquele que foi cientificamente construido usando os melhores dados e
conhecimento disponiveis. Ja o risco percebido seria baseado em impressoes subjetivas. Embora
falsa, a oposiao politicamente relevante, pois os Estados crescentemente agem para evitar riscos
e devem, portanto, encontrar meios de legitimar suas aoes.
A relaao entre risco e cincia acrescenta uma razao para a preeminncia do risco na
cultura contemporanea. Cada vez mais os individuos usam o conhecimento cientifico quando
organizam suas vidas. Uma caracteristica central da sociedade contemporanea a nova relaao
entre atores leigos e peritos, onde a opiniao ou conselho de algum cientista sobre algum tema
(dieta, saude, finanas, etc.) rapidamente passa para a conscincia e a rotina diaria dos individuos
atravs dos meios de comunicaao. Logo, a conduta do publico hoje cada vez mais governada
pelo conhecimento reflexivo, ao invs da tradiao ou da fora do habito. A cincia esta como nunca
presente em nossas mentes, o que acarreta problema de credibilidade para os cientistas, na
medida em que podem divergir sobre os riscos que existem e o quanto devemos nos preocupar
com ele, e na medida em que sua opiniao sobre riscos torna-se a base para politicas publicas.
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
Em resumo, o conceito de risco requer, primeiro, um estatuto do futuro como
simultaneamente incerto, passivel de ser conhecido parcialmente e transformavel. Requer tambm
dados que permitem construir no tecido social diferentes sub-grupos. Requer ainda uma forma de
problematizar a aao humana onde o individuo tem a liberdade de escolher reflexivamente seu
estilo de vida e o dever de construir uma relaao de si para consigo de cuidado crnico. O conceito
aponta, por fim, para o peso da cincia na politica e na vida cotidiana, assim como ao complexo
jogo de foras entre peritos, movimentos sociais, o Estado e os meios de comunicaao na
construao de causas publicas e na elaboraao dos estilos de vida saudaveis.
Uma ultima observaao sobre a histria recente do uso do conceito de risco nas praticas
politicas. O aparecimento do conceito no contexto politico se deveu ao crescimento do movimento
ecolgico. Ou seja, ele era promovido por grupos situados a margem da sociedade, que propunham
evitar um futuro catastrfico que atingiria a todos atravs de mudanas sociais. Desde o final da
dcada de 80, porm, o conceito de risco passou a ser promovido pela classe mdia, enfatizando a
saude e a segurana contra o crime.
Risco e justia
Aps o esclarecimento conceitual, cabe analisar brevemente como o risco transforma o
aparato de justia penal. Cabe notar que um elemento nao muda. Se a prisao desejada como
modo de conter riscos, o objeto da aao punitiva continua sendo a alma: castiga-se um individuo
nao pelo que fez, mas pelo que e pode fazer. O que muda a visao de como essa alma se
constitui no tempo e age no presente. As novas propostas de `causa do crime' mostram a diferena
(Garland 2003: 182-6). Uma teoria a `causalidade situacional', que propoe que o criminoso livre
em seus atos. O crime seria uma questao de oportunidade momentanea, de avaliaao por quem
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
esta prestes a cometer um crime, da situaao segundo um calculo de risco de aprisionamento e
beneficio do ato. Tal concepao sustenta praticas que tentam ou reduzir a `oferta' de crimes no
ambiente, `revitalizando' lugares de alto risco e instalando dispositivos de vigilancia, ou diminuir a
`demanda', elevando o elemento de custo no calculo dos possiveis criminosos, o que a base da
politica de `tolerancia zero'. Conhecemos o resultado dessa reavaliaao da causalidade: o
incremento da infra-estrutura privada de vigilancia e proteao, condominios fechados, punitividade
exacerbada, reforo do policiamento, etc. preciso ainda realar um detalhe: essas teorias e
propostas supoe uma causalidade de curto prazo, se opondo a tese moderna da anomia; nelas,
distribuir renda nao vale mais como prevenao. Embora suas taticas de segurana se espalhem por
diversos paises, essa concepao de causa conquista maior adesao da opiniao publica em paises
desenvolvidos, onde o que parece haver s uma extensa classe mdia e alguns muito ricos.
Quando os criminologistas se esforam para subjetivar o crime, quando tentam construir
uma teoria mostrando que os criminosos sao essencialmente diferentes dos `bons cidadaos', eles ou
recorrem a novidade cientifica da gentica, ou entao aceitam o papel da situaao, mas ressaltam
que os que cometem crimes diante de oportunidades o fazem porque nao tm suficiente auto-
controle (Gottfredson e Hirschi 1990: 85-121). Essa deficincia, por sua vez, teria uma explicaao
cultural, que a recente permissividade da educaao de crianas e jovens por pais e professores.
Exatamente como os que se descuidam da saude, os criminosos estao presos ao curto prazo, s
enxergando o prazer do ato criminosos e se esquecendo do riscos, tanto para si, quanto para os
outros. Nao deixa de ser sugestivo que no discurso conservador fenmenos diferentes como uso de
drogas, obesidade e crime tenham uma mesma razao ontolgica, um auto-controle fragil e nao um
desvio no objeto de desejo, e um mesmo principio explicativo, a educaao permissiva.
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
As novas causalidades propostas para o crime afetam sobretudo o aparato de segurana. O
que transforma o sentenciamento e a puniao o novo modo de se avaliar a propensao a cometer
crime (Castells 1991; Pratt 1995; Rose 2002). Os criminosos sao classificados como sendo de baixo,
mdio ou alto risco segundo tabelas estatisticas de fatores de risco, como crimes anteriormente
cometidos, uso de alcohol ou drogas, situaao familiar, etc. Quanto maior o numero de fatores,
maior a probabilidade de cometer violncia no futuro e maior deve ser o tempo de reclusao. Por
consequncia, muda o modo de diagnosticar, com um crescente ceticismo em relaao ao olhar
clinico de psiquiatras e psicolgos.
A transferncia de responsabilidade do Estado para o individuo tambm exerce seu papel
aqui. De um lado, o Estado reconhece que a policia nao suficiente para garantir a segurana; de
outro lado
2
, individuos e empresas tem um papel na prevenao do crime. Essa transferncia se
associa a tese da causalidade situacional, reforando o aparato privado de segurana e a crescente
presena de objetos de vigilancia no cotidiano.
Uma outra diferena, especialmente relevante para aqueles que estudam os meios de
comunicaao, o fato de o crime ter se tornado uma questao politica maior desde a dcada de 80.
Embora os meios de comunicaao cubram o crime ao menos desde o sculo X!X, a novidade a
relevancia da criminalidade na politica. No Brasil, a segurana era na primeira campanha eleitoral
um dos dedos do entao candidato Fernando Henrique Cardoso; na campanha do ano passado, a
rebeliao em Bangu ! foi tema de perguntas aos candidatos. Nos Estados Unidos, durante as
dcadas de 70 e 80, quando convocados a responder sobre qual era a questao social mais
importante, no maximo 5 dos Norte-Americanos escolhiam o crime; na dcada de 90, porm,
2
Nargareth Thatcher uma vez disse que o aumento da criminalidade era em parte causado
pelas vitimas, que nao se preveniam o suficiente (O'Nalley 1996).
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
essa percentagem chegou a cerca de 50 em 199+ e nunca caiu para menos de 20 nos outros
anos. Nas uma consequncia importante que a entrada do crime na politica implica que o sistema
de justia penal perdeu parte importante da autonomia que tinha na Nodernidade. Juizes se
deparam com leis draconianas e ineficazes impostas por politicos ou pela populaao; peritos
avaliam rus ou prisioneiros considerando a possibilidade de serem responsabilizados
posteriormente se a populaao ou a midia considerarem que eles foram lenientes e nao contiveram
adequadamente os riscos; policiais e funcionarios de prisao estao sob intenso escrutinio, suspeitos
de serem corruptos ou coniventes.
Na realidade, essa entrada do crime na politica diferente daquela ocorrida nas dcadas de
60 e 70 do sculo passado. A responsabilidade pela existncia de sofrimentos evitaveis nao a
opressao, mas a lenincia do Estado, que nao protege adequadamente seus bons cidadaos. Desse
modo, ao invs de loucos e prisioneiros personificarem a situaao de opressao de cada individuo,
na nova causa publica, a experincia da vitima que tida como coletiva e comum. A vitima que
sofre uma metonimia personalizada do problema geral de segurana (Garland 2001: 11). O
Estado opressor substituido por aquele que tem o dever de proteger.
Essa nova forma de causa publica uma oportunidade rara para politicos conservadores
em diversos paises do mundo. Nichael Dukakis perdeu a eleiao para George Bush porque foi
acusado de ser por demais humano com criminosos e desrespeitoso com as vitimas (Anderson
1995). Clinton, temendo o mesmo destino, nao concedeu indulto a dois condenados a morte no
Estado que governava (Anderson 1995). Na campanha para as eleioes de 1999 na Argentina,
Nenen, atacando a tese de Eduardo La Rua de que o crime era o resultado da situaao econmica,
disse que nao se devia confundir a dignidade do pobre com a patologia do criminoso (Chevigny
2003: 85). No Nxico, o candidato do PR! nas eleioes de 1999 para o Estado do Nxico disse que
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
nao teria piedade com criminosos porque direitos humanos sao para homens e nao para ratos
(Chevigny 2003: 90). A ressonancia dessas frases com algumas de politicos conservadores no Brasil
notavel, como sabemos. E elas produziram efeitos em campanhas politicas, mas s a nivel
municipal e estadual.
O sucesso parcial no Brasil do populismo do medo explicado pela relaao entre crime
organizado, a percepao social do aparato de segurana e puniao e pela distribuiao de renda. A
globalizaao dotou o crime organizado de uma dimensao transnacional em atividades muito
lucrativas e provocou uma longa crise fiscal do Estado Brasileiro. A imagem da prisao passada pelos
meios de comunicaao a de que, nela, os criminosos continuam a praticar crimes pelo controle
indireto de seus subordinados livres e tm uma srie de regalias por corromperem. O arsenal do
crime organizado tambm frequentemente dito mais avanado e poderoso do que o Estado. Essa
situaao, onde uma atividade ilegal extremamente lucrativa convive com a crise financeira do
Estado-Naao, faz com que a forma da denuncia no Brasil privilegie os temas de corrupao,
despreparo policial e `poder paralelo', e nao tanto o da lenincia, quando aponta uma falha
sistmica como a responsavel por sofrimentos evitaveis. A adesao a politicas de `lei e ordem'
depende de a populaao acreditar que os aparelhos de segurana e puniao funcionem, o que
obviamente nao o caso no Brasil. E a concentraao de renda no Brasil torna dificil desistir da tese
da anomia e optar por explicaoes individualizadas.
A situaao brasileira curiosa. O crime se tornou uma causa publica, mas as politicas de lei
e ordem se deparam com o ceticismo em relaao aos aparatos de segurana e puniao. A classe
mdia fica sem esperanas. Os meios de comunicaao de elite, por sua vez, reconhecendo que a
mudana na distribuiao de oportunidades demora, que dificil a reforma do Estado e que a
criminalidade ligada as drogas nao tem soluao na esfera de uma naao, tentam orientar os
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
individuos sobre os modos de se precaver do que nao admite precauao, o crime aleatrio. O
resultado o crescimento vertiginoso no Brasil da estrutura privada de segurana. A transferncia
de responsabilidade do Estado para os individuos inevitavel dada a inexistncia de alternativas
viaveis.
Risco, sofrimento e tempo
Grande parte do pensamento moderno acreditava que a maioria dos sofrimentos existentes
no presente tinham uma causalidade e podiam nao existir no futuro se houvesse uma
transformaao da sociedade e dos homens. Como argumentei, essa crena estava implicita nos
conceitos de progresso e norma. O que acontece, porm, com a relaao entre sofrimento e tempo
quando o conceito de risco passa a organizar nosso sentido de futuro na politica - pensemos no
ataque preventivo ao !raque ou no modo de combater a criminalidade - e nas praticas de cuidado
de si? O que acontece quando o cuidado esta focado na segurana e no esforo de prolongar a
vida individual?
Quando o conceito de risco era adiantado pelos que estavam a margem da sociedade e se
vinculava a problematica ecolgica, embora o futuro tivesse ganho a forma da catastrofe a evitar, o
efeito era a universalizaao das vitimas, sem distinao de naao, credo, raa e mesmo espcie.
Repetindo grande parte dos movimentos coletivos modernos, a separaao que havia entre ns
(aqueles preocupados com a continuidade da vida na Terra) e eles (aqueles presos ao lucro e ao
curto prazo) seria temporaria; o movimento era feito em nome de todos. A apropriaao do conceito
de risco pela classe mdia, porm, faz com que a causa publica no discurso contra o crime nao
tenha mais nenhuma possibilidade de universal no futuro; a segurana de uns depende da
contenao do risco posto por outros. A mobilizaao social nao universaliza; ela obrigatoriamente
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
contrapoe uma parte da sociedade a outra. Em relaao a saude, o cuidado ocasiao de prudncia
individual. sugestivo que emerjam aqui e ali propostas, como aconteceu na !nglaterra, de nao
prover assistncia publica de saude para fumantes e obesos. Embora facilmente criticaveis como
tentativa de reduzir custos e culpar a vitima, pelo mero fato de serem concebidas, anunciam o
nascimento de um novo contrato entre Estado e individuos: segurana para quem prudente e
maximiza seu estilo de vida. O resto sao os monstros, aqueles que estao aqum da humanidade e
da possibilidade de correao (Rose, 2002). O lugar do monstruoso, que substitui o do anormal,
parece estar sendo ocupado por pedfilos, traficantes e terroristas.
Para varios que comearam a pensar na vigncia ainda do pensamento moderno, essa
relaao entre sofrimento, tempo e divisao social surpreendente. Certamente que o fim da divisao
social ansiada pelos modernos podia, e foi criticada pelos filsofos da diferena, como
uniformizaao social, mecanismo de poder e continuidade da crena no Deus cristao. Contudo,
facil perceber o perigo existente na crena contemporanea de que o modo de evitar sofrimentos
futuros requer a exclusao de alguns seres humanos. Tambm surpreende que o que se queira nao
mais um futuro diferente. Nais precisamente, a invocaao do futuro hoje nao funciona mais para
se incitar a mudanas no presente; ao contrario, invoca-se uma catastrofe evitavel para que
envidemos esforos em manter nossa vida como ela . Nais uma vez, no cuidado com a saude e na
invocaao do risco do crime, o que se quer a segurana para aqueles que sabem ter prazer com
moderaao.
preciso ver que a fronteira do monstruoso nao existe sem praticas cotidianas de criaao
do ns. O cuidado com a vida, a vida prudente, planejada e maximizada, a tolerancia em relaao
aos diferentes modos de se obter prazer definem o `ns'; os monstros, por sua vez, se definem por
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
sua desconsideraao do direito a vida. Talvez seja a hora de nao nos esquecermos que o cuidado
com a vida ja teve e pode ter outros sentidos.
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
Bibliografia
Anderson, D. C. (1995). Crime and the politics of hysteria. New York: Random House.
Baker, T. e Simon, J. (2002). Embracing Risks. Chicago: The University of Chicago Press.
Barry, A., Osborne, T. e Rose, N. (1996). Foucault and political reason: liberalism, neo-
liberalism and rationalities of government. Chicago: University of Chicago Press.
Beckett, K. (1997). Naking crime pay: law and order in contemporary American politics.
Oxford: Oxford University Press.
Castel, R. (1981) La gestion des Risques, de l'anti-psychiatrie a l'aprs-psychanalise. Paris:
Ninuit.
Castel, R. (1991) From Dangerousness to Risk. !n Burchell, G., Gordon, C. and Niller, P.
(eds.) The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Chicago: University of Chicago Press, 281-
298.
Chevigny, P. (1992). Edge of the knife: police violence in the Americas. New York: The New
Press.
Chevigny, P. (2003). The populism of fear: politics of crime in the Americas. Punishment 8
Society, vol. 5 (1), p. 77-96.
Cruikshank, B. (1999). The will to empower. !thaca: Cornell University Press.
Dean, N. (1999) Governmentality: Power and Rule in Nodern Society. London: Sage.
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
Ericson, R. e Doyle, A. (2003). Risk and Norality. Toronto: University of Toronto Press.
Ericson, R. e Haggerty, K. (1997). Policing the risk society. Toronto: University of Toronto
Press.
Ericson, R., Barry, D. and Doyle, A. (2000) The Noral Hazards of Neo-Liberalism: Lessons
from the Private !nsurance !ndustry. Economy and Society, 29 (+): 532-558.
Ewald, F. (1991) !nsurance and Risk. !n G. Burchell, C. Gordon and P. Niller (eds.) The
Foucault Effect: Studies in Governmentality. Chicago: University of Chicago Press, 197-210.
Feeley, N. N. e Simon, J. (1992). The new penology: notes on the emerging strategy of
corrections and its implications; Criminology, 30 (+), p. ++9-7+.
Foucault, N. (1979) Discipline and Punish. New York: vintage Books.
Garland, D. (2001). The culture of control: crime and social order in contemporary society.
Chicago: The University of Chicago Press.
Garland, D. (2003). The rise of risk. !n: Ericson, R.v. e Doyle, A. Risk and Norality. Toronto:
University of Toronto Press, p. +8-86.
Gottfredson, N. R. e Hirschi, T. (1990). A general theory of crime. Stanford: Stanford
University Press.
Hacking, !. (1990) The Taming of Chance. Cambridge: Cambridge University Press.
Hacking, !. (2002) Historical Ontology. Cambridge, Na: Harvard University Press.
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
Hacking, !. (2003). Risk and dirt. !n: Ericson, R. v. and Doyle, A. Risk and Norality.
Toronto: University of Toronto Press, p. 22-+7.
Hannah-Noffat, K. (1999). Noral agent or actuarial subject. Theoretical Criminology, vol. 3
(1), p. 71-9+.
Hunt, A. (2003). Risk and moralization in everyday life. !n: Ericson, R. v. and Doyle, A. Risk
and morality. Toronto: University of Toronto Press, p. 165-192.
Lee !!!, R. W. (1991). Colombia's Cocaine Syndicates'. Crime, Law and Social Change, 16,
pp. 3-39.
Lupton, D. (1995) The !mperative of Health: Public Health and the Regulated Body.
London: Sage.
Lupton, D. (1999). Risk. London: Routledge.
Nathiesen, T. (1987). The eagle and the sun: on panoptical systems and mass media in
modern society. !n Lowman, J., Nenzies, R. e Palys, T. (orgs.), Transcarceration: Essays in the
sociology of social control. Aldershot: Gower.
Novas, C. and Rose, N. (2000) Genetic Risk and the Birth of the Somatic !ndividual.
Economy and Society, 29 (+): +85-513.
Ogden, J. (1995) Psychosocial Theory and the Creation of the Risky Self. Social Science and
Nedicine, +0 (3): +09-+15.
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
O'Nalley, P. (1996). Risk and responsibility. !n: Barry, A., Osborne, T. e Rose, N. Foucault
and political reason: liberalism, neo-liberalism and rationalities of government. Chicago: University
of Chicago Press, p. 189-207.
O'Nalley, P. (org.) (1998). Crime and the risk society. Aldershot: Dartmouth.
O'Nalley, P. (1999). volatile and contradictory punishment. Theoretical Criminology, vol. 3
(2), p. 17-196.
O'Nalley, P. (2001). Discontinuity, government and risk. Theoretical Criminology, vol. (5), p.
85-92.
Pratt, J. (1995). Dangerousness, risk and technologies of power. Australian and New
Zealand Journal of Criminology, 28, p. 3-31.
Pratt, J. (1998). The rise and fall of homophobia. Psychology, Public Police and the Law,
vol.+ (1f2), p. 25-+9.
Pratt, J. (2000a). Sex crimes and the new punitiveness. Behavioral Sciences and the Law,
18, 135-151.
Pratt, J. (2000b). The arrival of post-modern penalty. British Journal of Criminology, +0, p.
127-1+5.
Rose, N. (1996). !nventing ourselves. Cambridge: Cambridge University Press.
Rose, N. (1999) Power of Freedom: Reframing Political Thought. Cambridge: Cambridge
University Press.
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
Rose, N. (2000a). Government and control. British Journal of Criminology, +0, 321-339.
Rose, N. (2000b). The biology of culpability. Theoretical Criminology, vol. + (1), p. 5-3+.
Rose, N. (2001). The politics of life itself. Theory, Culture 8 Society, vol. 18 (6), p. 1-30.
Rose, N. (2002). At risk of madness. !n: Baker, T. e Simon, J. Embracing Risks. Chicago:
The University of Chicago Press, p. 209-237.
Shearing, C. (2001). Punishment and the changing face of governance. Punishment 8
Society, vol. 3 (2), p. 203-220.
Shearing, C. e Stenning, P. (1985). From the panopticon to the Disney World: the
development of discipline. !n: Doob, A. N. e Greenspan, E. L. (orgs.). Perspectives in criminal law.
Ontario: Canada Law Book !nc., p. 335-+9.
Simon, J. (1987). The emergence of a risk society: insurance, law and the state. Socialist
Review, 95, p. 61-89.
Simon, J. (1998). Nanaging the monstrous: sex offender and the new penology.
Psychology, Public Police and the Law, vol. + (1f2), p. +52-+67.
Simon, J. (2001). Fear and loathing in late modernity. Punishment 8 Society, vol. 3 (1), p.
21-33.
Sparks, R. (2000). The media and penal politics. Punishment 8 Society, vol. 2 (1), p. 35-+2.
valverde, N. (1998). The diseases of the will. Cambridge, Cambridge University Press.
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
vaz, P (2002). Um corpo com futuro. !n: Pacheco, A.; Cocco, G. e vaz, P. (Orgs.). O
trabalho da multidao. Rio de Janeiro: Gryphus, p. 121-1+6.
vaz, P. e Bruno, F. (2003). Types of Self-Surveillance: from abnormality to individuals 'at
risk'. Surveillance 8 Society, v. 1 (3), pp. 272-291, 2003.
PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA ESCOLA DE COMUNICAO DA UFRJ
Risco e Justia
Você também pode gostar
- DELEUZE - DIFERENÇA E REPETIÇÃO (Guia de Leitura)Documento83 páginasDELEUZE - DIFERENÇA E REPETIÇÃO (Guia de Leitura)Bruno Halyson Nobre100% (1)
- Gilles Deleuze - O Ato de CriaçãoDocumento15 páginasGilles Deleuze - O Ato de Criaçãomostratudo100% (2)
- ZOURABICHVILI. O Vocabulário de Deleuze PDFDocumento66 páginasZOURABICHVILI. O Vocabulário de Deleuze PDFFrancisco CamêloAinda não há avaliações
- Gilles Deleuze Gilbert Simondon (Português)Documento7 páginasGilles Deleuze Gilbert Simondon (Português)bscigliano8590Ainda não há avaliações
- Heilbroner Historia Pens Amen To EconomicoDocumento314 páginasHeilbroner Historia Pens Amen To Economicoapi-3752048Ainda não há avaliações
- Gilles Deleuze Jean-Jacques Rousseau SDocumento7 páginasGilles Deleuze Jean-Jacques Rousseau Sapi-3752048Ainda não há avaliações
- Gilles Deleuze Causas e Razões Das Ilhas DesertasDocumento9 páginasGilles Deleuze Causas e Razões Das Ilhas Desertasapi-3752048Ainda não há avaliações
- Deleuze VariosDocumento33 páginasDeleuze Variosapi-3752048Ainda não há avaliações
- (1964) - Deleuze - Proust e Os SignosDocumento144 páginas(1964) - Deleuze - Proust e Os SignosGuilherme GonçalvesAinda não há avaliações
- GD Negri Devir RevolucionarioDocumento7 páginasGD Negri Devir Revolucionarioapi-3752048Ainda não há avaliações
- Deleuze - Spinoza e As Tres EticasDocumento14 páginasDeleuze - Spinoza e As Tres Eticasapi-3752048Ainda não há avaliações
- Deleuze Spinoza e NosDocumento8 páginasDeleuze Spinoza e NosLucas MarquesAinda não há avaliações
- DELEUZE Post-Scriptum Soc ControleDocumento8 páginasDELEUZE Post-Scriptum Soc Controleapi-3752048Ainda não há avaliações
- Deleuze - Spinoza e As Tres EticasDocumento14 páginasDeleuze - Spinoza e As Tres Eticasapi-3752048Ainda não há avaliações
- Boutang Globalização Das EconomiasDocumento22 páginasBoutang Globalização Das Economiasapi-3752048Ainda não há avaliações
- DerridasokalDocumento22 páginasDerridasokalchristianeohAinda não há avaliações