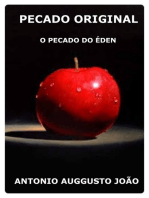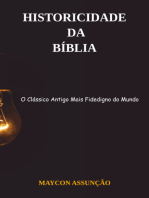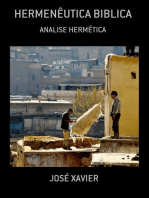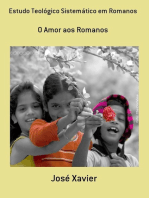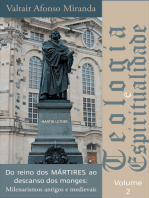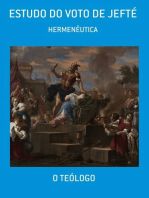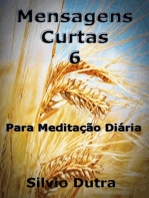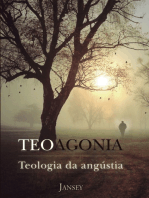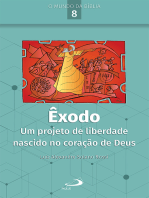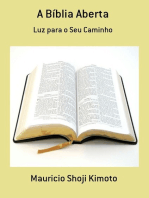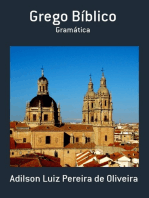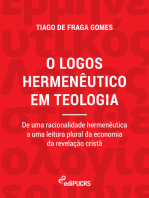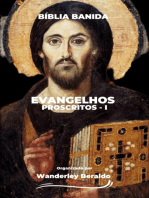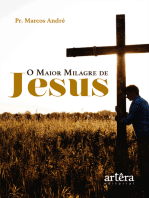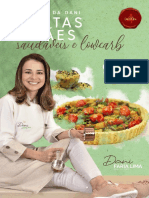Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Exegese Do Novo Testamento
Exegese Do Novo Testamento
Enviado por
William Amaral0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
2 visualizações18 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
2 visualizações18 páginasExegese Do Novo Testamento
Exegese Do Novo Testamento
Enviado por
William AmaralDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 18
Uwe Wegner
EXEGESE DO NOVO TESTAMENTO
MANUAL DE METODOLOGIA
3
a
edio
2002
Captulo l:
Definies e pressupostos
1.0-0 que significa "exegese"?
Os dicionrios comumente definem o termo "exegese" como "comentrio ou
dissertao para esclarecimento ou minuciosa interpretao de um texto ou de uma
palavra"'. O termo deriva-se da palavra grega eriyriaL/exegesis, que tanto pode
significar apresentao, descrio ou narrao
2
como explicao e interpretao.
Quando se fala de exegese bblica, entende-se o termo sempre no segundo sentido
aludido, ou seja, como explicao/interpretao. Exegese , pois, o trabalho de
explicao e interpretao de um ou mais textos bblicos^
O fato de usarmos o termo tcnico "exegese" para o trabalho de interpretao
de textos bblicos deve-se ao carter mais especfico deste trabalho interpretativo:
trata-se de uma interpretao "minuciosa", como assinala acima Aurlio Buarque de
Holanda Ferreira, ou seja, de uma explicao que procura fazer uso de vrios
recursos e instrumentos cientficos para entender o texto das Sagradas Escrituras. A
exegese distingue-se, portanto, de outras interpretaes bblicas pelo seu carter
mais cientfico, detalhado e aprofundado.
1.1 - Exegese e hermenutica
A palavra "hermenutica" origina-se do verbo grego epiJ.rfreuew
/hermeneuein, cujo significado igual ao da palavra exegese, ou seja, "interpretar".
Hermenutica significa, pois, interpretao. Contudo, deve-se salientar uma
diferenciao: a hermenutica bblica designa mais particularmente os princpios
que regem a interpretao dos textos; a exegese descreve mais especificamente as
etapas ou os passos que cabe dar em sua interpretao
4
. O presente manual no tem
por objetivo a apresentao dos pressupostos ou princpios hermenuticos da inter-
pretao bblica, para o que j existem vrias publicaes
5
. Procura, isto sim,
oferecer os recursos metodolgicos necessrios a estudantes de teologia para
compreender, aplicar e tirar o melhor proveito possvel dos passos usualmente
empregados na exegese.
1.2 - A tarefa da exegese
Muitas pessoas so desestimuladas de ler e refletir sobre a Palavra de Deus por
acharem-na muito difcil, estranha e contraditria. Essa impresso negativa que a
Bblia desperta nas pessoas est fundamentada em uma srie de motivos, entre os
quais citamos os seguintes:
11
A Bblia foi escrita numa poca muito distante da nossa, num estgio civili-zatrio
diferente do atual.
Tambm a cultura da maioria dos textos bblicos no corresponde nossa cultura
ocidental, mas, sim, cultura prpria do Oriente. Por isso temos dificuldades em
entender uma srie de costumes, valores, modos de pensar e agir encontrados na
Bblia.
A distncia que nos separa do perodo bblico tambm responsvel pelo nosso
parcial desconhecimento de uma srie de grupos (p. ex.: fariseus, saduceus, zelotas,
samaritanos, batistas, etc.) e instituies (p. ex.: templo, sinagogas, casa/ famlia,
sindrio, festas, etc.) da poca bblica. O mesmo vale em relao s situaes e
instituies sociais, polticas e econmicas existentes no passado.
A exegese quer ajudar a compreender os textos bblicos, apesar da distncia de
tempo e espao e das diferenas culturais. Neste particular, compete mesma reunir o
maior nmero possvel de informaes sobre as particularidades culturais,
scio-polticas e religiosas necessrias compreenso dos textos. Para alcanar este
objetivo, o e a exegeta podem usar uma srie de cincias auxiliares, como a filologia,
papirologia, paleografia, arqueologia, geografia, histria comparativa das religies,
etc. Podemos dizer que:
A primeira tarefa da exegese aclarar as situaes descritas nos textos,
ou seja, redescobrir o passado bblico de tal forma que o que foi narrado
nos textos se torne transparente e compreensvel para ns que vivemos
em outra poca e em circunstncias e cultura diferentes.
Mas no s a distncia histrica que torna necessria uma interpretao mais
cuidadosa e aprofundada da Bblia. O segundo motivo reside em ns mesmos, ou seja,
em nossos condicionamentos culturais, religiosos e ideolgicos. Ningum consegue
interpretar textos bblicos de forma neutra e completa-mente objetiva. A interpretao
que realizamos est condicionada pelas lentes que usamos. Assim, uma pessoa com
orientao evangelical ou carismtica ir interpretar um texto de forma diferente de
uma pessoa que se alinha com a teologia da libertao. Uma pessoa com formao
pietista ressaltar coisas diferentes que um evanglico ou catlico tradicional. Da
mesma forma, dificilmente sero iguais as interpretaes realizadas por pobres ou
ricos, por homens ou mulheres, por brancos ou negros. A interpretao da Bblia
estar sempre condicionada por nossa histria de f, de cidadania, de classe, de cor, de
etnia e de gnero, com a qual nos identificamos em maior ou menor escala. Estes
condicionamentos e pr-compreenses so as lentes que trazemos conosco ao
interpretar os textos bblicos. Apesar de serem inevitveis, eles escondem um perigo: o
de no conseguirmos mais dar ouvidos ao que os prprios textos realmente querem
dizer, mas de ouvirmos apenas o que gostaramos que os textos dissessem. A Bblia
corre, assim, o perigo de ficar totalmente merc dos seus intrpretes. A exegese
sempre desempenhar, portanto, um papel crtico frente s tendncias de explicao de
seus e suas intrpretes. Com isso, dizemos que:
12
A segunda tarefa da exegese permitir que possa ser ouvida a inteno
que o texto teve em sua origem.
Intimamente relacionada com esta segunda tarefa est uma terceira, de carter
eclesial e ecumnico. As vrias confisses distinguem-se entre si por priorizarem
determinados textos, certas linhas de interpretao e contedos especficos da Bblia.
Na medida em que interpreta cuidadosamente os textos, a exegese pode oferecer
importantes subsdios para as igrejas verificarem ou revisarem suas opes. A exegese
sria levar-nos- sempre a um confronto sadio com posies ou alternativas de
interpretao confessionais diferentes da nossa, podendo oferecer importante respaldo
para os esforos de aproximao doutrinal e tica entre as igrejas.
A terceira tarefa da exegese verificar em que sentido opes ticas e
doutrinais podem ser respaldadas e, portanto, reafirmadas, ou devem ser
revistas e relativizadas.
1.3 - Exegese e leitura popular da Bblia
6
Assim como proposta neste manual, a exegese dificilmente pode ser realizada
por pessoas que no tenham formao teolgica acadmica, j que ela pressupe o uso
de um instrumental cientfico no acessvel a todos. Isto no pode significar, contudo,
que a exegese vire assunto de letrados e para letrados. Ela deve ter uma finalidade
comunitria e popular, exatamente no sentido de poder melhor respaldar, confirmar,
alimentar e animar, mas eventualmente tambm redirecionar, corrigir ou relativizar as
expresses e convices de f das comunidades. A exegese pode, assim, oferecer
importantes subsdios para a leitura popular dos textos bblicos.
A leitura popular, por sua vez, de suma importncia para o exegeta. O povo,
embora no tenha formao teolgica acadmica, tem saber teolgico e,
independentemente dos exegetas, interpreta os textos bblicos a partir de sua
experincia de f dentro da sua vida diria
7
. Quanto mais o exegeta comungar e
participar dessas experincias e de suas correspondentes interpretaes de textos, tanto
mais apto estar para fazer do exerccio de sua prpria interpretao um trabalho
sensvel aos clamores, s perguntas e necessidades concretas das comunidades
eclesiais.
H, apesar dessas convergncias, uma diferena bsica entre exegese e leitura
popular da Bblia: enquanto que a leitura popular um exerccio de interpretao
eminentemente prtico, direcionado para descobrir a mensagem dos textos para o hoje
da f e do discipulado, a tarefa do exegeta consiste prioritariamente em desvendar o
sentido que tinha o texto para o local, a poca e as comunidades em que foi formulado
pela primeira vez. Este condicionamento do exegeta exigir do mesmo - dentro de um
trabalho cientfico acadmico -
13
a comprovao de suas afirmaes, a apresentao de argumentos e a fundamentao
das opinies emitidas
8
.
A leitura popular da Bblia logrou enriquecer-nos com uma srie de intuies e
orientaes que visam assegurar uma leitura da palavra de Deus mais engajada e
sensvel realidade do povo e de suas expresses de f. Carlos Mesters e muitos
outros e outras legaram-nos algumas diretrizes fundamentais para que a palavra de
Deus no seja lida e estudada de forma alienante, mas comprometida, apontando para
uma srie de perigos e, simultaneamente, para os meios de super-los. Como esses
perigos e suas correspondentes superaes so do interesse imediato tambm para
pessoas que procuram fazer exegese a nvel acadmico, procuramos destacar alguns
deles, quais sejam:
Q Priso da letra. Pressupe uma concepo mecnica de inspirao e de inerrncia,
no levando a srio a encarnao da palavra de Deus (exemplo: o fundamentalismo).
A maior caracterstica deste tipo de leitura a falta de crtica. Superao: leitura
crtica da realidade e dos textos bblicos.
D Dependncia do saber de outros e outras intrpretes. A dependncia exagerada do
saber alheio perpetua complexos de ignorncia e inferioridade. Superao:
ter conscincia de que Deus d o seu Esprito a cada pessoa, independentemente de
sua condio cultural ou social (At 2.l7s), possibilitando uma maturidade em relao
expresso de f;
D Dependncia da ideologia dominante. Esta encontra-se veiculada, sobretudo, plos
modernos meios de comunicao, como os jornais, rdio e televiso. Superao: no
pode haver leitura libertadora da Bblia sem
a) uma prvia libertao do cativeiro da nossa mente e do nosso pensar, atrelados
quilo que outras pessoas e grupos desejam que pensemos e creiamos (cf. Rm
12.1-2): o caminho da converso passa necessariamente pela cabea!, e
b) sem uma leitura a partir do lugar social das pessoas e grupos oprimidos e
empobrecidos, j que os mesmos constituem as vtimas preferenciais da ideologia
dominante.
De qualquer forma, sem libertao do cativeiro da nossa mente e sem uma
reflexo sobre os textos a partir das pessoas e grupos inferiorizados, a leitura bblica
ser sempre leitura ingnua e facilmente manipulvel.
Q Estudo sem f e compromisso comunitrio. Este tipo de leitura pode apresentar boas
ideias, mas carece de um efetivo esforo pela transformao da realidade. Sua maior
caracterstica o descompromisso comunitrio e social. Superao:
leitura militante, atenta s denncias da Palavra de Deus, bem como aos seus apelos
converso pessoal, eclesial e social.
Q Estudo individualizado. Este tipo de estudo abre portas para o subjetivismo e, em
decorrncia, para toda sorte de "achismos". Superao: "A nica maneira correia de
superar o subjetivismo a. leitura comunitria, pois esta nada mais que o exerccio
(...) de elaborao coletiva pela qual se completa a limitada percepo de cada
qual"
9
.
14
Q Estudo intelectualizado. Segundo Carlos Mesters, na exegese cientfica a f no
costuma ser um elemento constitutivo do processo de interpretao, e sim, sua
condio prvia. Na leitura popular, ao contrrio, a leitura da Palavra de Deus
sempre envolvida pela orao. Por isso, a superao de um tipo de leitura por demais
intelectualizado a leitura orante. Intui-se, desta forma, que "a descoberta do
sentido no fruto s da cincia, mas tambm um dom de Deus atravs do
Esprito. D-se lugar ao do Esprito Santo na leitura e na interpretao da
Bblia"
10
.
2.0 - O referencial metodolgico
Os mtodos de leitura bblica mais conhecidos so o histrico-crtico, o
fundamentalista e o estruturalista. Cada um tem seus pontos positivos e suas
deficincias. Os passos metodolgicos propostos para a exegese neste manual
fundamentam-se principalmente no mtodo "histrico-crtico" e, parcialmente, no
mtodo "estruturalista". A seguir apresentamos uma pequena avaliao dos trs
mtodos.
2.1-0 mtodo fundamentalista
O fundamentalismo originou-se de um movimento desencadeado nos Estados
Unidos aps a Primeira Guerra Mundial. Seu objetivo era o de salvaguardar a herana
protestante ortodoxa contra a postura crtica e clica da teologia liberal. Era do seu
interesse reafirmar, com renovada convico, doutrinas que considerava essenciais
para o cristianismo, como a inerrncia das Escrituras, o nascimento virginal de Jesus,
sua ressurreio corprea, sua expiao vicria e a historicidade dos seus milagres". O
mtodo fundamentalista'
2
, como o entendemos aqui, parte do pressuposto de que
cada detalhe da Bblia divinamente inspirado, no podendo, em decorrncia,
apresentar erros ou incongruncias. Esse mtodo tende a absolutizar o sentido literal
da Bblia. Seu objetivo ltimo o de defender a Bblia como o nico referencial
confivel e ntegro para a formulao da doutrina e tica crists. Seu aspecto positivo
parece-nos residir na seriedade com que encara a revelao de Deus atravs de sua
Palavra, na responsabilidade e no compromisso que exige frente sua mensagem e na
insistncia de que um livro de f dificilmente poder ser interpretado de maneira
correta sem o Esprito que rege esta mesma f (cf. 2 Co 4.6). Contudo, por insistir
unilateralmente na autoridade divina dos textos, o mtodo apresenta pouca
sensibilidade para a condio humana de seus autores, com tudo o que isto implica. O
mtodo tambm corre o perigo da "bibliolatria", ou seja, de uma idolatria letra dos
textos. No entanto, como adverte o apstolo Paulo, o texto no pode virar um fetiche
(cf. Rm '7.6; 2 Co 3.6). Por ltimo, a relao do prprio Cristo com as Escrituras
Sagradas do Antigo Testamento mostra que intrpretes cristos no podem prescindir
da avaliao crtica nem mesmo de textos sagrados (cf. Mt 5-7; 23.23; Mc 7.15;
10.2-12 e outros)
13
.
15
2.2-0 mtodo estruturalista
O mtodo estruturalista
14
entendido de modo parcialmente diferente por
vrios de seus adeptos, sendo empregado como mtodo de anlise sincrnica da
Bblia
15
. Mesmo que haja diversos tipos de anlise estrutural, todos tm em comum o
mesmo ponto de partida: "(...) vem o texto como estrutura e organizao que produz
sentido para alm da inteno de seu autor. Dedicam-se ao texto em si, levando em
conta o fato de que todo texto tem uma identidade prpria e uma autonomia, apesar
de sua histria (investigada plos passos histrico-crticos)" '
6
. O mtodo
estruturalista no prescinde necessariamente dos resultados da anlise
histrico-crtica. Dedica-se, contudo, a responder a outras perguntas, a saber: "Como
funciona o texto? Como produz seu sentido? Que se passa no texto em si? Que
operaes de lgica, afirmao, negao e oposio existem no texto?"
17
.
Este mtodo, por via de regra, considerado ainda de difcil assimilao.
Positivamente, o seu valor reside no fato de fundamentar a validade de novas
releituras e interpretaes: cada texto carrega uma "reserva de sentido" a ser
infinitamente explorada de forma inovadora por geraes posteriores
18
. Alm disso, o
mtodo educa para uma leitura atenta do que realmente est escrito nos textos,
evitando uma concentrao unicamente em determinadas partes ou aspectos da
narrativa. E, no por ltimo, podem-se destacar ainda duas vantagens importantes: a
primeira que este mtodo consegue devolver a vrias narrativas uma dinmica bem
mais viva e diversificada entre aes praticadas e agentes envolvidos do que a
interpretao costumeira logra captar. E a segunda consiste no fato de a anlise
estruturalista ter intensificado nossa percepo para a importncia das aposies no
texto como elementos determinantes dos eixos das narrativas.
Criticamente poder-se-iam ressaltar os seguintes aspectos:
1. Ao contrrio do mtodo histrico-crtico, em torno do qual j h um relativo
consenso, o mtodo estruturalista ainda se encontra bastante aberto, apresentando
propostas bastante diversificadas. Isto significa que a opo por este mtodo implica,
muitas vezes, ter que escolher entre uma srie de propostas diferentes e ainda
parcialmente desconhecidas ou estranhas aos/s exegetas.
2. Dependendo do mtodo ao qual se adere, a anlise estruturalista pode
apresentar um alto grau de complexidade, exigindo um considervel investimento de
tempo. Essa complexidade envolve tanto a terminologia, estranha maioria das
pessoas, quanto a natureza e o significado dos signos usados
19
. Segundo Berg, "a
impresso que surge facilmente a de que a interpretao lingustica de difcil
acesso, compreenso e controle, e de poucos efeitos ao final de sua realizao"
20
.
3^ Muito criticado no estruturalismo o seu desinteresse pela gnese e evoluo
histrica dos textos, o que torna o mtodo "reducionista ao fazer a
abstraao da 'vida' do texto, sua histria, seu contexto cultural, social ou religioso"
21
.
16
4. Outro ponto questionado a centralidade que a "oposio" ocupa como
categoria interpretativa por excelncia da realidade
22
. Andrew Kirk
23
apresenta a
seguinte crtica em relao ao uso da categoria da "oposio" no estruturalismo:
Por um lado a ideia da oposio dual explica bem vrias categorias bblicas - a
vida e a morte; a luz e as trevas; descer e subir; amor e dio; riqueza e pobreza;
homem novo e homem velho; etc. Por trs das oposies est toda a dinmica da
atividade de Deus em Cristo mediando a reconciliao, a paz e a sade. Por outro
lado, a oposio no a categoria metafsica definitiva. Existem dois perigos
diferentes no esquema: ou aparecem as falsas oposies (por exemplo, matria e
Esprito; indivduo e sociedade; unidade e pluralidade) ou as oposies parecem
falsas (como no misticismo oriental) ou reconciliveis (como no universalismo
teolgico). O modelo que controla a relao entre a estrutura profunda e a
realidade cotidiana a auto-revelao de Deus. O modelo no criado por razes
funcionais, mas, sim, ele prprio cria. No impessoal, mas pessoal. Toda a
exegese relaciona-se estreitamente com o ser e o fazer de Deus. Evitando as
pressuposies da modernidade fixadas na disciplina, o estruturalismo pode ser
usado como uma ferramenta heurstica, revelando diferentes etapas no sentido da
narrativa.
24
Observao: O presente manual incorpora em alguns dos seus passos exegticos
ideias e propostas do estruturalismo, sobretudo dentro da anlise literria
(estruturao dos textos: p. 88-93) e da anlise das formas (intencionalidade dos
textos: p. 174-176). Alm disso, apresenta em um excurso a metodologia usada
pelo estruturalismo na interpretao do contedo dos textos (veja as p. 248-259).
2.3 - O mtodo histrico-crtico
O mtodo histrico-crtico
25
ser o mtodo priorizado no presente manual. E o
mtodo mais usado em anlises diacrnicas da Bblia. Denomina-se de mtodo
"histrico-crtico" pelas seguintes razes:
a) E um mtodo histrico, em primeiro lugar, porque lida com fontes histricas que,
no caso da Bblia, datam de milnios anteriores a nossa era. Em segundo lugar,
porque analisa estas mesmas fontes dentro de uma perspectiva de evoluo
histrica, procurando determinar os diversos estgios da sua formao e cresci-
mento, at terem adquirido sua forma atual. E, em terceiro lugar, porque se
interessa substancialmente pelas condies histricas que geraram essas fontes em
seus diversos estgios evolutivos.
b) E um mtodo crtico no sentido de que necessita emitir uma srie de juzos sobre
as fontes que tem por objeto de estudo. A "crtica" usada neste mtodo foi, em seus
incios, uma crtica dirigida contra a interpretao alegrica da Bblia na Idade
Mdia, em favor, sobretudo, de um aprofundamento do seu sentido literal. Os
reformadores adicionaram a essa crtica ainda uma outra, que visava relativizar as
interpretaes
17
bblicas oferecidas pela tradio eclesistica. Isto levou convico de que a Bblia
devia ser interpretada unicamente a partir de si prpria. A concentrao sobre o
sentido literal da Escritura, no entanto, levou os reformadores constatao de certas
tenses e mesmo contradies entre os vrios livros bblicos, em funo do que se
estabeleceu como critrio de discernimento para a verdadeira revelao de Deus tudo
aquilo que continha, apontava e testemunhava a Cristo como Senhor
26
. Aplicando
esse critrio, Martim Lutero julgou de menor valor escritos como Judas, Tiago,
Hebreus e Apocalipse.
Na atualidade, o mtodo caracteriza-se, sobretudo, por ser eminentemente racional
e insistentemente questionador. Estas duas caractersticas explicam-se a partir do
advento do iluminismo e da incorporao da pesquisa histrica das cincias em geral
na pesquisa bblico-teolgica. Na poca do iluminismo, a crtica bblica dirigiu-se
preponderantemente contra os condicionamentos da interpretao bblica determinados
por postulados dogmticos defendidos pelas igrejas. Para o iluminismo, verdadeiro era
o que estava de acordo com a razo e o que podia ser deduzido e explicado
racionalmente. O mtodo histrico-crtico, influenciado pelo iluminismo, tornou-se
profundamente racional. No final do sculo XIX, o telogo Ernst Troeltsch formulou
alguns dos princpios que deveriam nortear a teologia e a cincia bblica como cincias
histricas, semelhana de outras cincias no-teolgicas. Segundo Troeltsch, os
princpios que regem as anlises histricas fundamentam-se nos seguintes
pressupostos
27
:
1) A crtica: Este pressuposto sustenta que no campo histrico no existem
juzos absolutos, mas somentejuzos provveis, sendo que o grau de probabilidade
pode variar de acordo com o assunto. Isto implica que tambm os resultados a que se
pode chegar com a pesquisa histrica no podem reivindicar certeza absoluta. Em
decorrncia, os pesquisadores e as pesquisadoras apresentaro sempre uma.dvida
metdica e eventuais questionamentos em relao quilo que objeto de suas anlises.
A aplicao deste pressuposto s tradies religiosas e bblicas implica que tambm os
seus contedos e suas formas sero estudados criticamente, ou seja, sero submetidos
ajuzos de maior ou menor probabilidade histrica.
2) A analogia: O pressuposto da analogia essencial para possibilitar a crtica
histrica. Segundo o princpio da analogia, a facticidade histrica de fenmenos
tanto maior, quanto maior for a concordncia entre estes e outros fenmenos
facilmente atestveis e verificveis. De acordo com Troeltsch,
os fenmenos que a crtica pode reconhecer corno tendo efetivamente ocorrido
tm uma marca que os torna provveis. Esta caracterstica sua concordncia com
fenmenos e situaes normais, corriqueiras e diversas vezes atestadas e
conhecidas. A verificao de analogias entre acontecimentos semelhantes do
passado d a possibilidade de atribuir-lhes probabilidade e de explicar o que
desconhecido num lugar pelo que conhecido noutro lugar.
28
3) A correlao: Este pressuposto entende que todos os fenmenos se encontram
em relao de dependncia mtua. Isto implica, em palavras de
18
Troeltsch, que "no pode haver mudana em um ponto sem que, anterior ou
posteriormente, ocorra mudana em outro ponto, de sorte que todos os acontecimentos
esto em um nexo contnuo e correlacionado (...). Cada acontecimento est
relacionado a outro"
29
.
A aplicao desses trs pressupostos s tradies bblicas e teolgicas implica,
para Troeltsch, uma revoluo do nosso modo de pensar em relao Antiguidade e
Idade Mdia. Ele afirma literalmente:
Esta, a histria, contm uma nova postura em relao ao intelecto humano e a suas
produes ideais. Em todos os lugares o mtodo histrico desaloja a antiga postura
absoluta ou dogmtica, que considerava determinadas situaes e pensamentos
como evidentes, tornando-os normas imutveis e absolutas. O mtodo histrico
considera tambm aquilo que aparentemente o mais evidente e os poderes que
dominam o maior nmero de pessoas como produtos da corrente da histria.
30
A partir da incorporao da metodologia de pesquisa histrica aplicada tambm a
outras cincias na cincia bblico-teolgica, explica-se a segunda caracterstica atual
do mtodo histrico-crtico, ou seja, a sua atitude de dvida e questionamento frente s
tradies e aos contedos a serem analisados.
A aplicao rgida dos princpios da historiografia profana s tradies sagradas
logrou alguns avanos indiscutveis no melhor conhecimento das tradies e dos textos
bblicos, bem como de sua gnese histrica e condicionamentos culturais. Sem essa
"crtica" aplicada de maneira sistemtica Bblia, dificilmente teramos hoje em dia os
inestimveis avanos em reas como a da crtica textual
31
, crtica literria
32
e crtica
redacional
33
. A sistemtica aplicao do critrio da analogia desvendou, a um s
tempo, a proximidade e o distanciamento da religio e f crists de outras crenas do
Oriente e Ocidente na poca de Jesus. A crtica histrica tambm conseguiu caracte-
rizar o cristianismo primitivo como um conjunto bem mais pluralista e diversificado
do que se supunha; mostrou, dessa forma, que o cristianismo, nas origens, era
teologicamente mais rico que imaginvamos, evidenciando que a necessidade de
ecumenismo no existe somente a partir de alguns decnios, mas inerente
pluralidade da f e de suas correspondentes convices.
Apesar desses e outros inestimveis avanos alcanados pela crtica histrica, os
seus pressupostos, quando usados de forma absolutizada, evidenciam-se como
incompatveis com o carter da revelao bblica. Isto vale, sobretudo, em relao ao
critrio da "analogia". Este, uma vez radicalizado, praticamente impediria a admisso
de revelaes divinas nicas ou excepcionais, como a ressurreio de Jesus. Alm
disso, o princpio da analogia tambm por demais subjetivo,j que s admite como
verdade aquilo que cada indivduo pode experimentar ou constatar pessoalmente. Seria
uma insensatez querer elevar condio de no-fatual tudo aquilo que excede os
limites de nossa experincia pessoal. A verdade excede em muito nossas experincias
subjetivas
34
!
19
Alm de uma aplicao abusiva de pressupostos como o da analogia, o mtodo
histrico-crtico tem sido censurado ainda por uma srie de outras razes
35
. Entre estas
destacamos:
1-1 Cultiva umaacademicidade alheia maioria dos integrantes das comunidades,
criando barreiras entre telogos ou telogas e o povo leigo. O exegeta histrico-crtico
tende a uma atitude de arrogncia face a outras ou outros colegas considerados
"ingnuos" ou conservadores. Favorece uma espcie de idolatria do intelecto e de
tudo o que racional e racionalizvel, em detrimento de outros modos de percepo
da realidade. Muitas vezes um estudo racional dos textos anda paralelamente a um
aumento das dvidas de f.
D Apresenta resultados sempre parcialmente questionveis, ou seja, no oferece a
segurana desejvel em suas proposies.
D Por pressupor uma certa autonomia do intrprete frente ao texto bblico como
documento histrico, pode lev-lo facilmente a esquecer de que o texto bblico no
quer unicamente ser interpretado por pessoas, mas tambm interpret-las. Ou seja: a
anlise crtica pode tender a assenhorear-se do texto. O resultado que se interpreta o
texto, mas no se escuta mais nele uma interpelao para a nossa vida. A Bblia,
nesses casos, pode tornar-se extremamente interessante, mas pouco relevante para a
vida.
Q Percebem-se poucos resultados prticos para a aplicao da mensagem do texto
vida das pessoas. Muitos pesquisadores e pesquisadoras entendem, inclusive, que a
pergunta pela aplicabilidade de um texto no tarefa da exegese, mas da homiltica.
Em decorrncia, limitam a tarefa da exegese histrico-crtica ao aclaramento do
sentido original do texto, sem considerar o seu significado dentro da vida atual da
pessoa crente
36
.
Q Vrios pesquisadores tm apontado para o historicismo como a maior falcia deste
mtodo. De fato, em muitos manuais de exegese, tem-se a impresso de que a
interpretao histrico-crtica se reduz a uma mera apurao histrica do primeiro
sentido de um texto, tornando-o prisioneiro de um passado remoto
37
.
Q Seguidamente intrpretes do mtodo entendem "histrico" segundo o modelo da
arqueologia. Este parte do pressuposto de que as camadas que se agregaram
posteriormente a um estrato primitivo da tradio so secundrias e, como tais, de
menor valor. O mtodo contribui, assim, para uma valorizao nica e exclusiva
daquilo que primrio e original numa tradio, desprezando todo o rico processo de
seu posterior desenvolvimento
38
.
A despeito dessas posies contrrias ou relativizadoras, o presente manual reserva
o seu principal espao para a apresentao e avaliao desse mtodo, sobretudo pelas
seguintes razes:
a) A dimenso histrica propugnada pelo mtodo traz uma srie de vantagens,
dentre as quais destacamos:
20
Ela leva a srio que os textos bblicos so expresso da revelao divina humanidade
em situaes histricas bem concretas e definidas. Por estarem distantes de ns como
intrpretes, estas carecem de estudo e aprofundamento especiais, para que possam ser
devidamente entendidas.
Uma anlise de textos preocupada com sua gnese histrica e contextuai evita a
prtica prejudicial de extrair sentido de textos de forma seletiva e arbitrria, sem
considerao do contexto original dentro do qual esse sentido foi inicialmente
formulado e aplicado. Esta uma prtica corrente em seitas, que priorizam e
instrumentalizam unicamente aqueles textos e versculos que coincidem com os seus
pontos de vista.
O estudo srio e cuidadoso da inteno histrica original dos textos protege-os contra
a fcil manipulao do seu sentido por interesses ou interpretaes subjetivas ou,
ento, determinadas por posies ideolgicas ou de classe social. o que acontece
com muitas pessoas ou grupos que, desconsiderando o sentido original dos textos,
procuram atualiz-los diretamente para a situao de hoje. Ou, ento, com pessoas da
classe alta que se regozijam com o amor de Cristo por um jovem rico (Mc 7.21a),
olvidando os compromissos vinculados a este amor para com os pobres (Mc 7.2 Ib).
O estudo da evoluo histrica dos textos bblicos nos torna mais sensveis para a rica
pluralidade que representam os seus diversos estgios de contedo.
b) O fato de o mtodo no ser s de cunho histrico, mas tambm crtico, oferece
vantagens adicionais, entre as quais podem ser citadas as seguintes:
A leitura crtica dos textos pode significar um corretivo sadio para o enquadramento
unilateral dos mesmos em certos dogmas ou em doutrinas fechadas. Klaus Berger, por
exemplo, da opinio de que a exegese pode oferecer corretivos sadios para
alternativas inapropriadas, como, p. ex., graa divina ou ao humana, Deus amoroso
ou Deus juiz, pecado pessoal ou estrutural, providncia divina ou liberdade humana,
eleio de Israel ou da Igreja crist
39
.
Uma atitude crtica na interpretao evita falsas harmonizaes de posies ou
correntes teolgicas em tenso ou conflito dentro do cristianismo das origens. A
crtica permite-nos uma melhor viso da diversidade e pluralidade de teologias,
cristologias e posies assumidas dentro da Bblia.
A crtica aos autores bblicos leva a srio a sua condio de testemunhas humanas da
revelao de Deus. No podemos ser impedidos - em princpio - de averiguar
criticamente posies de apstolos ou evangelistas, se o prprio Paulo no deixou de
criticar Pedro (Gl 2.1ss) e se o prprio Jesus no deixou de criticar tambm os seus
discpulos (cf. Mc 4.40; 8.17-21,33; 10.3545; 14.27-31), a sagrada tradio dos
ancios (Mc 7.8-13) e o prprio AT (p. ex.: Mt 5.27ss,33ss,43ss; Mc 7.15; 10-lss).
A crtica histrica ajuda-nos a entender melhor a Bblia como livro de expresso de f,
oportunizando uma diferenciao sadia entre o que pode ser considerado como
histrico-fatual e aquilo que, revestido de forma histrica, procura dar testemunho de
verdades cridas e vividas no discipulado. Pode-se duvidar, p. ex., de o mundo ter sido
criado - de fato - em seis dias, como nos
21
relata a histria da criao. Mas significa isto que aquilo que seus autores quiseram
expressar com este revestimento histrico no verdade de f? Devemos colocar a
nfase no nmero de dias ou no fato de a Escritura afirmar ter sido Deus o
responsvel pela criao? O mtodo histrico-crtico, portanto, no defende um puro
historicismo nem objetiva unicamente o exame da veracidade fatual das narrativas
dos textos. A crtica procura ir s origens histricas do texto, mas no se esgota nesta
verificao. "Crtica" significa, aqui, fazer uso de umjuzo sadio que busca realmente
as razes dos textos, seja como eventos histricos que, de fato, ocorreram, seja como
expresso de crenas e esperanas que cabia proclamar.
A partir do exposto esperamos ter deixado claro que "crtica" no algo que deva
ser associado a uma disposio negativa nas pessoas. exatamente o contrrio, como
escrevem Cervo/Bervian:
A conscincia crtica levar o pesquisador a aperfeioar seu julgamento e a
desenvolver o discernimento, capacitando-o a distinguir e separar o essencial do
acidental, o importante do secundrio. Criticar julgar, distinguir, discernir,
analisar para melhor poder avaliar os elementos componentes da questo.
40
De forma semelhante se expressa Joseph A. Fitzmyer:
Esse mtodo (...) chama-se "crtico" no por criticar a Bblia ou procurar descobrir
erros em seu texto, mas porque usa critrios cientficos para julgar o texto o mais
objetivamente possvel, no que diz respeito aos aspectos histricos e literrios,
empregando todos os estilos de crtica literria (de textual a redacional), e para
coment-lo como expresso do discernimento humano. analtico porque se
esfora para possibilitar ao leitor entender a inteno que os autores antigos
expressaram em seus textos e "perceber melhor o contedo da revelao divina"
que os textos bblicos preservam e transmitem.
41
3.0 - Aproximao ao texto
A exegese inicia com um primeiro contato entre o texto e seu ou sua intrprete.
Este primeiro contato ser uma mescla de meditao e interrogao. A aproximao ao
texto se realiza atravs de:
Leitura atenta do texto em uma traduo portuguesa de uso cotidiano. Podem
seguir-se tambm leituras de outras verses disponveis.
Meditao sobre o significado do texto para o leitor ou leitora. Estes podero
perguntar-se: qual a primeira impresso que o texto provoca? O que ele comunica
para mim nesta primeira leitura? Que associaes e sentimentos provoca em minha
pessoa? H empada entre o que o texto diz e aquilo que penso e creio? Tenho
sentimentos de contrariedade em relao a algo do texto? H coisas com as quais
no posso concordar ou que acho incorretas?
Outro tipo de perguntas que se pode fazer refere-se rea do conhecimento. Quais
so os elementos ou contedos apresentados que conheo ou desconheo? Que
detalhes no texto caberia aprofundar para entend-lo ainda melhor?
22
Por fim, uma aproximao ao texto engloba tambm reflexes sobre a sua mensagem
e seu significado pessoal, eclesial e social. O leitor ou a leitora podero perguntar-se:
que mensagem quer o texto comunicar para mim pessoalmente, para minha Igreja e
para a sociedade em que atuo? Que ideias ou prticas defende? Quais critica e por
qu? Que implicaes traz a mensagem do texto para a vivncia de minha
espiritualidade pessoal, eclesial e scio-poltica
42
?
Observao: A riqueza desta primeira aproximao ao texto ser tanto maior,
quanto mais pessoas puderem ser convidadas para participar da reflexo. Uma
aproximao coletiva ao texto dar uma representatividade comunitria
s'perguntas iniciais que formulamos e que ele nos coloca.
Essa primeira aproximao vai iniciar nosso dilogo com o texto, expondo como
o entendemos, as perguntas que levanta, as dvidas que suscita e a mensagem que
encerra num contato inicial. importante que essas primeiras interrogaes, dvidas e
mensagens do texto sejam anotadas por escrito, para que possam ser comparadas com
a interpretao posterior. Uma boa exegese levar tais perguntas a srio e procurar
ser sensvel a elas. A anotao das dvidas tambm favorece o processo de controle e
reviso no final da exegese. Esse processo procurar responder a questes como: quais
as dvidas e interrogaes iniciais que foram realmente aclaradas? Quais ainda
carecem de esclarecimento e por qu? Em que sentido o estudo cientfico do texto
ajudou a esclarecer as questes que a leitura intuitiva despertou no primeiro momento?
Em que medida o estudo cientfico do texto colocou novas questes, que no haviam
sido percebidas na leitura inicial? O estudo cientfico do texto apresentou novidades
para mim? Quais foram?
4.0 - Bibliografia selecionada
4.1 - Manuais de exegese
BERGER, K. Exegese ds Neuen Testaments. Heideiberg: Quelle & Meyer, 1977.
BUZZETTI, C. 4 x l. Um nico trecho bblico e vrios "fazeres": guia prtico de
hermenutica e pastoral bblica. So Paulo : Paulinas, 1998.
CONZELMANN, H., LINDEMANN, A. Arbeitsbuch zum Neuen Testament. 2. ed.
Tbingen :J. C. B. Mohr, 1976.
EGGER, W. Metodologia do Novo Testamento: introduo aos mtodos lingusticos e
histri-co-crticos. So Paulo : Loyola, 1994.
HAYES,J. H., HOLLADAY, C. R. Biblical Exegesis : A Beginner's Handbook. Atlanta :
John Knox,1982.
KRGER, R., CROATTO,J. S. Mtodos exegticos. Buenos Aires : EDUCAB, 1996.
23
ROLOFFJ. Nens Testament. . ed. Neukirchen : Neukirchener, 1979. SILVA, C. M. D. da et
alii. Metodologia de exegese bblica.. So Paulo : Paulinas, 2000.
ZIMMERMANN, H. Los mtodos histrico-crticos en el Nuevo Testamento. Madrid :
Biblioteca de Autores Cristianos, 1969.
4.2 Textos com exegeses selecionadas
Todo principiante no trabalho exegtico forosamente deparar-se-, mais cedo ou tarde,
com inseguranas relativas ao modo de proceder. O presente manual optou, por esta razo,
apresentar aps cada passo exegtico um exerccio prtico. O texto escolhido foi o de Mc
2.15-17. Esses exerccios visam dar ao intrprete orientaes bsicas sobre modos de
procedimento possveis. Eles no so pensados para servir de padro, mas somente de
orientao e estmulo. Cada intrprete haver de encontrar a sua prpria maneira de
apresentar os resultados da pesquisa realizada.
Exerccios exegticos em textos selecionados so tambm apresentados por alguns
manuais de exegese e monografias. Uma consulta aos mesmos de extrema importncia para
que os estudantes possam perceber a variedade e riqueza de estudos exegticos em textos
bblicos. Recomendamos, em especial, os seguintes livros:
BUZZETTI, C. 4 x l. Um nico trecho bblico e vrios "fazeres". So Paulo: Paulinas, 1998.
p. 131-269 (com exegese completa de 6 textos, 3 do AT e 3 do NT).
TRILLING, W. O anncio de Cristo nos evangelhos sinticos. 2. ed. So Paulo : Paulinas,
1981. (Apresenta a exegese de 10 textos dos evangelhos sinticos, com indicaes
prticas para a pregao e catequese).
W. A. Como lera Bblia: "laboratrio" da cincia bblica: mtodos, tcnicas, interpretao.
So Paulo : Paulinas, 1983. (Contm exegeses de textos do AT e NT).
ZIMMERMANN, H. Los mtodos histrico-crticos en el Nuevo Testamento. Madrid :
Biblioteca de Autores Cristianos, 1969. (Apresenta exerccios prticos para os principais
passos exegcos com uma variedade de textos).
Para a exegese de milagres, recomendamos a leitura do artigo de G. BRAKEMEIER, A cura
do paraltico em Cafarnaum (Mc 2.1-12): uma exegese. Estudos Teolgicos, v. 23, n. l, p.
11-41,1983.
4.3 Histria da exegese e apresentao de alguns mtodos de leitura
ARTOLA, A. M., CAROJ.M.S. A Bblia e a palavra de Deus. So Paulo: A M Edies,
1996.
BARRERA, J. T. A Bblia judaica e a Bblia crist: introduo histria da Bblia.
Petrpolis: Vozes, 1996. p. 593-692.
BERKHOF, Louis. Princpios de interpretao bblica. 2. ed. Rio de Janeiro :JUERP, 1981.
p. 15-42.
BOLETN TEOLGICO (Revista da Fraternidad Teolgica Latinoamericana), v. 27, n.
58,jun. 1995 (com vrias contribuies).
24
GILBERT, P. Pequena histria da exegese bblica. Petrpolis : Vozes, 1995.
LA CASA DE LA BBLIA (Equipe). Leitura bblica em grupo : doze roteiros para uma
leitura orante. So Paulo : Paulinas, 2002.
MOSCONI, L. Para uma leitura fiel da Bblia. So Paulo : Loyola, 1996.
SOARES, S. A. G. (Org.). Curso extensivo de formao de biblistas: pistas para anlise de
textos. So Leopoldo : CEBI, 1998.
ZUCK, R. B. A interpretao bblica: meios de descobrir a verdade da Bblia. So Paulo :
Vida Nova, 1994. p. 31-67.
4.4 Orientaes confessionais
As orientaes confessionais vm usualmente embutidas nos manuais de hermenutica
bblica e de dogmtica. Em relao posio da Igreja Catlica, recomenda-se a leitura de:
FITZMYER,J. A. A Bblia na Igreja. So Paulo : Loyola, 1997. HEREDA, F. M. A Bblia,
palavra proftica. Petrpolis : Vozes, 1996.
PONTIFCIA COMISSO BBLICA : a interpretao da Bblia na Igreja. So Paulo :
Loyola, 1994. (O livro traz anexado o texto da Dei Verbuni).
POTTERIE, I. de Ia et alii. Exegese crista hoje. Petrpolis : Vozes, 1996.
Neste contexto, recomendamos exemplarmente alguns manuais de hermenutica bblica
de vrias confisses, como, por exemplo:
BARROWS, E. P. Princpios de interpretao da Bblia. 2. ed. Rio de Janeiro : Centro
Cristo de Literatura, 1962.
BERGER, K. Hermenutica do Novo Testamento. So Leopoldo : Sinodal, 1999.
BERKHOF, L. Princpios de interpretao bblica. 2. ed. Rio de Janeiro : JUERP, 1981.
GILHUIS, P. Como interpretar a. Bblia : introduo hermenutica. Braslia : Livraria
Crist Unida, 1978. 2 v.
GUSSO, A. R Como entender a Bblia?: orientaes prticas para a interpretao correta das
Escrituras Sagradas. Curitiba : A. D. Santos, 1998.
JOBLING, D. et alii (Org.). A Bblia ps-modema: Bblia e cultura coletiva. So Paulo :
Loyola, 2000. LADD, G. E. TheNew Testament andCriticism. Grand Rapids : Wm. B.
Eerdmans, 1967.
MARTNEZ, J. M. Hermenutica bblica : como interpretar Ias Sagradas Escrituras.
Barcelona: CUE, 1984.
MESTERS, C. Deus, onde ests? 6. ed. Belo Horizonte : Vega, 1983.
. Por trs das palavras: um estudo sobre a porta de entrada no mundo da B-
blia. Petrpolis: Vozes, 1974.
VIERTEL, W. E. A interpretao da Bblia. Rio de Janeiro :JUERP, 1975. WEDER, H.
Neutestamentiiche Hermeneutik. 2. ed. Zrich : Theologischer, 1989.
25
ZUCK, R. B. A interpretao bblica: meios de descobrir a verdade da Bblia. So Paulo :
Vida Nova, 1994.
4.5 Mtodo histrico-crtico
BRAKEMEIER, G. Interpretao evanglica da Bblia a partir de Lutero. In: DREHER, M.
N. (Ed.). Reexes em tomo de Lutero. So Leopoldo : Faculdade de Teologia, 1981. p.
29-48.
DOBBERAHN, F. E. O mtodo histrico-crtico entre idealismo e materialismo. Estudos
Teolgicos, So Leopoldo, v. 28, n. l, p. 35-56,1988.
FITZMYERJ. A. Escritura, a alma da teologia. So Paulo : Loyola, 1997. p. 15-42.
. A Bblia na Igreja. So Paulo : Loyola, 1997. p. 19-37.
KONINGSJ. A leitura da Bblia. Estudos Bblicos, Petrpolis, So Leopoldo, So Bernardo
do Campo, n. 32, p. 58-73,1991.
. A Bblia nas suas origens e hoje. Petrpolis: Vozes, 1998. p. 191-229.
LADD, G. E. Crtica dei Nuevo Testamento: una perspecva evanglica. Grand Rapids :
Mundo Hispnico, 1990.
MARTINEZ, J. M. Hermenutica bblica (Como interpretar Ias Sagradas Escrituras).
Barcelona: CLIE, 1987. p. 87-94.
SCHMIDT, Ervino. Autoridade da Sagrada Escritura e interpretao cientfica. Estudos
Teolgicos, So Leopoldo, v. 19, n. 2, p. 85-94,1979.
VOLKMANN, M., DOBBERAHN, F. E., CSAR, E. . B. Mtodo histrico-crtico. So
Paulo: CEDI, 1992.
4.6 - Mtodo estruturalista
BARROS, Diana Luz Pessoa de. Teoria semitica do texto. 3. ed. So Paulo : tica, 1997.
CROATTO,J. S. Hermenutica bblica: para uma teoria da leitura como produo de
significado. So Leopoldo : Sinodal, So Paulo : Paulinas, 1986.
KIRCHOF, Edgar Roberto. As verdades da criao: uma abordagem estrutural de Gn
1-2,4a. So Leopoldo : Unisinos, 1999.
W. A. Iniciao anlise estrutural. So Paulo : Paulinas, 1983.
ZUCK, R. B. A interpretao bblica: meios de descobrir a verdade da Bblia. So Paulo :
Vida Nova, 1994. p. 157-166.
Em manuais de exegese, a abordagem estruturalista tematizada, entre outros, por:
EGGER,W. Metodologia do Novo Testamento. So Paulo: Loyola, 1994. p. 23-41 e 71-154.
KRGER, R, CROATTO,J. S. Mtodos exeeticos. Buenos Aires : EDUCAB, 1996. p.
255-281.
SILVA, C. M. D. da et alii. Metodologia, de exegese bblica. So Paulo : Paulinas, 2000. p.
79-
26
4.7 - Leitura fundamentalista e outros princpios de interpretao bblica
TEIXEIRA, A. B. Dogmtica evanglica. So Paulo: Pendo Real, 1986. p. 16-40.
DAGG,]. Manual de teologia. So Jos dos Campos : Fiel, 1989. p. 6-27.
KOEHLER, E. Sumrio da doutrina crista. Porto Alegre : Concrdia, 1969. p. 7-24.
KIRSCHNER, E. A. O papel normativo das Escrituras. Vox Scriptwae, So Paulo, v. 2, n. l,
p. 2-13, mar. 1992.
McINTIRE, C. T. Verbete "Fundamentalismo". In: W. A. ELWELL (Ed.). Enciclopdia
histrico-teolgica da Igreja Crist. So Paulo : Vida Nova, 1990. v. 2, p. 187-190.
SILVA, C. M. D. da et alii. Metodologia de exegese bblica. So Paulo : Paulinas, 2000. p.
319-
323. STURZ, R. J. A Palavra que prende e que liberta. Vox Scriptwae, So Paulo, v. l, n.
l, p. 3-
10, mar. 1991.
4.8 - Leitura popular da Bblia
CARROL, M. D. Lecturas populares de Ia Bblia: su significado y reto para Ia educacin
teolgica. Vox Scriptwae, So Paulo, v. 5, n. 2, p. 131-145,1995.
MESTERS, Carlos. Flor sem defesa : uma explicao da Bblia a partir do povo. Petrpolis
: Vozes, 1983. . Como se faz teologia bblica hoje no Brasil. Estudos
Bblicos, Petrpolis, n. l,
p. 7-19,1984. MOSCONI, LUS. Para uma leitura fiel da Bblia. So Paulo : Loyola,
1996.
PEREIRA, N. C., MESTERS, C. A leitura popular da Bblia: procura da moeda perdida.
So Leopoldo : CEBI, 1994. (A Palavra na Vida, 73).
PIXLEY, Jorge. Um chamado a lanar as redes (O novo Protestantismo e a leitura popular
da Bblia). RIBLA, Petrpolis, So Leopoldo, n. 10, p. 86-93,1991.
RICHARD, Pablo. Leitura popular da Bblia na Amrica Latina (Hermenutica da liberta-
o). RIBLA, Petrpolis, So Paulo, So Leopoldo, n. l, p. 8-25,1988.
SOARES, S. A. G. A leitura da Bblia. In: ID. (Org.J. Curso extensivo deformao de
biblistas : pistas para anlise de textos. So Leopoldo: CEBI, 1998. p. 21-27.
W. A. Como se l a Bblia na Amrica Latina. Revista de Cultura Bblica, So Paulo, n.
45-46,1988.
W. A. Sentimos Deus de outra forma: leitura bblica feita por mulheres. So Leopoldo :
CEBI, 1994. (A Palavra na Vida, 75/76).
VLEZ, N. A leitura bblica nas comunidades eclesiais de base. RIBLA, Petrpolis, So
Paulo, So Leopoldo, n. l, p. 26-43,1988.
27
Você também pode gostar
- Paulo e Clemente Romano: um estudo comparativo acerca da institucionalização do cristianismo em Corinto no século INo EverandPaulo e Clemente Romano: um estudo comparativo acerca da institucionalização do cristianismo em Corinto no século IAinda não há avaliações
- Homossexualidade E Pedofilia Na Igreja CatólicaNo EverandHomossexualidade E Pedofilia Na Igreja CatólicaAinda não há avaliações
- Seminário De Bacharelado Em TeologiaNo EverandSeminário De Bacharelado Em TeologiaAinda não há avaliações
- A Epistemologia Teológica em Questão: Estudo crítico e autocrítico da teologia – que deve ser – da libertaçãoNo EverandA Epistemologia Teológica em Questão: Estudo crítico e autocrítico da teologia – que deve ser – da libertaçãoAinda não há avaliações
- As 55 Bem-Aventuranças do Novo Testamento: Impactos sociológicos, jurídicos, econômicos e teológicos - Exegese e hermenêuticasNo EverandAs 55 Bem-Aventuranças do Novo Testamento: Impactos sociológicos, jurídicos, econômicos e teológicos - Exegese e hermenêuticasAinda não há avaliações
- Do reino dos mártires ao descanso dos monges: milenarismos antigos e medievais: milenarismos antigos e medievaisNo EverandDo reino dos mártires ao descanso dos monges: milenarismos antigos e medievais: milenarismos antigos e medievaisAinda não há avaliações
- Teologia e outros saberes: Uma introdução ao pensamento teológicoNo EverandTeologia e outros saberes: Uma introdução ao pensamento teológicoAinda não há avaliações
- Art - Impostos - Jesus MT 17 24 - 27Documento12 páginasArt - Impostos - Jesus MT 17 24 - 27npf25Ainda não há avaliações
- Lendo o Livro de Miqueias: Profecia de Julgamento e de PromessaNo EverandLendo o Livro de Miqueias: Profecia de Julgamento e de PromessaAinda não há avaliações
- Êxodo: Um projeto de liberdade nascido no coração de DeusNo EverandÊxodo: Um projeto de liberdade nascido no coração de DeusAinda não há avaliações
- Os Dois Livros de DeusDocumento4 páginasOs Dois Livros de DeusJ.RogerioAinda não há avaliações
- Ressurreição e Transfiguração: Rafael Sanzio e o Mecenato Católico no Início do Século XVINo EverandRessurreição e Transfiguração: Rafael Sanzio e o Mecenato Católico no Início do Século XVIAinda não há avaliações
- O Juízo Final: conciliações entre ciência e religião em Paul Tillich e Rudolf BultmannNo EverandO Juízo Final: conciliações entre ciência e religião em Paul Tillich e Rudolf BultmannNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- O logos hermenêutico em teologia: de uma racionalidade hermenêutica a uma leitura plural da economia da revelação cristãNo EverandO logos hermenêutico em teologia: de uma racionalidade hermenêutica a uma leitura plural da economia da revelação cristãAinda não há avaliações
- Geografia do Recolhimento: O lugar da vida devocionalNo EverandGeografia do Recolhimento: O lugar da vida devocionalAinda não há avaliações
- Razões Da Guarda Do DomingoDocumento3 páginasRazões Da Guarda Do Domingoscribd_lostandfoundAinda não há avaliações
- Milton S. Jacó, GN 25,19-34Documento21 páginasMilton S. Jacó, GN 25,19-34Rafael SilvaAinda não há avaliações
- Semana Do Pão em Casa - Aula 1Documento2 páginasSemana Do Pão em Casa - Aula 1Guilherme SilvaAinda não há avaliações
- Dona Glória Fazia... FinalDocumento31 páginasDona Glória Fazia... FinalGuilherme SilvaAinda não há avaliações
- EBOOK - TORTAS - 1 LowcarbDocumento11 páginasEBOOK - TORTAS - 1 LowcarbGuilherme SilvaAinda não há avaliações
- Customer ExperienceDocumento10 páginasCustomer ExperienceGuilherme SilvaAinda não há avaliações
- CADERNO DE APOIO (1) Story TellingDocumento11 páginasCADERNO DE APOIO (1) Story TellingGuilherme SilvaAinda não há avaliações
- Harmonia - Vol 2 - Ian-GuestDocumento10 páginasHarmonia - Vol 2 - Ian-GuestGuilherme Silva0% (3)
- Balanced Scorecard Na Pratica PDFDocumento31 páginasBalanced Scorecard Na Pratica PDFGuilherme SilvaAinda não há avaliações
- Notas MelodicasDocumento6 páginasNotas MelodicasDouglas JuniorAinda não há avaliações
- De SENECTUTE - Uma Leitura Critica de CiDocumento17 páginasDe SENECTUTE - Uma Leitura Critica de CiGuilherme SilvaAinda não há avaliações
- A Imagem Da Velhice Na ContemporaneidadeDocumento37 páginasA Imagem Da Velhice Na ContemporaneidadeGuilherme SilvaAinda não há avaliações
- Ficha Tecnica Fime VatelDocumento2 páginasFicha Tecnica Fime VatelGuilherme SilvaAinda não há avaliações