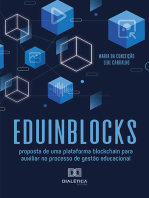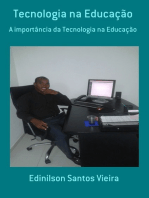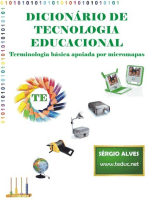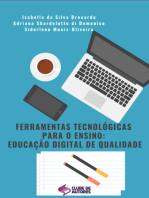Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Org Arq Comp
Org Arq Comp
Enviado por
kherberosTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Org Arq Comp
Org Arq Comp
Enviado por
kherberosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Eliane Maria de Bortoli Fvero
Organizao e Arquitetura
de Computadores
Curso Tcnico em Informtica
Organizao e Arquitetura
de Computadores
Eliane Maria de Bortoli Fvero
2011
Pato Branco-PR
Presidncia da Repblica Federativa do Brasil
Ministrio da Educao
Secretaria de Educao a Distncia
Equipe de Elaborao
Universidade Tecnolgica Federal do Paran
UTFPR
Coordenao do Curso
Edilson Pontarolo/UTFPR
Professora-autora
Eliane Maria de Bortoli Fvero/UTFPR
Comisso de Acompanhamento e Validao
Universidade Federal de Santa Catarina UFSC
Coordenao Institucional
Araci Hack Catapan/UFSC
Coordenao do Projeto
Silvia Modesto Nassar/UFSC
Coordenao de Design Instrucional
Beatriz Helena Dal Molin/UNIOESTE e UFSC
Coordenao de Design Grco
Carlos Antonio Ramirez Righi/UFSC
Design Instrucional
Mariano Castro Neto/UFSC
Web Master
Rafaela Lunardi Comarella/UFSC
Web Design
Beatriz Wilges/UFSC
Gustavo Mateus/UFSC
Mnica Nassar Machuca/UFSC
Diagramao
Andria Takeuchi/UFSC
Caroline Ferreira da Silva/UFSC
Guilherme Ataide Costa/UFSC
Juliana Tonietto/UFSC
Reviso
Jlio Csar Ramos/UFSC
Projeto Grco
e-Tec/MEC
Catalogao na fonte pela Biblioteca Universitria da UFSC
Universidade Tecnolgica Federal do Paran
Este Caderno foi elaborado em parceria entre a Universidade Tecnolgica Federal
do Paran e a Universidade Federal de Santa Catarina para o Sistema Escola
Tcnica Aberta do Brasil e-Tec Brasil.
F273o Fvero, Eliane Maria de Bortoli
Organizao e arquitetura de computadores / Eliane de Bortoli
Fvero. Pato Branco : Universidade Tecnolgica Federal do Paran,
2011.
114p. : il. ; tabs.
Inclui bibliograa
ISBN: 978-85-7014-082-1
1. Computao Estudo e ensino. 2. Arquitetura de computadores.
4. Ensino a distncia. I. Ttulo. II.
CDU: 681.31:519.687.4
e-Tec Brasil 33
Apresentao e-Tec Brasil
Prezado estudante,
Bem-vindo ao e-Tec Brasil!
Voc faz parte de uma rede nacional pblica de ensino, a Escola Tcnica
Aberta do Brasil, instituda pelo Decreto n 6.301, de 12 de dezembro 2007,
com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino tcnico pblico, na mo-
dalidade a distncia. O programa resultado de uma parceria entre o Minis-
trio da Educao, por meio das Secretarias de Educao a Distancia (SEED)
e de Educao Prossional e Tecnolgica (SETEC), as universidades e escolas
tcnicas estaduais e federais.
A educao a distncia no nosso pas, de dimenses continentais e grande
diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao
garantir acesso educao de qualidade, e promover o fortalecimento da
formao de jovens moradores de regies distantes, geogracamente ou
economicamente, dos grandes centros.
O e-Tec Brasil leva os cursos tcnicos a locais distantes das instituies de en-
sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir
o ensino mdio. Os cursos so ofertados pelas instituies pblicas de ensino
e o atendimento ao estudante realizado em escolas-polo integrantes das
redes pblicas municipais e estaduais.
O Ministrio da Educao, as instituies pblicas de ensino tcnico, seus
servidores tcnicos e professores acreditam que uma educao prossional
qualicada integradora do ensino mdio e educao tcnica, capaz de
promover o cidado com capacidades para produzir, mas tambm com auto-
nomia diante das diferentes dimenses da realidade: cultural, social, familiar,
esportiva, poltica e tica.
Ns acreditamos em voc!
Desejamos sucesso na sua formao prossional!
Ministrio da Educao
Janeiro de 2010
Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
e-Tec Brasil 5
Indicao de cones
Os cones so elementos grcos utilizados para ampliar as formas de
linguagem e facilitar a organizao e a leitura hipertextual.
Ateno: indica pontos de maior relevncia no texto.
Saiba mais: oferece novas informaes que enriquecem o
assunto ou curiosidades e notcias recentes relacionadas ao
tema estudado.
Glossrio: indica a denio de um termo, palavra ou expresso
utilizada no texto.
Mdias integradas: sempre que se desejar que os estudantes
desenvolvam atividades empregando diferentes mdias: vdeos,
lmes, jornais, ambiente AVEA e outras.
Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em
diferentes nveis de aprendizagem para que o estudante possa
realiz-las e conferir o seu domnio do tema estudado.
AULA
OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM
MATERIAIS
CARGA
HOR-
RIA
(horas)
e-Tec Brasil 7
Sumrio
Palavra da professora-autora 9
Apresentao da disciplina 11
Projeto instrucional 13
Aula 1 - Evoluo da arquitetura de computadores 15
1.1 Elementos do sistema computacional 15
1.2 Computadores analgicos x digitais 16
1.3 Evoluo tecnolgica 17
1.4 Componentes bsicos de um sistema computacional 25
Aula 2 Sistemas de numerao 29
2.1 Bases e sistemas de numerao 29
Aula 3 Portas lgicas e suas funes 35
3.1 Funes e portas lgicas 35
Aula 4 - Subsistema de memria 45
4.1 Sistema de memria e suas caractersticas 45
4.2 Registradores 47
4.3 Memria cache 48
4.4 Memria principal 49
4.5 Memria secundria 55
Aula 5 O Processador: organizao e arquitetura 57
5.1 Organizao do processador 57
5.2 Unidade funcional de processamento 59
5.3 Unidade funcional de controle 62
5.4 Instrues de mquina 73
5.5 Arquiteturas RISC e CISC 78
Aula 6 Representao de dados 85
6.1 Introduo 85
6.2 Formas de representao 86
6.3 Tipos de dados 86
Aula 7 - Dispositivos de entrada e sada 95
7.1 Introduo a dispositivos de entrada e sada 95
e-Tec Brasil 8
e-Tec Brasil 9
Palavra da professora-autora
Caro estudante!
Este caderno foi elaborado com o cuidado para ajud-lo a realizar seus es-
tudos de forma autnoma, objetivando que voc desenvolva conhecimento
adequado, apresentando plenas condies de dar continuidade realizao
do curso do qual esta disciplina faz parte.
Destacamos que o seu aprendizado no ser construdo apenas a partir do
estudo dos textos apresentados neste caderno. Essa prtica deve ser com-
binada com sua participao efetiva nas aulas, realizao das atividades de
aprendizagem, leituras complementares e, principalmente, com a sua intera-
o com o professor e os demais estudantes desta disciplina. Para que pos-
samos alcanar os objetivos propostos, a dinmica da disciplina prope sua
efetiva participao e comprometimento nas atividades de aprendizagem
e na utilizao das ferramentas de informao e comunicao (sncronas
e assncronas), tais como: fruns de discusso, chat e outras ferramentas
disponibilizadas pelo Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA)
Moodle. Alertamos que para um aproveitamento considerado ideal nesta
disciplina, imprescindvel a leitura dos textos das aulas e uma efetiva utili-
zao dos vrios recursos disponveis no Moodle. Pois alm das ferramentas
de informao e comunicao, o Moodle tambm disponibiliza materiais
complementares, como por exemplo vdeos, artigos, textos, pginas WEB,
repositrios de objetos de aprendizagem, entre outros materiais relaciona-
dos aos contedos discutidos nas nossas aulas.
Desejamos um bom incio nesta disciplina e um excelente aproveitamento
deste caderno e de todos os recursos disponibilizados.
Um abrao e sucesso nos seus estudos!
Eliane Maria de Bortoli Fvero
e-Tec Brasil 11
Apresentao da disciplina
A disciplina Organizao e Arquitetura de Computadores visa apresentar e
discutir alguns conceitos e princpios bsicos que envolvem a organizao
interna de um sistema computacional (computador), seus componentes e in-
terconexes, a partir de uma viso crtica quanto sua estrutura e desempe-
nho. Prope o reconhecimento e anlise das arquiteturas dos processadores,
memrias e dispositivos de entrada e sada, bem como o entendimento do
funcionamento da arquitetura quanto execuo de programas.
Nesse sentido o foco desta disciplina o modo como ocorre a organizao
interna dos componentes de um computador (ex.: processador, memria,
dispositivos de E/S), no que tange tecnologia utilizada, suas caractersticas
e como ocorre a comunicao entre esses componentes.
Para melhor compreenso dos textos, este caderno apresenta sete aulas or-
ganizadas da seguinte forma:
Aula 1: Evoluo da arquitetura de computadores Nesta aula sero apre-
sentados e discutidos alguns componentes do sistema computacional, dife-
renas entre o computador analgico e o digital, atravs das vrias geraes
de computadores, com nfase nas tecnologias empregadas no modelo de
Von Neumann e nos componentes bsicos de um computador.
Aula 2: Sistemas de numerao Esta aula visa apresentar o sistema de
numerao utilizado pelos sistemas computacionais, dando nfase nos siste-
mas: binrio, octal e hexadecimal.
Aula 3: Portas lgicas e suas funes O objetivo desta aula apresentar
os elementos bsicos de organizao de computadores: portas lgicas e cir-
cuitos combinacionais, visando compreenso do que h no interior de um
circuito integrado (CI).
Aula 4: Subsistema de memria Esta aula objetiva apresentar e discutir a
organizao bsica de memria de um computador, com nfase nas carac-
tersticas que diferenciam os diferentes tipos de memria.
Aula 5: Organizao e arquitetura do processador Nesta aula vamos com-
preender como ocorre a organizao bsica do processador e a organizao
de microprocessadores atuais, seu funcionamento interno, e como ocorre a
execuo de instrues em baixo nvel.
Aula 6: Representao de dados Nesta aula vamos aprender como ocorre
a representao de dados no formato interno dos sistemas computacionais,
considerando os diversos tipos de dados.
Aula 7: Dispositivos de entrada e sada Esta aula apresenta e discute algu-
mas caractersticas do funcionamento bsico dos dispositivos de entrada e
sada disponveis em um computador.
Bons estudos!
e-Tec Brasil 12
e-Tec Brasil 13
Disciplina: Organizao e Arquitetura de Computadores (carga horria: 60h).
Ementa: Conceitos de arquitetura e organizao dos computadores. Compo-
nentes internos: processadores, memrias e dispositivos auxiliares. Intercone-
xo dos componentes. Circuitos bsicos. Elementos funcionais e dispositivos.
Instrues de baixo nvel. Arquiteturas avanadas de computadores.
AULA
OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM
MATERIAIS
CARGA
HOR-
RIA
(horas)
1. Evoluo da
arquitetura de
computadores
Entender a evoluo da ar-
quitetura de computadores e
seu modo de funcionamento.
Identicar os componentes
do computador por meio da
introduo do modelo de Von
Neumann.
Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA);
Texto: Nanotecnologia. Disponvel em: http://
pt.wikipedia.org/wiki/Nanotecnologia.
Acesso em: 19 jul. 2010;
Texto: Computador ptico futuro dos computadores.
Disponvel em: http://www.lucalm.hpg.ig.com.br/
mat_esp/comp_optico/computador_optico.htm. Acesso
em: 19 jul. 2010;
Texto: Computador quntico j funciona. Dispo-
nvel em: http://info.abril.com.br/aberto/info-
news/022007/15022007-3.shl.
Acesso em: 19 jul. 2010;
Texto: Simulador de computador quntico. Disponvel em:
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noti-
cia.php?artigo=010150040809.
Acesso em: 19 jul. 2010;
Vdeo: Como os chips so fabricados, disponvel em:
http://www.clubedohardware.com.br/artigos/1131.
Acesso em: 19 jul. 2010;
Vdeo: Como os computadores funcionam, disponvel
em: http://www.youtube.com/watch?v=Wf1jnh8TCXA.
Acesso em: 19 jul. 2010;
Artigo disponvel em: http://www.guiadohardware.net/
artigos/evolucao-processadores.
Acesso em: 19 jul. 2010.
8
2. Sistemas de
numerao
Compreender o sistema de
numerao utilizado pelos
sistemas computacionais.
Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA);
Vdeo: Nmeros binrios. Disponvel em: http://www.
youtube.com/watch?v=TJRYW-lSocU.
Acesso em: 19 jul. 2010.
Vdeo: Sistemas de representao e converso
entre bases. Disponvel em: http://www.youtube.com/
watch?v=RQt_s7Afg&feature=related.
Acesso em: 19 jul.2010.
8
continua
Projeto instrucional
AULA
OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM
MATERIAIS
CARGA
HOR-
RIA
(horas)
3. Portas
lgicas e suas
funes
Identicar os elementos
bsicos de organizao:
portas lgicas e circuitos
combinacionais.
Entender o funcionamento
de um circuito integrado (CI).
Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA);
Artigo: Introduo s portas lgicas. Disponvel em: http://
www.clubedohardware.com.br/artigos/1139.
Acesso em: 19 jul. 2010;
Vdeo: Portas lgicas AND, OR, XOR, NOT. Disponvel
em: http://www.youtube.com/watch?v=4ENGYy68JqM
&feature=related. Acesso em: 19 jul. 2010.
8
4. Subsistema
de memria
Analisar e compreender a or-
ganizao bsica de memria
de um computador.
Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA);
Artigo: Memrias, disponvel em: http://www.gdhpress.
com.br/hardware/leia/index.php?p=cap4-1.
Acesso em: 19 jul. 2010.
10
5. O
Processador
organizao e
arquitetura
Analisar a organizao
bsica do processador.
Analisar e compreender a
organizao de microproces-
sadores atuais.
Compreender o funciona-
mento interno e a execuo
de instrues em baixo nvel.
Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA);
Texto: Barramentos: ISA, AGP, PCI, PCI Express, AMR
e outros. Disponvel em: http://www.infowester.com/
barramentos.php. Acesso em: 19 jul. 2010;
Texto: Tecnologia USB (Universal Serial Bus). Disponvel
em: http://www.infowester.com/usb.php.
Acesso em: 19 jul. 2010;
Texto: Tecnologia PCI Express. Disponvel em: http://www.
infowester.com/pciexpress.php. Acesso em 19 jul. 2010;
Texto: Esquema geral de funcionamento do processador.
Disponvel em: http://sca.unioeste-foz.br/~grupob2/00/
esq-geral.htm. Acesso em 19 jul. 2010;
Texto: Processadores RISC x processadores CISC. Dispo-
nvel em: http://www.guiadohardware.net/artigos/risc-
-cisc. Acesso em: 19 jun. 2010.
12
6. Representa-
o de dados
Conhecer a representao
de dados no formato interno
dos sistemas computacionais.
Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA);
Texto: Representao de dados. Disponvel em: http://www.
cristiancechinel.pro.br/my_les/algorithms/bookhtml/
node23.html. Acesso em: 19 jul. 2010.
8
7. Dispositivos
de entrada e
sada
Conhecer as caractersticas e
compreender o funcionamen-
to bsico dos dispositivos de
entrada e sada acoplados ao
sistema computacional.
Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA);
Texto: Como funciona o LCD. Disponvel em: http://www.
gdhpress.com.br/hmc/leia/index.php?p=cap7-3.
Acesso em: 19 jul. 2010;
Texto: Monitores de vdeo. Disponvel em: http://www.
clubedohardware.com.br/artigos/Monitores-de-
-Video/920/1. Acesso em: 19 jul. 2010;
Texto: Introduo s impressoras matriciais, jato de tinta
e Laser. Disponvel em: http://www.infowester.com/
impressoras.php. Acesso em 19 jul. 2010;
Texto: Anatomia de um disco rgido. Disponvel em: http://
www.clubedohardware.com.br/artigos/Anatomia-de-
-um-Disco-Rigido/1056/5. Acesso em: 19 jul. 2010;
Texto: Conhecendo o disco rgido (HD). Disponvel em:
http://www.infowester.com/hds1.php.
Acesso em: 19 jul. 2010;
Texto: Mouses: funcionamento, tipos e principais carac-
tersticas. Disponvel em: http://www.infowester.com/
mouse.php. Acesso em: 19 jul. 2010.
6
e-Tec Brasil 14
e-Tec Brasil
Aula 1 - Evoluo da arquitetura de
computadores
Objetivos
Entender a evoluo da arquitetura de computadores e seu modo
de funcionamento.
Identicar os componentes do computador por meio da introduo
do modelo de Von Neumann.
1.1 Elementos do sistema computacional
O computador uma mquina ou dispositivo capaz de executar uma se-
quncia de instrues denidas pelo homem para gerar um determinado
resultado, o qual atenda a uma necessidade especca (ex.: realizar clcu-
los, gerar relatrios). Essa sequncia de instrues denominada algorit-
mo, o qual pode ser denido como um conjunto de regras expressas por
uma sequncia lgica nita de instrues, que ao serem executadas pelo
computador, resolvem um problema especco. Assim, podemos dizer que
um ou mais algoritmos compem o que conhecemos como programa de
computador, que no mbito prossional da rea de informtica conhecido
como software.
As partes fsicas de um computador, tais como: dispositivos de entrada e
sada (ex.: monitor, teclado, impressora, webcam), dispositivos de armaze-
namento (ex. memria voltil e permanente), processador, assim como todo
o conjunto de elementos que compem um computador so chamados de
hardware. A Figura 1.1 apresenta os elementos que compem o hardware.
Processador Memria
Entrada/Sada
Figura. 1.1: Elementos de hardware.
Fonte: Elaborada pela autora.
Dispositivo
mecanismo usado para obter um
resultado
Instrues
ordens ou comandos para que
um computador execute uma
solicitao do homem (usurio),
a m de atender a uma determi-
nada necessidade
e-Tec Brasil Aula 1 - Evoluo da arquitetura de computadores 15
Dessa forma, pode-se dizer que a combinao do hardware e do software for-
ma o sistema computacional. A disciplina Organizao e Arquitetura de Com-
putadores enfatiza o estudo dos componentes de hardware de um computador.
1.2 Computadores analgicos x digitais
Os computadores podem ser classicados em dois tipos principais: analgi-
cos e digitais.
Os computadores analgicos no trabalham com nmeros nem com smbo-
los que representam os nmeros; eles procuram fazer analogia entre quan-
tidades (ex. pesos, quantidade de elementos, nveis de tenso, presses hi-
drulicas). Alguns exemplos desse tipo de computador so o baco que se
utilizava de pequenos carretis embutidos em um pequeno lete de metal
para realizar clculos ou a rgua de clculo que utiliza comprimentos
de escalas especialmente calibradas para facilitar a multiplicao, a diviso
e outras funes.
Pode-se dizer que o computador analgico uma categoria de computado-
res que se utiliza de eventos eltricos, mecnicos ou hidrulicos para resolver
problemas do homem. Ou seja, tais computadores representam o comporta-
mento de um sistema real utilizando-se para isso de grandezas fsicas.
Segundo Computador... (2010), computadores analgicos so normalmen-
te criados para uma nalidade especca, assim como ocorre com a cons-
truo de circuitos eletrnicos que implementam sistemas de controle (ex.:
sistemas de segurana, sistemas de controle de nvel). Nesses sistemas, os
resultados da computao analgica so utilizados dentro do prprio siste-
ma. Assim, uma pessoa era responsvel pela programao e funcionamento
desses computadores analgicos, realizando a programao diretamente no
hardware (ex.: engrenagens, roldanas). No incio do sculo XX as primeiras
calculadoras mecnicas, caixas registradoras e mquinas de clculo em geral
foram redesenhadas para utilizar motores eltricos, com a posio das en-
grenagens representando o estado de uma varivel. Exemplos de variveis
utilizadas em computadores analgicos so: a intensidade de uma corrente
eltrica em um resistor, o ngulo de giro de uma engrenagem, o nvel de
gua em um recipiente.
Diferentemente dos computadores analgicos, que representam nmeros
por meio da analogia direta entre quantidades, os computadores digitais
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 16
resolvem problemas realizando operaes diretamente com nmeros, en-
quanto os analgicos medem. Os computadores digitais resolvem os pro-
blemas realizando clculos e tratando cada nmero, dgito por dgito. De
acordo com Monteiro (2007), um computador digital uma mquina pro-
jetada para armazenar e manipular informaes representadas apenas por
algarismos ou dgitos, que s podem assumir dois valores distintos, 0 e 1,
razo pela qual denominado de computador digital.
Outra grande diferena dessa categoria de computadores que eles podem
resolver problemas por meio de uma sequncia programada de instrues
com o mnimo de interveno humana.
Assim, podemos dizer que o computador digital surgiu como uma soluo
rpida e com um nvel de automao bem mais elevado de realizar grandes
computaes numricas. Muitas so as necessidades do homem em termos
de computao, especialmente nas reas de engenharia, alm de demons-
traes e aplicaes tericas (ex.: clculo de um fatorial, progresses arit-
mticas). Sem o uso da tecnologia, muitos clculos manuais se tornavam
inviveis, tanto pelo custo em termos de esforo quanto pelo risco de gerar
resultados incorretos.
Dessa forma, os computadores digitais foram um passo determinante para
o progresso que possvel perceber atualmente em termos de computao.
O sonho do homem em realizar clculos de forma automtica, fazendo do
computador um dispositivo semelhante ao crebro humano, mas com capa-
cidades innitamente maiores do que o ser humano poderia suportar, virou
realidade e permite hoje automatizar grande parte das tarefas do ser huma-
no, facilitando sua vida pessoal e prossional.
1.3 Evoluo tecnolgica
Como foi possvel perceber na seo 1.2, houve uma grande evoluo desde
o surgimento do computador analgico at o desenvolvimento do computa-
dor digital. O que impactou nessa evoluo foram as tecnologias utilizadas
na construo de tais computadores, pois, no decorrer dos anos, foram sen-
do descobertos novos conhecimentos, materiais e dispositivos os quais per-
mitiram a substituio de teccnologias antigas de processamento de infor-
maes por novas tecnologias mais ecientest em termos de computao.
Dgitos
Dgitos so smbolos usados na
representao numrica inteira
ou fracionria
Realize uma pesquisa, e elabore
em uma mdia digital (arquivo
de texto ou apresentao),
sobre alguns dos computadores
analgicos que voc encontrar.
Procure ilustrar e comentar
sua apresentao. Esse arquivo
dever ser postado no AVEA
como atividade.
Tecnologia
Tecnologia: tudo o que o
homem inventou para facilitar
a resoluo de seus problemas,
incluindo a realizao de tarefas.
Portanto, exemplos de tecnologia
podem variar de acordo com
o contexto em que se aplica
(ex.: a descoberta da fotograa,
os culos, que resolveram
o problema dos decientes
visuais, o computador). Assim,
tecnologia pode ser denida
com tcnica, conhecimento,
mtodo, materiais, ferramentas
e processos usados para resolver
problemas ou facilitar sua
soluo.
e-Tec Brasil Aula 1 - Evoluo da arquitetura de computadores 17
Com o surgimento dos primeiros computadores, foi possvel classic-los
em geraes, de acordo com as tecnologias utilizadas para sua fabricao. A
seguir apresentamos as tecnologias utilizadas em cada gerao.
1.3.1 Gerao zero: computadores
mecnicos (1642-1945)
Essa gerao foi caracterizada pelos computadores essencialmente analgi-
cos, conforme descritos na seo 1.2, os quais eram construdos a partir de
engrenagens mecnicas e eletromecnicas, operavam em baixa velocidade
e eram destinados a resolver problemas especcos. So exemplos dessa ge-
rao, alm dos j citados anteriormente, o mecanismo de Antikythera, a
mquina de Pascal e a mquina das diferenas de Babbage.
1.3.2 Primeira gerao: vlvulas (1945-1955)
Podemos dizer que a Segunda Guerra Mundial foi o marco do surgimento
da computao moderna. Foi nesse contexto que comearam a surgir novas
teccnologias mais modernas capazes de substituir os componentes mec-
nicos utilizados at ento nos computadores analgicos, possibilitando o
surgimento dos computadores digitais. Esse foi um dos motivos pelos quais
os computadores da poca caram conhecidos como computadores de
primeira gerao.
Alguns dos componentes utilizados na fabricao desses computadores eram
os rels, os capacitores e as vlvulas, sendo as ltimas o mais importante
deles. As vlvulas possibilitaram clculos milhares de vezes mais rpidos do
que os efetuados com os rels eletromecnicos utilizados inicialmente. A
Figura 1.2 apresenta uma vlvula tpica.
Figura. 1.2: Vlvula eletrnica
Fonte: http://valvestate.fateback.com e http://www.pt.wikipedia.org/wiki/Histria_do_hardware
Rel
Rel: um interruptor acionado
eletricamente.
Capacitor
Capacitor: um dispositivo
que permite armazenar cargas
eltricas na forma de um campo
eletrosttico e mant-las durante
certo perodo, mesmo que a
alimentao eltrica seja cortada.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 18
A entrada de dados e instrues nesses computadores, bem como a sua
memria temporria, ocorria frequentemente pela utilizao de cartes per-
furados. Como os computadores tinham seu funcionamento baseado em
vlvulas (cuja funo bsica era controlar o uxo da corrente, amplicando a
tenso que recebe de entrada), normalmente quebravam aps algum tempo
de uso contnuo em funo da queima delas, o que resultava em uma falta
de conabilidade, principalmente nos resultados nais. Alm de ocupar mui-
to espao, seu processamento era lento e o consumo de energia elevado.
Dentre as primeiras calculadoras e os primeiros computadores (eletrnicos)
a utilizarem vlvulas, destacamos:
a) ENIAC, na Universidade da Pennsylvania;
b) IBM 603, 604, 701 e SSEC;
c) EDSAC, na Universidade de Cambridge;
d) UNIVAC I, de Eckert e Mauchly.
Listamos algumas caractersticas do Eletronic Numerical Integrator and Com-
puter (ENIAC), destacando o efeito do uso de vlvulas na construo de
computadores (Figura 1.3):
a) levou tres anos para ser construdo;
b) funcionava com aproximadamente 19.000 vlvulas;
c) consumia 200 quilowatts;
d) pesava 30 toneladas;
e) tinha altura de 5,5m;
f) seu comprimento era de 25 m;
g) tinha o tamanho de 150 m.
possvel imaginar a quantidade de energia consumida e o calor produzido
por quase 19.000 vlvulas?! A nalidade do ENIAC era o clculo de tabelas
de balstica para o exrcito americano. Tratava-se de uma mquina decimal,
ou seja, no binria (baseada em 0s e 1s) e sua programao envolvia a
congurao de diversos cabos e chaves (como possvel observar na Figura
1.3), podendo levar vrios dias.
e-Tec Brasil Aula 1 - Evoluo da arquitetura de computadores 19
Figura 1.3: ENIAC
Fonte: www.techclube.com.br/blog/?p=218
1.3.2.1 Modelo de Von Neumann
John Von Neumann foi um matemtico natural da Hungria que viveu a
maior parte de sua vida nos Estados Unidos. Contribuiu de forma signica-
tiva para a evoluo dos computadores. Suas contribuies perduram at os
dias atuais, sendo que a principal delas foi a construo de um computador
sequencial binrio de programa armazenado. Podemos dizer que ele props
os elementos crticos de um sistema computacional, denominado de Modelo
de Von Neumann. A arquitetura de computador proposta por esse modelo
composta basicamente por (TANENBAUM, 2007):
a) uma memria fsica (para armazenar programas e dados representados
por 0s e 1s);
b) uma Unidade Aritmtica e Lgica (ULA), cuja funo executar opera-
es indicadas pelas instrues de um programa. Seu trabalho apoiado
por diversos registradores (ex.: acumulador);
c) uma Unidade de Controle (UC), cuja funo buscar um programa na
memria, instruo por instruo, e execut-lo sobre os dados de entra-
da (que tambm se encontram na memria); e
d) equipamento de entrada e sada.
Curiosidade: Como no se tinha
conana nos resultados, devido
constante queima de vlvulas,
cada clculo era efetuado por
trs circuitos diferentes e os
resultados comparados; se dois
deles coincidissem, aquele era
considerado o resultado certo.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 20
importante esclarecer que a ULA e a UC, juntamente com diversos registradores
especcos, formam a Unidade Central de Processamento (CPU) do computador.
A Figura 1.4 apresenta os componentes da arquitetura de Von Neumann
descritos acima:
Memria
Unidade de
Controle (UC)
Unidade Lgica
Aritmtica
(ULA)
Entrada
Acumulador
Sada
Figura. 1.4: Arquitetura de Von Neumann
Fonte: Adaptada de Tanenbaum (2007)
Destacamos que a proposta inicial de Von Neumann ainda vem sendo utili-
zada, mas no em seu formato original, pois muitas melhorias foram reali-
zadas visando obter uma mquina com desempenho cada vez mais elevado,
como o caso das arquiteturas paralelas, que replicam alguns elementos da
arquitetura bsica de Neumann. Atualmente, muitos pesquisadores tm de-
senvolvido estudos visando obter uma alternativa a esse padro, mas ainda
no obtiveram sucesso.
1.3.3 Segunda gerao: transistores (1955-1965)
Nessa gerao, a vlvula foi substituda pelo transistor, o qual passou a ser
um componente bsico na construo de computadores. O transistor foi
desenvolvido pelo Bell Telephones Laboratories em 1948.
Esse dispositivo reduziu de forma signicativa o volume dos computadores
e aumentou a sua capacidade de armazenamento. Alm disso, o transistor
apresentava aquecimento mnimo, baixo consumo de energia e era mais
convel que as vlvulas (que queimavam com facilidade). Para voc ter uma
ideia, um transistor apresentava apenas 1/200 (0, 005) do tamanho de uma
das primeiras vlvulas e consumia menos de 1/100 (0,01) da sua energia.
e-Tec Brasil Aula 1 - Evoluo da arquitetura de computadores 21
A funo bsica do transistor em circuitos componentes de um computador
o de um interruptor eletrnico para executar operaes lgicas. Exis-
tem diversos modelos de transistores, os quais podem possuir caractersticas
diferenciadas de acordo com a sua aplicao. A Figura 1.5 apresenta as ca-
ractersticas fsicas de um transistor convencional.
Figura. 1.5: Transistor
Fonte: www.germes-online.com/catalog/87/128/page2/
Os materiais utilizados na fabricao do transistor so principalmente: o sil-
cio (Si), o germnio (Ge), o glio (Ga) e alguns xidos.
1.3.4 Terceira gerao: circuitos integrados
(1965-1980)
a partir dessa gerao que surgem os primeiros circuitos integrados (CI):
dispositivos que incorporam inmeros transistores e outros componentes
eletrnicos em formato de miniaturas em um nico encapsulamento. Por-
tanto, cada chip equivalente a inmeros transistores. Essa tecnologia subs-
tituia os transistores, os quais apresentam as seguintes vantagens: maior
conabilidade (no possui partes mveis); muito menores (equipamento
mais compacto e mais rpido pela proximidade dos circuitos); baixo consumo
de energia (miniaturizao dos componentes) e custo de fabricao muito
menor. Dessa forma, os computadores passaram a tornar-se mais acessveis.
Interruptor
Interruptor: tambm chamado
de chave, um mecanismo que
serve para interromper ou iniciar
um circuito eltrico.
Operaes lgicas
Operaes lgicas: so
funes cujos resultados
consideram as condies de
verdadeiro ou falso, o que
em termos binrios podem ser
representados por 1 e 0
(zero) respectivamente.
Curiosidade: Em 1954 a Texas
Instruments iniciou a produo
comercial. Em 1955, a Bell
lanou o primeiro computador
transistorizado, o TRADIC, que
possua 800 transistores.
Encapsulamento
Encapsulamento: a incluso de
um objeto dentro de outro, de
forma que o objeto includo no
que visvel. Tambm chamado
de chip ou pastilha.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 22
A Figura 1.6 apresenta um circuito integrado.
Figura 1.6: Circuito integrado
Fonte: www.bpiropo.com.br/fpc20051107.htm
Diferentemente dos computadores das geraes anteriores, a entrada de
dados e instrues passaram a ser realizadas por dispositivos de entrada e
sada, tais como teclados e monitores. A velocidade do processamento era
da ordem de microssegundos.
Um dos computadores considerados precursor dessa gerao foi o IBM 360,
o qual era capaz de realizar 2 milhes de adies por segundo e cerca de 500
mil multiplicaes, tornando seus antecessores totalmente obsoletos.
1.3.5 Quarta gerao: microprocessadores
(1970 - atual)
H circuitos integrados de diversos tamanhos, tipos e funes, desde os que con-
tm algumas dezenas de milhares de transistores at circuitos integrados extra-
ordinariamente mais complexos e inteligentes ou seja, capazes de cumprir
mltiplas funes de acordo com comandos ou instrues a eles fornecidos.
A partir de 1970, as evolues tecnolgicas ocorreram principalmente na
miniaturizao dos componentes internos dos computadores; entretanto,
os avanos caram relacionados escala de integrao dos circuitos integra-
dos, ou seja, na quantidade de dispositivos era possvel incluir em um nico
chip. A Tabela 1.1 apresenta as caractersticas de cada escala.
e-Tec Brasil Aula 1 - Evoluo da arquitetura de computadores 23
Tabela 1.1: Escalas de integrao
Denominao
Complexidade (nmeros de transistores)
Interpretao comum Tanenbaum
[7]
Texas Instruments
[8]
SSI Small Scale Integration 10 110 abaixo de 12
MSI Medium Scale Integration 100 10100 1299
LSI Large Scale Integration 1.000 100100.000 100999
VLSI Very Large Scale Integration 10.000100.000 a partir de 100.000 acima de 1.000
ULSI Ultra Large Scale Integration 100.0001.000.000
SLSI Super Large Scale Integration 1.000.00010.000.000
Fonte: Computador... (2010)
Nessa gerao os circuitos passaram a uma larga escala de integrao Lar-
ge Scale Integration (LSI), a partir do desenvolvimento de vrias tcnicas,
e aumentou signicativamente o nmero de componentes em um mesmo
chip. Como podemos observar na Figura 1.7, as caractersticas fsicas de um
microprocessador (frente e verso).
Figura 1.7: Microprocessador
Fonte: www.sharkyextreme.com/.../xp2200_dual_slant.jpg
Em 1970, a INTEL Corporation lanou no mercado um tipo novo de cir-
cuito integrado: o microprocessador. Os microprocessadores concentravam
todos os componentes principais de um computador: a Central Processing
Unit (CPU) ou Unidade Central de Processamento; controladores de mem-
ria e de entrada e sada. Assim, os primeiros computadores ao utilizarem o
microprocessador eram denominados computadores de quarta gerao.
Curiosidade: Em novembro
de 1971, a INTEL introduziu
o primeiro microprocessador
comercial, o 4004. Continha
2.300 transistores e executava
cerca de 60.000 clculos por
segundo. Processava apenas
quatro bits por vez e operava
a apenas 1 MHz. A partir
dessas evolues surgem os
computadores denominados
microcomputadores. Como o
prprio nome diz, computadores
extremamente menores que seus
antecessores, mais velozes e cada
vez mais acessveis s pessoas. O
primeiro kit de microcomputador
foi o ALTAIR 8800 em 1974.
Curiosidade: O crebro
humano, de um ponto de vista
estritamente funcional, pode
ser denido como um sistema
complexo de 100 bilhes de
neurnios. Para conter o mesmo
nmero de elementos do
crebro, um computador dos
anos 1940, a fase das vlvulas,
teria o tamanho de So Paulo.
Em ns dos anos 1950, com
os transistores, bastava um
computador com as dimenses
do Cristo Redentor. Anos 1960:
o computador seria como um
nibus. Atualmente, com a
aglomerao de alguns milhes
de componentes num nico chip,
crebro e computador entraram
num acordo de dimenses
Alguns historiadores armam
que a quarta gerao de
computadores se estende at
os dias de hoje, com os circuitos
VLSI. Outros criaram a quinta
gerao de computadores. Para
saber um pouco mais sobre essa
ltima gerao, consulte:
http://www.cesarkallas.
net/arquivos/faculdade/
inteligencia_articial/outros/
artdp2a.pdf e em seguida monte
um pequeno texto, contendo
possveis ilustraes. Esse texto
e as ilustraes devem ser
postados em formato de blog
criado no AVEA.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 24
1.3.6 O futuro
Atualmente dispomos de computadores extremamente velozes, que apre-
sentam tamanhos cada vez menores; esses avanos so possveis graas s
pesquisas que no cessam, por parte de inmeras universidades e institui-
es de pesquisa dispostas a descobrir o novo. Assim surgiu o que conhece-
mos por nanotecnologia, ou seja, a capacidade potencial de criar a partir da
miniaturizao, permitindo, assim, o desenvolvimento de dispositivos minia-
turizados para compor um computador, por exemplo.
Sempre em busca da descoberta de novas tecnologias, nesse caso que possi-
bilitem que o computador se torne mais rpido que seu antecessor (mesmo
que o seu antecessor j seja extremamente rpido e possua desempenho
alm das expectativas dos usurios), surgiram novas tecnologias para a cons-
truo de computadores no mais baseadas em conceitos digitais (0 e 1) e
energia eltrica. Assim, surgiram os computadores pticos: em que feixes de
luz podero se cruzar em um cubo ptico, transportando informao digital.
Os computadores qunticos tambm esto sendo largamente pesquisados
ao redor do mundo, havendo iniciativas inclusive no Brasil. Nesse tipo de
computador, so os tomos que desempenham o papel dos transistores. Ao
contrrio dos clssicos bits digitais (0 e 1), as menores unidades de informa-
o de um computador quntico podem assumir qualquer valor entre zero
e um. Dessa forma, existem previses bem otimistas de que essa nova tec-
nologia substitua o silcio (matria-prima dos transistores) em pouco tempo.
Participe do frum O Futuro dos Computadores disponvel no AVEA e
coloque as suas opinies e questionamentos sobre o assunto, com base nos
textos propostos acima e em outras informaes que julgar relevantes.
1.4 Componentes bsicos de um sistema
computacional
Segundo a arquitetura de Von Neumann, os computadores possuem quatro
componentes principais: Unidade Central de Processamento (UCP) com-
posta pela Unidade Lgica e Aritmtica (ULA) e a Unidade de Controle (UC),
a memria e os dispositivos de entrada e sada. Tais componentes so in-
terconectadas por barramentos. E todos esses itens constituem o hardwa-
re de um computador (seu conjunto de componentes fsicos), os quais so
agrupados em mdulos especcos, constituindo a estrutura bsica de um
computador. A Figura 1.8 mostra, de forma genrica, essa estrutura.
Nanotecnologia. Disponvel em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/
Nanotecnologia.
Acesso em: 19 jul. 2010.
Computador ptico Futuro dos
Computadores. Disponvel em:
http://www.lucalm.hpg.ig.com.
br/mat_esp/comp_optico/
computador_optico.htm
Computador quntico j
funciona. Disponvel em:
http://info.abril.com.br/aberto/
infonews/022007/15022007-3.shl.
Acesso em: 19 jul 2010.
Simulador de computador
quntico. Disponvel em:
http://www.
inovacaotecnologica.
com.br/noticias/noticia.
php?artigo=010150040809.
Acesso em: 19 jul. 2010.
e-Tec Brasil Aula 1 - Evoluo da arquitetura de computadores 25
Cabe esclarecer que quando se fala em processador est se falando gene-
ricamente da UCP. Muitas pessoas usam a sigla UCP ou CPU para indicar o
gabinete do computador, o que errneo.
Barramento
Memria CPU
Dispositivos de
Entrada/Sada
Figura. 1.8: Microprocessador
Fonte: Elaborada pela autora
A seguir sero descritos cada um dos principais componentes de um
computador:
a) UCP: sigla representativa de Unidade Central de Processamento. Pode-
mos dizer que se trata do componente principal do computador. Algu-
mas pessoas chamam de processador ou microprocessador. responsvel
pela execuo de dados e instrues armazenadas em memria (cdigo
de programas e dados);
b) Memria: existem diversos tipos de memria em um computador (ex.:
RAM (principal), ROM, cache, registradores), mas existe uma delas deno-
minada memria principal, a qual indispensvel. A memria principal
to importante quanto a UCP, pois sem ela no seria possvel disponi-
bilizar os programas e seus dados para o processamento pela CPU. Por-
tanto, a memria responsvel por armazenar todos os programas que
executam no computador e os dados que utilizam;
c) Dispositivos de Entrada e Sada (E/S): so dispositivos responsveis pelas
entradas e sadas de dados, ou seja, pelas interaes entre o computador
e o mundo externo (usurios). So exemplos de dispositivos de E/S: mo-
nitor de vdeo, teclado, mouse, webcam, impressora, entre outros;
d) Barramento: responsvel por interligar todos os componentes listados aci-
ma. Trata-se de uma via de comunicao composta por diversos os ou con-
dutores eltricos por onde circulam os dados manipulados pelo computador.
Para complementar o contedo
apresentado nesta unidade,
recomenda-se:
- Assistir ao vdeo: Como os chips
so fabricados, disponvel em:
http://www.clubedohardware.
com.br/artigos/1131
Acesso em: 19 jul. 2010.
- Assistir ao vdeo: Como os
Computadores Funcionam,
disponvel em: http://
www.youtube.com/
watch?v=Wf1jnh8TCXA.
Acesso em: 19 jul. 2010.
- Ler o artigo disponvel em:
http://www.guiadohardware.
net/artigos/evolucao-
processadores.
Acesso em: 19 jul. 2010.
Feito isso, realize a postagem de
seus comentrios, dvidas ou
informaes relevantes sobre a
evoluo dos processadores e o
seu processo de fabricao no
blog Evoluo dos processadores
e suas tecnologias, disponvel
no AVEA.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 26
As aulas subsequentes objetivam apresentar e explicar cada um dos elemen-
tos que compem um computador, para que voc entenda o seu funciona-
mento e suas especicaes tcnicas. Inicialmente vamos estudar os sistemas
de numerao, para que voc compreenda a linguagem que o computa-
dor entende (binria), seguido do estudo das portas lgicas e suas funes,
de forma a entender os elementos internos de cada um dos componentes
apresentados acima.
Resumo
Esta aula apresentou e discutiu os componentes do sistema computacional,
identicando caractersticas e diferenas entre o computador analgico e o
computador digital. Este ltimo o modelo de computador utilizado atu-
almente, o qual se baseia na representao de dados por meio dos dgitos
0 e 1.Foi apresentada a evoluo dos computadores, sempre focando nas
tecnologias utilizadas na construo dos computadores em cada uma das
geraes. Sendo assim, foram apresentadas:
Gerao 0 (1642-1945): que possua essencialmente computadores
mecnicos;
Primeira gerao (1945-1955): utilizava-se essencialmente de vlvulas
eletrnicas para a construo de computadores;
Segunda gerao (1955-1965): baseava-se no uso de transistores. Foi
proposto por John Von Neumann o modelo de computador utilizado
at os dias de hoje, composto de: memria, unidade de processa-
mento e dispositivos de entrada e sada;
Terceira gerao: (1965-1980): baseava-se no uso de circuitos
integrados;
Quarta gerao (1970-atual): surgiu o microprocessador.
Outras iniciativas de pesquisa resultaram em novas tecnologias que devem ser
lanadas ocialmente em breve, sempre visando aumentar o desempenho e
reduzir o volume das mquinas computacionais. Dentre essas novas tecno-
logias, destacam-se os computadores qunticos e os computadores pticos.
Foram discutidos os componentes bsicos de um computador, visando es-
clarecer todos os tpicos a serem tratados neste caderno. So eles: Unidade
Central de Processamento (UCP) composta pela Unidade Lgica e Arit-
mtica (ULA) e a Unidade de Controle (UC), a memria e os dispositivos de
entrada e sada e o barramento.
e-Tec Brasil Aula 1 - Evoluo da arquitetura de computadores 27
Atividades de aprendizagem
1. Em relao aos aspectos relacionados evoluo do sistema computa-
cional, responda aos seguintes questionamentos:
a) Explique com suas palavras no que consiste um sistema computacional.
b) Qual a diferena entre um computador analgico e um computador digital?
c) Os computadores atuais so analgicos ou digitais? Explique.
d) O que John Von Neumann signicou para a computao?
e) Qual a composio do modelo de Von Neumann e qual a relao desse
modelo com os computadores atuais?
f) No que consiste um transistor e qual a sua contribuio para a evoluo
dos computadores?
g) Qual a composio de um circuito integrado?
h) Qual a funo dos circuitos integrados?
i) Em qual das escalas de integrao se classicam os microprocessadores?
2. Atividade de pesquisa - realizar uma pesquisa sobre computadores qunticos:
Deve conter no mnimo uma e no mximo trs pginas (fonte tama-
nho 12, tipo Arial ou Times New Roman);
Deve apresentar as referncias, ou seja, a(s) fonte(s) de onde foram
retiradas as informaes da pesquisa;
Deve conter um ltimo tpico chamado Concluso, com pelo menos
um e no mximo trs pargrafos apresentando o seu entendimento
sobre o assunto;
As fontes da pesquisa devero ser os sites da internet;
Essa atividade dever ser postada como atividade no AVEA, no forma-
to de um arquivo texto.
3. Procure por equipamentos que contenham transistores, capacitores ou
circuitos integrados em sua construo e faa fotos desses circuitos. In-
sira essas fotos num blog a ser criado no AVEA. Cada foto dever estar
acompanhada de uma descrio contendo caractersticas como: equipa-
mento a que pertence (nome, funo, especicao), a idade aproxima-
da do equipamento ou ano de fabricao.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 28
e-Tec Brasil
Aula 2 Sistemas de numerao
Objetivo
Compreender o sistema de numerao utilizado pelos sistemas
computacionais.
2.1 Bases e sistemas de numerao
Desde o incio de sua existncia, o homem sentiu a necessidade de contar
objetos, fazer divises, diminuir, somar, entre outras operaes aritmticas
de que hoje se tem conhecimento. Diversas formas de contagem e represen-
tao de valores foram propostas. Podemos dizer que a forma mais utilizada
para a representao numrica a notao posicional.
Segundo Monteiro (2007), na notao posicional, os algarismos componen-
tes de um nmero assumem valores diferentes, dependendo de sua posio
relativa nele. O valor total do nmero a soma dos valores relativos de cada
algarismo. Dessa forma, dependendo do sistema de numerao adotado,
dito que a quantidade de algarismos que o compem denominada base.
Assim, a partir do conceito de notao posicional, tornou-se possvel a con-
verso entre diferentes bases.
Considerando os aspectos apresentados em relao representao num-
rica, as sees a seguir iro tratar com mais detalhes sobre cada um deles.
Destacamos que o texto que segue foi baseado na obra de Monteiro (2007).
2.1.1 Notao posicional
A notao posicional uma consequncia da utilizao dos numerais hin-
du-arbicos. Os nmeros romanos, por exemplo, no utilizam a notao
posicional. Desejando efetuar uma operao de soma ou subtrao, basta
colocar um nmero acima do outro e efetuar a operao desejada entre os
numerais, obedecendo a sua ordem. A civilizao ocidental adotou um sis-
tema de numerao que possui dez algarismos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9),
denominado de sistema decimal.
e-Tec Brasil Aula 2 Sistemas de numerao 29
A quantidade de algarismos de um dado sistema chamada de base; por-
tanto, no sistema decimal a base 10. O sistema binrio possui apenas dois
algarismos (0 e 1), sendo que sua base 2.
Exemplos:
4325
10
= 5 x 10
0
+ 2 x 10
1
+ 3 x 10
2
+ 4 x 10
3
1011
2
= 1 x 2
0
+ 1 x 2
1
+ 0 x 2
2
+ 1 x 2
3
= 1 + 2 + 0 + 8 = 11
10
3621
8
= 1 x 8
0
+ 2 x 8
1
+ 6 x 8
2
+ 3 x 8
3
= 1937
10
.
Generalizando, num sistema de numerao posicional qualquer, um nmero
N expresso da seguinte forma:
Onde:
Observaes importantes:
O nmero de algarismos diferentes em uma base igual prpria base.
Em uma base b e utilizando n ordens temos bn nmeros diferentes.
2.1.2 Converso de bases
O Quadro 2.1 mostra a equivalncia entre as bases decimal, binria, octal e
hexadecimal.
Quadro 2.1: Exemplo de converso de bases envolvendo as bases 2, 8 e 16
Decimal Binrio Hexadecimal Octal
0 0000 0 0
1 0001 1 1
2 0010 2 2
3 0011 3 3
4 0100 4 4
5 0101 5 5
6 0110 6 6
7 0111 7 7
8 1000 8 10
9 1001 9 11
(continua)
N = d
n-1
X b
n-1
+ d
n-2
X b
n-2
+ ... + d
1
X b
1
+ d
0
X b
0
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 30
Decimal Binrio Hexadecimal Octal
10 1010 A 12
11 1011 B 13
12 1100 C 14
13 1101 D 15
14 1110 E 16
15 1111 F 17
(concluso)
Fonte: Adaptado de Monteiro (2007)
2.1.2.1 Base binria para base octal ou hexadecimal
Observe que os dgitos octais e hexadecimais correspondem combinaes
de 3 (para octais) e 4 (para hexadecimais) bits (ou seja, da representao
binria disponvel na tabela de equivalncias apresentada anteriormente),
permitindo a fcil converso entre estes sistemas.
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
2
= 5735
8
}}}}
5 7 3 5
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
2
= BDD
16
}}}
B D D
2.1.2.2 Base octal ou hexadecimal para base binria
A converso inversa de octal ou hexadecimal para binrio deve ser feita a partir da
representao binria de cada algarismo do nmero, seja octal ou hexadecimal.
2.1.2.3 Base octal para base hexadecimal (e vice-versa)
A representao binria de um nmero octal idntica representao
binria de um nmero hexadecimal, a converso de um nmero octal para
hexadecimal consiste simplesmente em agrupar os bits no mais de trs em
trs (octal), mas sim de quatro em quatro bits (hexadecimal), e vice-versa.
2.1.2.4 Base B (qualquer) para base decimal
Ateno, nos exemplos de casos citados a seguir, sempre utilizamos a de-
nio de Notao Posicional:
101101
2
=
?
10
b = 2, n = 6
e-Tec Brasil Aula 2 Sistemas de numerao 31
Portanto: 1 x 2
5
+ 0 x 2
4
+ 1 x 2
3
+ 1 x 2
2
+ 0 x 2
1
+ 1 x 2
0
= 32 + 8 + 4 + 1 = 45
10
Logo: 101101
2
= 45
10
27
8
= ?
10
b = 8, n = 2
Portanto: 2 X 8
1
+ 7 X 8
0
= 23
10
Logo: 27
8
= 23
10
2A5
16
= ?
10
b = 16, n = 3
Portanto: 2 X 16
2
+ 10 X 16
1
+ 5 X 16
0
= 512 + 16
0
+ 5 = 677
10
Logo: 2A5
16
= 677
10
2.1.2.5 Base decimal para base B (qualquer)
Consiste no processo inverso, ou seja, efetuamos divises sucessivas do n-
mero decimal pela base desejada, at que o quociente seja menor que a re-
ferida base. Utilizamos os restos e o ltimo quociente (a comear dele) para
formao do nmero desejado, conforme Quadro 2.2.
Quadro 2.2: Exemplo de converso de bases envolvendo as bases 2, 8 e 16
25
10
= ?
2
3964
10
= ?
8
2754
10
= ?
16
25 : 2 = 12 (resto 1) 3964 : 8 = 495 (resto 4) 2754 : 16 = 172 (resto 2)
12 : 2 = 6 (resto 0) 495 : 8 = 61 (resto 7) 172 : 16 = 10 (resto 12)
6 :2 = 3 (resto 0) 61 : 8 = 7 (resto 5) Logo: 2754
10
= AC2
16
3: 2 = 1 (resto 1) Logo: 7574
8
Logo: 11001
2
Fonte: Elaborado pela autora
Para auxiliar no entendimento
do contedo apresentado nesta
unidade, recomenda-se: Assistir
ao vdeo: Nmeros Binrios.
Disponvel em: http://www.
youtube.com/watch?v=TJRYW-
lSocU. Acesso em: 19 jul.
2010. Assistir ao vdeo:
Sistemas de Representao
e Converso entre Bases.
Disponvel em: http://www.
youtube.com/watch?v=RQt_
s7Afg&feature=related. Acesso
em: 19 jul. 2010.
Tea um pequeno comentrio
sobre o que assistiu e poste-o
em forma de apresentao
digital no frum de nosso curso.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 32
Resumo
Esta aula nos mostrou que a converso de bases um contedo importante
e bastante utilizado quando se discutem ou se projetam ambientes compu-
tacionais.
Podemos dizer que a forma mais utilizada para a representao numrica
a notao posicional. Na notao posicional, os algarismos componentes
de um nmero assumem valores diferentes, dependendo de sua posio re-
lativa no nmero. O valor total do nmero a soma dos valores relativos de
cada algarismo. Dessa forma, dependendo do sistema de numerao adota-
do, dito que a quantidade de algarismos que o compem denominada
base. Assim, a partir do conceito de notao posicional, tornou-se possvel
a converso entre diferentes bases (MONTEIRO, 2007).
A quantidade de algarismos de um dado sistema chamada de base; por-
tanto, no sistema decimal a base 10. O sistema binrio possui apenas dois
algarismos (0 e 1), sendo que sua base 2. Da mesma forma para a base 8
(octal) e base 16 (hexadecimal). Uma tabela de converso utilizada (Quadro
2.1).
Os dgitos octais e hexadecimais correspondem a combinaes de 3 (para
octais) e 4 (para hexadecimais) bits de acordo com a tabela de converso, o
que permite a fcil converso entre estes sistemas. Uma vez que a represen-
tao binria de um nmero octal idntica representao binria de um
nmero hexadecimal, a converso de um nmero octal para hexadecimal
consiste simplesmente em agrupar os bits no mais de trs em trs (octal),
mas sim de quatro em quatro bits (hexadecimal), e vice-versa.
Para converter um nmero de uma base B qualquer para decimal, basta usar
a notao posicional. O processo contrrio obtido pela realizao de divi-
ses sucessivas do nmero decimal pela base desejada, at que o quociente
seja menor que a referida base. Utilizam-se os restos e o ltimo quociente
(a comear dele) para formao do nmero desejado.
Atividades de aprendizagem
As atividades abaixo devem ser realizadas em um documento de texto e
postadas como atividade no AVEA. Quem resolver as atividades fazendo uso
de lpis, ou caneta, poder postar um arquivo escaneado.
1. Converter os seguintes valores decimais em valores binrios e hexadecimais:
e-Tec Brasil Aula 2 Sistemas de numerao 33
a) 329
10
b) 284
10
c) 473
10
d) 69
10
e) 135
10
2. Converter os seguintes valores binrios em valores decimais, octais e
hexadecimais:
a) 11011101010
2
b) 11001101101
2
c) 1000001111
2
d) 11101100010
2
e) 111001101001
2
3. Converter os seguintes valores hexadecimais em valores decimais e binrios:
a) 3A2
16
b) 33B
16
c) 621
16
d) 99
16
e) 1ED4
16
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 34
e-Tec Brasil
Aula 3 Portas lgicas e suas funes
Objetivos
Identicar os elementos bsicos de organizao: portas lgicas e
circuitos combinacionais.
Entender o funcionamento de um circuito integrado (CI).
3.1 Funes e portas lgicas
De acordo com Monteiro (2007), um computador constitudo de elemen-
tos eletrnicos, como resistores, capacitores e principalmente transistores.
Nesses computadores, os transistores so, em geral, componentes de de-
terminados circuitos eletrnicos que precisam armazenar os sinais binrios
e realizar certos tipos de operaes com eles. Esses circuitos, chamados de
circuitos digitais, so formados por pequenos elementos capazes de ma-
nipular grandezas apenas binrias. Os pequenos elementos referidos so
conhecidos como portas (gates) lgicas, por permitirem ou no a passagem
desses sinais, e os circuitos que contm as portas lgicas so conhecidos
como circuitos lgicos.
Assim, circuitos lgicos so montados a partir da combinao de uma uni-
dade bsica construtiva denominada porta lgica, a qual obtida median-
te a combinao de transistores e dispositivos semicondutores auxiliares.
Portanto, a porta lgica a base para a construo de qualquer sistema
digital (ex.: o microprocessador).
Em geral, os circuitos lgicos so agrupados e embutidos em um Circuito In-
tegrado (CI). Esses dispositivos implementam uma determinada funo com
o objetivo de cumprir uma tarefa especca.
Portas lgicas so encontradas desde o nvel de integrao em Ultra Larga
Escala (ULSI) ou Super Larga Escala (SLSI) conforme apresentado ou discu-
tido na Aula 1 (utilizadas em microprocessadores) at o nvel de integrao
existente em circuitos digitais mais simples, desempenhando funes mais
bsicas (ex.: comparaes, somas, multiplicaes).
Semicondutores
Semicondutores: so materiais
que se encontram em uma
posio intermediria, no
sendo bons condutores e nem
bons isolantes, mas, ao serem
tratados por processos qumicos,
permitem controlar a passagem
de uma corrente eltrica.
e-Tec Brasil Aula 3 Portas lgicas e suas funes 35
Dessa forma, segundo Monteiro (2007), o projeto de circuitos digitais e a
anlise de seu comportamento em um computador podem ser realizados
por meio da aplicao de conceitos e regras estabelecidas por uma disciplina
conhecida como lgebra de Chaveamentos, a qual um ramo da lgebra
de Boole ou lgebra Booleana.
Semelhante lgebra tradicional (estudada no ensino mdio), torna-se ne-
cessrio denir smbolos matemticos e grcos para representar as opera-
es lgicas e seus operadores.
Uma operao lgica qualquer (ex.: soma ou multiplicao de dgitos bin-
rios) sempre ir resultar em dois valores possveis: 0 (falso) ou 1 (verdadeiro).
Assim, pode-se pre-denir todos os possveis resultados de uma operao
lgica, de acordo com os possveis valores de entrada. Para representar tais
possibilidades, utiliza-se de uma forma de organiz-las chamada Tabela Ver-
dade. Dessa forma, cada operao lgica possui sua prpria tabela verdade
(MONTEIRO, 2007). A seguir ser apresentado o conjunto bsico de portas
lgicas e suas respectivas tabelas verdade.
3.1.1 Porta AND
Trata-se de uma operao que aceita dois operandos ou duas entradas (A e B),
conforme mostra a Figura 3.1. Os operandos so binrios simples (0 e 1).
A
Y
B
Figura. 3.1: Porta lgica AND (E)
Fonte: Adaptada de Monteiro (2007)
Pode-se dizer que a operao AND simula uma multiplicao binria, permi-
tindo os possveis resultados conforme mostra a Tabela 3.1.
lgebra de Chaveamentos
George Boole (1815-1864)
foi um matemtico e lsofo
britnico, criador da lgebra
Booleana, base da atual
aritmtica computacional.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 36
Tabela 3.1: Tabela verdade da porta lgica AND
Entrada Sada
A B X = A.B
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Fonte: Adaptada de Monteiro (2007)
Conforme possvel observar, a regra : se o primeiro operando 1 e o segun-
do operando 1, o resultado 1 (Verdadeiro), seno o resultado 0 (Falso).
Um exemplo de aplicao de uma porta AND seria na composio de um
circuito para a transferncia de bits de dados de um local para outro (ex.: da
memria para a CPU). Nesse caso, a nalidade seria a de garantir que um bit
de origem seja o mesmo bit de destino (MONTEIRO, 2007).
3.1.2 Porta OR
Trata-se de uma operao que aceita dois operandos ou duas entradas (A e B),
conforme mostra a Figura 3.2. Os operandos so binrios simples (0 e 1).
A
Y
B
Figura. 3.2: Porta lgica OR (OU)
Fonte: Adaptada de Monteiro (2007)
Podemos dizer que a operao OR simula uma soma de binrios, permitindo
os possveis resultados conforme mostra a Tabela 3.2.
Tabela 3.2: Tabela verdade da porta lgica OR
Entrada Sada
A B X = A+B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
Fonte: Adaptada de Monteiro (2007)
e-Tec Brasil Aula 3 Portas lgicas e suas funes 37
Conforme podemos observar, a regra : se o primeiro operando 1 ou o
segundo operando 1, ou se os dois operandos forem 1, o resultado 1,
seno o resultado 0.
As operaes lgicas OR so muito utilizadas em lgica digital ou mesmo em
comandos de deciso de algumas linguagens de programao (ex.: Se (X=1
OU Y=1) Ento Executa uma ao) (MONTEIRO, 2007).
3.1.3 Porta NOT
A porta NOT representa um inversor. Essa operao aceita apenas um ope-
rando ou uma entradas (A), conforme mostra a Figura 3.3. O operando pode
ser um dgito binrio (0 ou 1).
A Y
Figura. 3.3: Porta lgica NOT (NO)
Fonte: Adaptada de Monteiro (2007)
Pode-se dizer que a operao NOT realiza a inverso de um dgito binrio,
permitindo os possveis resultados conforme mostra a Tabela 3.3.
Tabela 3.3: Tabela verdade da porta lgica NOT
Entrada Sada
A X = A
0 1
1 0
Fonte: Adaptada de Monteiro (2007)
Conforme possvel observar, a regra : se o operando for 1, o resultado
0, seno o resultado 1.
Entre as principais aplicaes dos circuitos inversores est a representao de
nmeros negativos no formato binrio, quando se usa o que chamado de
complemento a 1 ou complemento a 2, fazendo-se necessria a inverso de
um grupo de bits representativos de um nmero negativo (MONTEIRO, 2007).
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 38
3.1.4 Porta XOR
A denominao XOR a abreviao do termo EXCLUSIVE OR. Trata-se de
uma operao que aceita dois operandos ou duas entradas (A e B), confor-
me mostra a Figura 3.4. Os operandos so binrios simples (0 e 1).
A
Y
B
Figura. 3.4: Porta lgica NOT (NO)
Fonte: Adaptada de Monteiro (2007)
Pode-se dizer que a operao XOR possui como principal funo a vericao
de igualdade, permitindo os possveis resultados conforme mostra a Tabela 3.4.
Tabela 3.4: Tabela verdade da porta lgica XOR
Entrada Sada
A B X = A B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
Fonte: Adaptada de Monteiro (2007)
Conforme possvel observar, a regra : se o primeiro operando ou o segun-
do operando for igual a 1, o resultado 1; seno, o resultado 0. Ou seja,
para entradas iguais a sada ser 0 e para entradas diferentes a sada ser 1.
A porta XOR possui inmeras aplicaes, sendo um elemento lgico bastan-
te verstil, permitindo, por exemplo, a fabricao de um testador de igual-
dade entre valores, para testar, de modo rpido, se duas palavras de dados
so iguais (MONTEIRO, 2007).
3.1.5 Outras portas lgicas e circuitos
combinatrios
Existem outras portas lgicas derivadas das portas lgicas apresentadas aci-
ma, tais como as portas NAND (porta AND invertida) e a porta NOR (porta OR
invertida). Ambas so apresentadas nas Figuras 3.5 e 3.6, respectivamente.
e-Tec Brasil Aula 3 Portas lgicas e suas funes 39
A
Y
B
Figura. 3.5: Porta lgica NAND (NO E)
Fonte: Adaptadas de Monteiro (2007).
A
Y
B
Figura. 3.6: Porta lgica NOR (NO OU)
Fonte: Adaptadas de Monteiro (2007).
As operaes lgicas so realizadas em dois passos: primeiro a operao AND
ou OR e, em seguida, o seu resultado invertido. Esse tipo de portas lgicas
tambm possui diversas aplicaes, sendo utilizado para reduzir a complexidade
e a quantidade de portas lgicas necessrias a um determinado circuito lgico.
No esquea de que um circuito lgico pode possuir diversas portas
lgicas e, portanto, suas tabelas verdade podero ter inmeras entradas e
inmeras sadas (as quais podero ser representadas por suas respectivas
equaes booleanas). A Figura 3.7 mostra o resumo dos smbolos grcos e
matemticos (equao booleana) de portas lgicas.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 40
A
Y
B
A Y
A
Y
B
A
Y
B
A
Y
B
A
Y
B
AND Y = A.B
Y = A+B
Y = A B
Y = A
Y = A.B
Y = A+B
OR
XOR
NOT
NAND
NOR
Funo Lgica
Bsica
Smbolo Grco da
Porta
Equao Booleana
Figura. 3.7: Smbolos grcos e equaes booleanas de portas lgicas
Fonte: Adaptada de Monteiro (2007)
A partir das portas lgicas bsicas, possvel interligar diversas de suas uni-
dades, de modo a construir redes lgicas, tambm chamadas de circuitos
combinatrios. Monteiro (2007) explica que um circuito combinatrio de-
nido como um conjunto de portas lgicas cuja sada em qualquer instante
de tempo funo somente das entradas. O autor arma ainda que existe
outra categoria de circuitos que combina portas lgicas, denominada cir-
cuitos sequenciais, os quais, alm de possuir portas, contm elementos de
armazenamento (uma espcie de memria). A Figura 3.8 exemplica um
circuito combinatrio implementado para uma determinada funo.
e-Tec Brasil Aula 3 Portas lgicas e suas funes 41
A
0
2
4
5
6
B
C
Y
Figura. 3.8: Circuito combinatrio
Fonte: http://www.mspc.eng.br/eledig/eldg0410.shtml
Dentre os exemplos de circuitos combinatrios, destacamos o das funes
essenciais da maioria dos computadores e sistemas digitais, ou seja, a reali-
zao de operaes aritmticas tais como: adio, subtrao, multiplicao
e diviso. Essas operaes so realizadas na Unidade Lgica Aritmtica (ULA)
destes sistemas digitais, onde uma srie de portas lgicas so combinadas
para adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir nmeros binrios. No caso das
operaes de multiplicao e diviso, alm das portas lgicas, h a necessi-
dade de circuitos sequenciais.
Resumo
Nesta aula apresentamos e discutimos os elementos bsicos de construo
de circuitos digitais (ex.: microprocessador). Esses elementos so denomina-
dos portas lgicas.
As portas lgicas executam operaes sobre operadores binrios (0 e 1), po-
dendo ser aplicadas para diversas nalidades. As principais portas so: AND,
OR, NOT e XOR.
Quando agrupadas formam os chamados circuitos combinatrios que, quando
possuem uma memria acoplada, so chamados de sequenciais. Esses circuitos
digitais podem representar, por exemplo, a Unidade Lgica Aritmtica (ULA).
Para auxiliar na compreenso
do contedo desta aula,
recomenda-se:
Ler o artigo: Introduo s
Portas Lgicas. Disponvel em:
http://www.clubedohardware.
com.br/artigos/1139.
Acesso em: 19 jul. 2010.
Assistir ao vdeo: Portas
Lgicas AND, OR, XOR, NOT.
Disponvel em: http://www.
youtube.com/watch?v=4ENGYy
68JqM&feature=related.
Acesso em: 19 jul. 2010.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 42
Atividades de aprendizagem
As atividades abaixo devem ser realizadas em um documento de texto e
postadas como atividade no AVEA. Quem resolver as atividades fazendo uso
de lpis, ou caneta, poder postar um arquivo escaneado.
1. Desenhe os circuitos que implementam as seguintes expresses booleanas.
a) S = AB + CD
b) S = (ABC + CD) D
c) S = A B + (CD E)
d) S = A + (B + C D)(B + A)
2. Escreva a expresso booleana executada pelos circuitos abaixo:
a)
A
B
C
S
b) A
B
C
D
S
c)
A
B
C
D
S
e-Tec Brasil Aula 3 Portas lgicas e suas funes 43
3. Desenvolva a tabela da verdade para as seguintes expresses:
a) ABC + ABC
b) A (C + B + D)
4. Justique o estudo do contedo utilizado nos exerccios acima na disci-
plina Organizao e Arquitetura de computadores. Para isso, faa seus
comentrios no frum sobre Portas Lgicas e a Construo dos Compu-
tadores, disponvel no AVEA.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 44
e-Tec Brasil
Aula 4 Subsistema de memria
Objetivos
Analisar e compreender a organizao bsica de memria de um
computador.
4.1 Sistema de memria e suas caractersticas
De acordo com o modelo de Von Neumann (Aula 1), a funo da Unidade
Central de Processamento (UCP) ou processador , essencialmente, capturar
dados e instrues que compem um programa e process-los, no impor-
tando sua origem ou destino. Mas para que o processador possa executar os
programas, seus dados e instrues devem estar armazenados na memria.
Portanto, a memria dos computadores um elemento indispensvel e to
importante quanto a Unidade Central de Processamento (CPU) ou proces-
sador. A memria um dispositivo que permite ao computador armazenar
dados de forma temporria ou permanente. Segundo Tanenbaum (2007), a
memria a parte do computador onde os programas e os dados so ar-
mazenados. Sem uma memria na qual os processadores (CPU) possam ler
ou escrever informaes, o conceito de computador digital com programa
armazenado no pode ser implementado.
Para o funcionamento adequado de um computador, necessrio dispor,
nele mesmo, de diferentes tipos de memria. Em algumas tarefas, pode ser
fundamental que a transferncia de dados seja feita da forma mais rpida
possvel o caso das tarefas realizadas pela CPU, onde a velocidade fator
preponderante, ao passo que a quantidade de bits a ser manipulada muito
pequena. Esse tipo de memria deve possuir caractersticas diferentes da-
quele em que a capacidade de armazenamento mais importante que a sua
velocidade de transferncia de e para outros dispositivos. Destacamos que
a necessidade da existncia de vrios tipos de memria ocorre em virtude
de vrios fatores concorrentes, mas principalmente em funo do aumento
da velocidade das CPUs (a qual muito maior do que o tempo de acesso da
memria) e da capacidade de armazenamento.
e-Tec Brasil Aula 4 Subsistema de memria 45
Se existisse apenas um tipo de memria, sua velocidade deveria ser compa-
tvel com a da CPU, de modo que esta no casse esperando muito tempo
por um dado que estivesse sendo transferido. Segundo Patterson e Han-
nessy (2000), a CPU manipula um dado em 5 ns, ao passo que a memria
transfere um dado em 60 ns.
Considerando os diversos tipos de memrias existentes, as quais variam em
funo de sua tecnologia de fabricao, capacidade de armazenamento,
velocidade e custo, pode-se dizer que ca muito difcil projetar um computa-
dor utilizando-se apenas um nico tipo de memria. Dessa forma, segundo
Monteiro (2007), o computador possui muitas memrias, as quais se encon-
tram interligadas de forma bem estruturada, constituindo o que chamado
de subsistema de memria, o qual parte do sistema computacional.
O subsistema de memria projetado de modo que seus componentes se-
jam organizados hierarquicamente. A Figura 4.1 apresenta uma pirmide
contendo a hierarquia das memrias existentes em um computador. Obser-
va-se que a base da pirmide larga, simbolizando a elevada capacidade de
armazenamento, o tempo de uso, a velocidade e o custo de sua tecnologia
de fabricao. Assim, a base da pirmide representa dispositivos de armaze-
namento de massa (memria secundria), de baixo custo por byte armaze-
nado, mas ao mesmo tempo com baixa velocidade de acesso. A echa na
direo do topo indica que quanto mais rpidas forem as memrias, mais
elevado ser o seu custo em relao tecnologia e menor a sua capacidade
de armazenamento em um computador.
Registrador
Memria cache
Memria principal
(RAM e ROM)
Memria secundria ou de massa
(disco rgido, CD/DVD, pen-drive)
Alto custo
Alta velocidade
Baixa capacidade
de armazenamento
Baixo custo
Baixa velocidade
Alta capacidade
de armazenamento
Figura 4.1: Hierarquia de memrias
Fonte: Adaptado de Monteiro (2007)
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 46
O Quadro 4.1 apresenta as caractersticas bsicas de cada tipo de memria,
a seguir.
Quadro 4.1: Caractersticas bsicas dos tipos de memria
Localizao Voltil? Velocidade
Capacidade de
armazenamento
Custo por
bit
Registrador Processador Sim
Muito alta
(opera na
velocidade do
processador)
Muito baixa (Bytes) Muito alto
Cache Processador Sim
Alta (opera na
velocidade do
processador)
Baixa (KB) Alto
Principal Placa-me
RAM sim
ROM no
Depende
do tipo de
memria
instalada
Mdia (MB)
Mdio (tem
cado muito)
Secundria HD, CDs, etc. No Baixa (lenta) Alta (GB)
Baixo (tem
cado muito)
Fonte: Adaptada de Murdocca (2000)
A seguir apresentamos de forma detalhada cada um dos tipos de memria
apresentados na Figura 4.1.
4.2 Registradores
A funo da memria a de armazenar dados destinados a serem, em al-
gum momento, utilizados pelo processador (MONTEIRO, 2007). O processa-
dor busca dados e instrues de onde estiverem armazenadas e os deposita
temporariamente em seu interior para que possa realizar as operaes solici-
tadas utilizando seus demais componentes (seria anlogo funo memria
de uma calculadora). Os dispositivos denominados registradores so os lo-
cais onde esse contedo ca armazenado.
Assim, o conceito de registrador surgiu da necessidade do processador de
armazenar temporariamente dados intermedirios durante um processa-
mento. Por exemplo, quando um dado resultado de operao precisa ser
armazenado at que o resultado de uma busca da memria esteja disponvel
para com ele realizar uma nova operao.
Os registradores so dispositivos de armazenamento temporrio (voltil), lo-
calizados no interior do processador (CPU). Por causa da tecnologia utilizada,
os registradores so um tipo de memria extremamente rpida e bastan-
te cara. Por esse motivo, sua disponibilidade em um computador muito
Memrias volteis
Memrias volteis: so as que
requerem energia para manter
a informao armazenada, ao
contrrio das memrias
permanentes.
Placa-me
Placa-me: trata-se de uma placa
de circuito impresso, que serve
como base para a instalao
dos demais componentes de um
computador, como o processador,
a memria RAM, os circuitos de
apoio, as placas controladoras, os
slots, entre outros.
e-Tec Brasil Aula 4 Subsistema de memria 47
limitada. Cada registrador possui capacidade para manter apenas um dado
(uma palavra).
Em resumo, os registradores, conforme mostra a Figura 4.1, cam no topo
da pirmide, o que representa que sua velocidade de transferncia de dados
dentro do processador bastante elevada; em consequncia disso, sua ca-
pacidade e armazenamento baixa e seu custo alto.
4.3 Memria cache
Considerando a premissa de que o processador precisa buscar dados e ins-
trues em uma memria externa denominada memria principal, a qual
ser apresentada na seo a seguir para process-los e, considerando que
a tecnologia desenvolvida para os processadores fez com que se esses dis-
positivos sejam bem mais rpidos que a memria principal, surgiu a neces-
sidade de diminuir esse atraso gerado pela transferncia de dados entre a
memria e o processador.
Na busca de solues para a limitao imposta pela comunicao entre
processador e memria, foi desenvolvida uma tcnica que consiste na in-
cluso de um dispositivo de memria entre a memria principal e o proces-
sador. Esse dispositivo denominado memria cache. Sua funo principal
acelerar a velocidade de transferncia das informaes entre processador
e memria principal e, com isso, aumentar o desempenho dos sistemas de
computao. As memrias cache so volteis, assim como os registrado-
res, pois dependem de energia para manter o seu contedo armazenado.
A Figura 4.2 apresenta um diagrama de blocos de um processador Pen-
tium original, a distribuio da memria cache e sua relao com a memria
principal (MONTEIRO, 2007).
Processador
PENTIUM
cache interna L1
16KB
dados
16KB
cdigo
cache externa L2
SRAM - 512KB
memria principal
DRAM 64 MB
Figura 4.2: Memria cache no Pentium
Fonte: http://www.letronet.com.br/psist/ppesq/ppesqlivcap/ppesqpc/ppesqpcd5/tppc5/pc5-11.jpg
palavra
De forma genrica o termo
palavra um grupo de bits de
tamanho xo que processado
em conjunto em um computador.
O nmero de bits em uma
palavra (comprimento da
palavra) uma caracterstica
importante de uma arquitetura
de computador. A maioria dos
registradores em um computador
possui o tamanho da palavra.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 48
Assim, a memria cache um tipo de memria construda com tecnologias
semelhantes s do processador, isso eleva os custos de produo. Para ame-
nizar o fator custo e dispor das vantagens de um sistema computacional
com desempenho mais rpido, foram incorporadas ao computador peque-
nas pores de memria cache, localizadas internamente ao processador e
entre ele e a memria principal, as quais funcionam como um espelho de
parte da memria principal.
Nesse caso, quando o processador solicita um determinado dado e o encon-
tra na cache, no h necessidade de requisit-lo memria principal, redu-
zindo signicativamente o tempo de processamento. Ou seja, quanto mais
memria cache um processador possuir, melhor ser o seu desempenho.
A tecnologia de fabricao da memria cache SRAM (Static Random Ac-
cess Memory), a qual bastante diferente das memrias DRAM (Dynamic
Random Access Memory) tecnologia da memria principal. A diferena
que nas memrias SRAM no h necessidade de refresh ou realimentao
constante para que os dados armazenados no sejam perdidos. Isso pos-
svel porque as memrias SRAM se utilizam de seis transistores (ou quatro
transistores e dois resistores) para formar uma clula de memria. Assim, o
refresh passa a no ser necessrio, o que faz com que esse tipo de memria
seja mais rpida e consuma menos energia.
De acordo com Alecrim (2010), os processadores trabalham, basicamente,
com dois tipos de cache: cache L1 (Level 1 ou Nvel 1) e cache L2 (Level 2 ou
Nvel 2). Normalmente a cache L2 um pouco maior que a L1 e foi implan-
tada quando a cache L1 se mostrou insuciente.
Nas geraes anteriores, a cache L1 cava localizada no interior do proces-
sador e a cache L2 era externa a ele. Nas geraes de computadores atuais,
ambos os tipos cam localizados dentro do chip do processador, sendo que,
em muitos casos, a cache L1 dividida em duas partes: L1 para dados e
L1 para instrues. Alecrim (2010) destaca, ainda, que dependendo da
arquitetura do processador, possvel o surgimento de modelos que tenham
um terceiro nvel de cache (L3).
4.4 Memria principal
um tipo de memria indispensvel para o funcionamento do computador,
qual o processador pode fazer acesso direto. Alm de alocar os dados e
e-Tec Brasil Aula 4 Subsistema de memria 49
instrues de programas a serem manipulados pelo processador, esse tipo
de memria d acesso s memrias secundrias, de forma a disponibilizar
dados ao processador.
A memria principal denominada memria RAM (Random Access Me-
mory), corresponde a um tipo de memria voltil, ou seja, seu contedo
ca armazenado enquanto o computador estiver ligado (energizado); ao
desligar a corrente eltrica, o contedo da memria RAM apagado. Esse
o motivo pelo qual muitas pessoas perdem arquivos que esto utilizando
quando ocorrem fatos como, por exemplo, algum esbarrar no cabo ligado
tomada de energia eltrica ou mesmo cessar o fornecimento de energia.
Isso acontece porque ao ocorrerem tais fatos, o arquivo ainda no havia sido
salvo em algum tipo de memria permanente (ex.: o disco do computador).
A Figura 4.3 apresenta um pente (mdulo) de memria RAM tpico.
Figura 4.3: Pente de memria RAM
Fonte: http://barreiras.olx.com.br/memoria-ram-ddr-400-1gb-iid-39138709
A memria RAM denominada genericamente de DRAM (Dynamic RAM),
ou RAM dinmica, pelo fato de possuir uma caracterstica chamada refres-
camento de memria, que tem a nalidade de manter os dados armazena-
dos enquanto o computador estiver ligado. Essa denominao est ligada
tecnologia utilizada na fabricao desse tipo de memria, a qual se baseia na
utilizao de dispositivos semicondutores, mais especicamente capacitores
associados a transistores para representar bits de dados armazenados. Pode-
mos dizer que so necessrios um transistor e um capacitor para representar
uma clula de memria.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 50
Pelo fato de precisarem ser refrescadas ou realimentadas constantemente,
as memrias DRAM consomem muitos ciclos do processador para a realimen-
tao, alm de consumirem mais energia que outros tipos de memria Por isso,
so mais lentas e possuem custo muito menor e capacidade de armazenamen-
to de dados consideravelmente maior que as memrias estticas (ex.: cache).
Atualmente, podemos contar com muitas opes de padres de memria RAM,
devido busca constante por uma memria de maior capacidade, maior velo-
cidade de acesso, menor consumo de energia e de tempo de realimentao.
Apresentamos alguns padres de memria RAM disponveis mais utilizados
atualmente:
a) DDR (Double Data Rate): duplicam o desempenho da memria, possi-
bilitando a transferncia de dois lotes de dados entre processador e
memria por ciclo de clock.DDR-2: possibilitam a transferncia de qua-
tro lotes de dados por ciclo de clock e apresentam menor consumo de
energia que a DDR original.
b) DDR-3: transferem oito lotes de dados por ciclo de clock e consomem
ainda menos energia que sua verso anterior.
A memria RAM comercializada para uso nos computadores no formato
de pentes ou mdulos de memria, contendo uma determinada quantida-
de desses recursos. Os pentes de memria podem variar de acordo com
as caractersticas apresentadas pela memria, especialmente ligadas ao de-
sempenho ou velocidade de transferncia. Sendo assim, existem diferentes
modelos de mdulos de memria disponveis no mercado. Dentre os que so
utilizados atualmente, podem-se citar:
a) Mdulos SIMM (Single In Line Memory Module): apresentam um peque-
no orifcio nas linhas de contato. Foram utilizados em memrias FPM e
EDO RAM. No se encontram disponveis no mercado atualmente;
b) Mdulos DIMM (Double In Line Memory Module): no apresentam orif-
cios nas linhas de contato e apresentam contatos em ambos os lados do
mdulo. So utilizados atualmente em memrias DDR, DDR2 e DDR3. A
Figura 4.4 apresenta exemplos de mdulos DIMM.
Ciclo de clock
Ciclo de clock: o tempo que o
processador leva para executar
uma operao elementar (ex.:
buscar ou transferir um dado da
ou para a memria principal).
e-Tec Brasil Aula 4 Subsistema de memria 51
Figura 4.4: Mdulos DIMM
Fonte http://www.gdhpress.com.br/hmc/leia/cap3-4_html_64f84747.jpg
4.4.1 Organizao da memria principal
Como a memria principal o local onde os dados e as instrues de um
programa cam armazenados para serem utilizados pelo processador duran-
te a sua execuo, preciso car claro que esse contedo precisa estar orga-
nizado em uma estrutura padro que permita a identicao do local onde
esto armazenados cada um dos seus itens (ex.: uma instruo ou um dado).
Assim, a memria principal encontra-se organizada em um conjunto de clu-
las, sendo que cada uma delas representa o agrupamento de uma quantida-
de de bits. Cada clula caracteriza uma unidade de armazenamento na me-
mria e possui um endereo nico, o qual utilizado pelo processador para
acessar seu contedo. Portanto, a clula a menor unidade enderevel em
um computador. Monteiro (2007) complementa essa explicao armando
que cada clula constituda de um conjunto de circuitos eletrnicos, base-
ados em semicondutores, que permitem o armazenamento de valores 0 ou
1, os quais representam um dado ou uma instruo.
A quantidade de bits que pode ser armazenada em uma clula denida
pelo fabricante. Uma clula contendo N bits permite o armazenamento de
2
N
combinaes de valores, o que representar a quantidade de clulas pos-
sveis na memria. Um tamanho comum de clula adotado pelos fabricantes
8 bits (1 byte).
Se for possvel armazenar em uma memria de 2
N
combinaes possveis de c-
lulas (cada uma delas contendo dados armazenados), ento ser possvel calcu-
lar a capacidade de armazenamento da memria principal, da seguinte forma:
a) se N = 9 bits, tem-se que 2
9
= 512 (clulas de memria);
b) se cada clula pode armazenar 8 bits, tem-se que: 512 x 8 = 4KB (4 quilo
byte) de espao em memria.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 52
O acesso a cada posio (clula) de memria pode ser feito de modo alea-
trio, proporcionando grande exibilidade, graas sua tecnologia de fabri-
cao. So duas as operaes que podem ser realizadas em uma memria:
escrita (write) para o armazenamento de dados na memria e leitura
(read) para a recuperao de dados e instrues armazenados na memria.
Pesquisem em sites da internet por especicaes de computadores que
contenham cada um dos tipos de memria apresentados acima. Se possvel,
copie a gura que representa o equipamento e, logo em seguida, apresente
suas caractersticas (nome, modelo, ano de fabricao, tipo de memria que
possui e quantidade). Esse contedo deve ser postado em um blog a ser
criado no AVEA.
O termo palavra tambm utilizado ao se tratar de memria de um com-
putador, mas no deve ser confundido com clula, pois palavra utilizada
para denir a unidade de transferncia e processamento e o nmero de
bits que podem ser transferidos entre a memria principal e a CPU para
processamento. Acerca desse tema, Monteiro (2007) arma que a memria
principal deve ser organizada em um conjunto sequencial de palavras, cada
uma diretamente acessvel pelo processador.
4.4.2 Memria ROM
A memria ROM (Read Only Memory) tambm considerada uma memria
principal, mas apresenta algumas diferenas em relao memria RAM. A
primeira delas o fato de ser uma memria somente de leitura, ou seja, seu
contedo escrito uma vez e no mais alterado, apenas consultado. Outra
caracterstica das memrias ROM que elas so do tipo no volteis, isto , os
dados gravados no so perdidos na ausncia de energia eltrica ao dispositivo.
dito que um software que armazenado em uma memria ROM passa
a ser chamado de rmware. Em um computador existem diversos software
desse tipo disponveis em memrias ROM, pois no podem ser apagados ao
desligar o computador e devem car disponveis sempre que for necessrio.
Dessa forma, as memrias ROM so aplicadas em um computador para ar-
mazenar trs programas principais (TORRES, 2010):
a) BIOS (Basic Input Output System): ou Sistema Bsico de Entrada e Sada,
responsvel por ensinar o processador da mquina a operar com os
dispositivos bsicos de entrada e sada;
e-Tec Brasil Aula 4 Subsistema de memria 53
b) POST (Power On Self Test): Autoteste programa de vericao e teste
que se executa aps a ligao do computador, realizando diversas aes
sobre o hardware (ex.: contagem de memria);
c) SETUP: Programa que altera os parmetros armazenados na memria de
congurao (CMOS).
De acordo com Alecrim (2010), as memrias ROM podem ser classicadas em:
a) PROM (Programmable Read-Only Memory): este um dos primeiros tipos
de memria ROM. A gravao de dados neste tipo realizada por meio
de aparelhos que trabalham atravs de uma reao fsica com elementos
eltricos. Uma vez que isso ocorre, os dados gravados na memria PROM
no podem ser apagados ou alterados;
b) EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory): as memrias
EPROM tm como principal caracterstica a capacidade de permitir que
dados sejam regravados no dispositivo. Isso feito com o auxlio de um
componente que emite luz ultravioleta. Nesse processo, os dados grava-
dos precisam ser apagados por completo. Somente aps esse procedi-
mento uma nova gravao pode ser realizada;
c) EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory): este
tipo de memria ROM tambm permite a regravao de dados; no en-
tanto, ao contrrio do que acontece com as memrias EPROM, os pro-
cessos para apagar e gravar dados so feitos eletricamente, fazendo com
que no seja necessrio mover o dispositivo de seu lugar para um apare-
lho especial para que a regravao ocorra;
d) EAROM (Electrically-Alterable Programmable Read-Only Memory): as me-
mrias EAROM podem ser vistas como um tipo de EEPROM. Sua principal
caracterstica o fato de que os dados gravados podem ser alterados aos
poucos, razo pela qual esse tipo geralmente utilizado em aplicaes
que exigem apenas reescrita parcial de informaes;
e) Flash: as memrias Flash tambm podem ser vistas como um tipo de EE-
PROM; no entanto, o processo de gravao (e regravao) muito mais rpi-
do. Alm disso, memrias Flash so mais durveis e podem guardar um vo-
lume elevado de dados. Trata-se do tipo de memria utilizada em pen-drive;
f) CD-ROM, DVD-ROM e ans: essa uma categoria de discos pticos onde
os dados so gravados apenas uma vez, seja de fbrica, como os CDs
de msicas, ou com dados prprios do usurio, quando este efetua a
gravao. H tambm uma categoria que pode ser comparada ao tipo
EEPROM, pois permite a regravao de dados: CD-RW e DVD-RW e ans.
CMOS
CMOS: Uma abreviao
de Complementary Metal
Oxide Semiconductor. uma
tecnologia de construo de
circuitos integrados. CMOS
uma pequena rea de memria
voltil, alimentada por uma
bateria, que usada para gravar
as conguraes do setup na
placa-me.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 54
4.5 Memria secundria
A memria secundria tambm denominada de memria de massa, por
possuir uma capacidade de armazenamento muito superior das outras
memrias conforme discutido neste tpico. Outra caracterstica que difere a
memria secundria das outras memrias o fato de ser permanente (no
voltil), ou seja, no perde o contedo armazenado caso o computador seja
desligado. Por estar na base da pirmide (Figura 4.1), apresenta o menor
custo por byte armazenado.
Este tipo de memria no possui acesso direto pelo processador, sempre
havendo a necessidade de carregamento de dados dos dispositivos de me-
mria secundria para a memria principal, para que ento sejam enviados
ao processador.
Monte um arquivo com imagens de memrias secundrias, seguidas da des-
crio de caractersticas de cada uma delas (marca, modelo, capacidade de
armazenamento, valor aproximado, aspectos de velocidade (ex.: rpm, taxa
de transferncia). Esse arquivo dever ser postado como atividade no AVEA.
De acordo com Monteiro (2007), a memria secundria pode ser constituda
por diferentes tipos dispositivos, alguns diretamente ligados ao sistema para
acesso imediato (ex.: discos rgidos) e outros que podem ser conectados
quando desejado (ex.: pen-drive, CD/DVD).
Em relao tecnologia de fabricao, existe uma variedade muito grande
de tipos, assim como a variedade de dispositivos que se enquadra nessa ca-
tegoria de memria. Para cada dispositivo, existem diferentes tecnologias de
fabricao, no sendo possvel abordar todas nessa seo.
Resumo
Nesta aula discutimos o subsistema de memria de um sistema computacio-
nal, caracterizando os diferentes tipos de memrias disponveis.
Nesse sentido, foram abordadas as memrias permanentes ou no volteis
e as volteis.
As do primeiro tipo mantm o contedo armazenado mesmo na ausn-
cia de energia, sendo elas: memria secundria (ex.: disco rgido, CD/DVD,
pen-drive) e a memria primria do tipo ROM (Read Only Memory).
Leia o artigo: Memrias,
disponvel em:
http://www.gdhpress.com.
br/hardware/leia/index.
php?p=cap4-1.
Acesso em: 19 jul. 2010
e-Tec Brasil Aula 4 Subsistema de memria 55
As do segundo tipo apagam o contedo armazenado caso o computador
seja desligado, ou seja, quando cessar o fornecimento de energia. Enqua-
dram-se nessa categoria: os registradores, as memrias cache e a memria
principal do tipo RAM.
Atividades de aprendizagem
Responda s questes a seguir sobre o contedo desta aula. As questes a,
b, c e d devem ser respondidas em um documento de texto e postadas como
atividade no AVEA. J as questes e e f devero ser respondidas e comentadas
no frum sobre Memrias de um computador, tambm disponvel no AVEA.
a) Quais so os dois tipos principais de memria? Explique.
b) O que so memrias volteis e no volteis? Exemplique.
c) Qual a funo da memria RAM (memria principal) no computador?
possvel que um computador funcione utilizando-se apenas dos demais
tipos de memria? Explique.
d) O que diferencia uma memria que se utiliza da tecnologia DRAM de
outra que se utiliza da SRAM?
e) Faa uma anlise dos diversos tipos de memria em relao aos fatores
velocidade e custo.
f) Conceitue memria cache e fale da atuao dela no desempenho do
computador.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 56
e-Tec Brasil
Aula 5 O Processador: organizao
e arquitetura
e-Tec Brasil Aula 5 O Processador: organizao e arquitetura 57
Objetivos
Analisar a organizao bsica do processador.
Analisar e compreender a organizao de microprocessadores atuais.
Compreender o funcionamento interno e a execuo de instrues
em baixo nvel.
5.1 Organizao do processador
Na Aula 1 estudamos os componentes bsicos da arquitetura de um
computador, segundo o modelo de Von Neumann, cuja proposta vale a pena
relembrar no incio desta seo, a qual ir tratar especicamente de um dos
elementos dessa arquitetura: o processador. A proposta de Von Neumann
para a construo de um computador previa que:
a) Codicasse instrues que pudessem ser armazenadas na memria e
sugeriu que se usassem cadeias de uns e zeros (binrio) para codic-lo;
b) Armazenasse na memria as instrues e todas as informaes que
fossem necessrias para a execuo da tarefa desejada;
c) Ao processar o programa, as instrues fossem buscadas diretamente
na memria.
A Unidade Central de Processamento (UCP) responsvel pelo processamento
e execuo de programas armazenados na memria principal, buscando suas
instrues, examinando-as e, ento, executando uma aps a outra. Cabe
lembrar que sempre que houver referencias sigla UCP, est se fazendo
referncia ao processador do computador.
A UCP composta por vrias partes distintas, entre elas: registradores,
Unidade de Controle (UC) e Unidade Lgica Aritmtica (ULA).
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 58
A UCP pode ser dividida em duas categorias funcionais, as quais podem ser
chamadas de unidade, conforme segue: Unidade Funcional de Controle e
Unidade Funcional de Processamento. A Figura 5.1 apresenta um diagrama
funcional bsico da UCP, o qual mostra os elementos essenciais para o seu
funcionamento em azul os componentes da Unidade Funcional de Controle
e em amarelo claro os elementos da Unidade Funcional de Processamento.
Diagrama Funcional da UCP
ACC
REGs
UAL
RDM
REM
CI
RI
DECODIF.
INSTRUES
UC
CLOCK
Unidade de Controle
Memria
Principal
Barramento
de dados
Barramento
de Endereos
B
a
r
r
a
m
e
n
t
o
I
n
t
e
r
n
o
Unidade Aritmtica e Lgica
Figura 5.1: Diagrama funcional da CPU
Fonte: http://wwwusers.rdc.puc-rio.br/rmano/comp8ucp.html
A Unidade Funcional de Processamento composta pelos seguintes
elementos: Registradores, ACC, ULA. A Unidade Funcional de Controle
composta pelos seguintes elementos: RDM, REM, CI, RI, Decodicador de
Instrues, UC, Clock (relgio).
e-Tec Brasil Aula 5 O Processador: organizao e arquitetura 59
Os componentes do processador so interligados por meio de um barramento,
que consiste em um conjunto de os paralelos que permitem a transmisso
de dados, endereos e sinais de controle entre a UCP, memria e dispositivos
de entrada e sada. Existem barramentos externos ao processador, cuja
funo conect-lo memria e aos dispositivos de entrada/sada, alm dos
barramentos internos UCP.
A seguir apresentamos de forma detalhada cada um dos elementos que
compem as unidades funcionais da UCP, conforme citados acima.
5.2 Unidade funcional de processamento
O processamento de dados a ao de manipular um ou mais valores (dados)
em certa sequncia de aes, de modo a produzir um resultado til. Para o
autor, processar dados a nalidade do sistema computacional e consiste
em executar uma ao, com os dados, que produza algum tipo de resultado.
Algumas das tarefas mais comuns da funo processamento so: operaes
aritmticas (somar, subtrair, multiplicar, dividir); operaes lgicas (AND, OR,
XOR, entre outras) e movimentao de dados entre a UCP e a memria e
vice-versa, entre outras (MONTEIRO, 2007).
A seguir sero apresentados os dispositivos que compem a Unidade
Funcional de Processamento (ULA) e registradores, os quais esto em
destaque na Figura 5.2.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 60
Diagrama Funcional da UCP
ACC
REGs
UAL
RDM
REM
CI
RI
DECODIF.
INSTRUES
UC
CLOCK
Unidade de Controle
Memria
Principal
Barramento
de dados
Barramento
de Endereos
B
a
r
r
a
m
e
n
t
o
I
n
t
e
r
n
o
Unidade Aritmtica e Lgica
Figura 5.2: Diagrama funcional da CPU componentes de processamento
Fonte: http://wwwusers.rdc.puc-rio.br/rmano/comp8ucp.html
5.2.1 Unidade lgica e aritmtica (ULA)
A funo efetiva deste dispositivo a execuo das instrues dos programas
que se encontram armazenadas na memria. Ao chegarem UCP, essas
instrues so interpretadas e traduzidas em operaes matemticas a
serem executadas pela ULA.
Podemos dizer que a ULA um aglomerado de circuitos lgicos e
componentes eletrnicos simples que, integrados, realizam as operaes
aritmticas e lgicas. So exemplos de operaes executadas pela ULA:
soma, multiplicao, operaes lgicas (AND, OR, NOT, XOR, entre outras),
incremento, decremento e operao de complemento.
e-Tec Brasil Aula 5 O Processador: organizao e arquitetura 61
BIU
A
L
U
L(1)
A
L
U
L(2)
F
P
U
Registradores
CACHE para dados
Barramento
externo
Barramento
interno
CACHE para instrues B
T
B
Figura 5.3: Arquitetura bsico da UCP do Pentium original
Fonte: Monteiro (2007)
A ULA uma pequena parte do circuito integrado da CPU, utilizada em
pequenos sistemas, ou pode compreender um considervel conjunto de
componentes lgicos de alta velocidade. De acordo com Monteiro (2007),
isso pode ser constatado em processadores mais modernos, os quais utilizam
em sua arquitetura mais de uma ULA, de modo a tornar a execuo das
instrues mais rpida. Por exemplo: os processadores Pentium possuem trs
ULAs, duas delas para processamento de nmeros inteiros e a terceira para
nmeros fracionrios, conforme apresenta a Figura 5.3.
5.2.2 Registradores
So elementos de armazenamento temporrio, localizados na UCP, os
quais so extremamente rpidos por causa da sua tecnologia de fabricao
(conforme apresentado na Aula 4). Assim, as UCPs so fabricadas com certa
quantidade de registradores destinados ao armazenamento de dados que
esto sendo utilizados durante o processamento e, portanto, servem de
memria auxiliar bsica da ULA.
A quantidade e o emprego dos registradores variam bastante de modelo
para modelo de processador. Devido sua tecnologia de construo e por
estarem localizados no interior da UCP, so muito caros e, por isso, disponveis
em quantidade limitada.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 62
Os sistemas mais antigos possuam um registrador especial chamado
acumulador ou ACC (de accumulator), o qual, alm de armazenar dados,
servia de elemento de ligao entre a ULA e os demais dispositivos da UCP
(MONTEIRO, 2007). Nos computadores mais simples encontrado apenas
um acumulador, conforme apresentado na Figura 5.2. Em arquiteturas mais
complexas, vrios registradores podem desempenhar as funes de um
acumulador, alm de haver diversos registradores de dados de uso geral.
Outro fator importante relacionado aos registradores o tamanho da palavra,
a qual est vinculada ao projeto de fabricao da UCP, correspondendo
ao tamanho dos elementos ligados rea de processamento, a ULA e os
registradores de dados. A capacidade de processamento de uma UCP, ou seja,
sua velocidade, bastante inuenciada pelo tamanho da palavra. Atualmente
h computadores referenciados como tendo uma arquitetura de 32 bits ou
uma arquitetura de 64 bits, o que corresponde ao tamanho de sua palavra.
Pesquise na internet sobre do nmero de ULAs utilizadas nos processadores
atuais bem como sobre o tamanho da palavra de um computador (UCP).
Procure anotar dados relativos a esses aspectos e faa a postagem deles no
frum sobre Projeto de UCP ULA e registradores disponvel no AVEA.
Observe as postagens dos colegas e faa comentrios a respeito.
5.3 Unidade funcional de controle
Conforme apresentado no incio desta aula, a Unidade Central de
Processamento (UCP) responsvel pelo processamento e execuo
de programas armazenados na memria principal, sendo que a ULA o
elemento da UCP responsvel pela execuo das operaes solicitadas.
Dessa forma, a Unidade Funcional de Controle responsvel pela realizao
das seguintes atividades (MONTEIRO, 2007):
a) busca da instruo que ser executada, armazenando-a em um
registrador da UCP;
b) interpretao das instrues a m de saber quais operaes devero ser
executadas pela ULA (ex.: soma, subtrao, comparao) e como realiz-las;
c) gerao de sinais de controle apropriados para a ativao das atividades
necessrias execuo propriamente dita da instruo identicada. Esses
sinais de controle so enviados aos diversos componentes do sistema,
e-Tec Brasil Aula 5 O Processador: organizao e arquitetura 63
sejam eles internos UCP (ex.: a ULA) ou externos (ex.: memria e dispo-
sitivos de entrada e sada).
A seguir apresentamos os dispositivos que compem a Unidade Funcional
de Controle RDM, REM, CI, RI, Decodicador de Instrues, UC, Clock, os
quais esto em destaque na Figura 5.4.
Diagrama Funcional da UCP
ACC
REGs
UAL
RDM
REM
CI
RI
DECODIF.
INSTRUES
UC
CLOCK
Unidade de Controle
Memria
Principal
Barramento
de dados
Barramento
de Endereos
B
a
r
r
a
m
e
n
t
o
I
n
t
e
r
n
o
Unidade Aritmtica e Lgica
Figura 5.4: Diagrama funcional da CPU componentes de controle
Fonte: http://wwwusers.rdc.puc-rio.br/rmano/comp8ucp.html
5.3.1 Registrador de dados de memria (RDM) e
de endereos de memria (REM)
O RDM, tambm chamado de MBR (Memory Buffer Register), um
registrador que armazena temporariamente dados (contedo de uma ou
mais clulas) que esto sendo transferidos da memria principal para a UCP
(em uma operao de leitura) ou da UCP para a memria principal (em uma
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 64
operao de escrita). Em seguida, o referido dado reencaminhado para
outro elemento da UCP para processamento ou para uma clula da memria
principal, se for um resultado de um processamento. A quantidade de bits
que pode ser armazenada no RDM a mesma quantidade suportada pelo
barramento de dados.
O REM, tambm chamado de MAR (Memory Address Register), um
registrador que armazena temporariamente o endereo de acesso a uma
posio de memria, necessrio ao se iniciar uma operao de leitura ou de
escrita. Em seguida, o referido endereo encaminhado controladora da
memria, principal identicao e localizao da clula desejada. Permite
armazenar a mesma quantidade de bits do barramento de endereo.
5.3.2 Contador de instrues (CI)
Este registrador tambm denominado de Program Counter (PC) ou
contador de programa. De acordo com Tanenbaum (2007), o CI cujo valor
aponta para a prxima instruo a ser buscada da memria a ser executada
no processador. De acordo com Monteiro (2007), to logo a instruo que
vai ser executada seja buscada da memria principal para a CPU, o sistema
automaticamente efetiva a modicao do contedo do CI de modo que ele
passe a armazenar o endereo da prxima instruo na sequncia. Assim, o
CI um registrador crucial para o processo de controle e de sequenciamento
da execuo dos programas.
5.3.3 Registrador de instrues (RI)
Este registrador tem a funo de armazenar a instruo a ser executada
pela UCP. Ao se iniciar um ciclo de instruo (MONTEIRO, 2007), a UC emite
sinais de controle em sequncia no tempo, de modo que se processe a
realizao de um ciclo de leitura para buscar a instruo na memria. Ao
nal do ciclo de leitura a instruo desejada ser armazenada no RI, via
barramento de dados e RDM. A Figura 5.5 mostra o RI ligado diretamente
ao decodicador de instrues, o qual ir interpretar a instruo e avisar
Unidade de Controle (UC).
5.3.4 Decodicador de instrues
Cada instruo uma ordem para que a UCP realize uma determinada
operao. Como so muitas instrues, necessrio que cada uma possua
uma identicao prpria e nica, e funo do decodicador de instruo
identicar que operao ser realizada, correlacionada instruo cujo
cdigo de operao foi decodicado. Assim, o RI ir passar ao decodicador
uma sequncia de bits representando uma instruo a ser executada.
e-Tec Brasil Aula 5 O Processador: organizao e arquitetura 65
E - entrada S - sada
S
0
a E
15
Sinais
de controle
E
0
a E
3
Registrador
de instruo
Decodicador
UC
Figura 5.5: Diagrama em bloco da decodicao em uma UCP
Fonte: Adaptado de Monteiro (2007)
Um decodicador possui 2
n
sadas, sendo n a quantidade de algarismos
binrios do valor de entrada. A Figura 5.5 mostra um diagrama em blocos do
processo de decodicao na UCP, no qual o RI passa um cdigo de instruo
ao decodicador de tamanho de 4 bits, que decodicado (interpretado) e
encaminhado UC para que ela emita os sinais de controle para os demais
elementos da UCP.
O componente decodicador foi incorporado UCP com o advento das
mquinas CISC (Complex Instruction Set Computer) e trata-se de uma
categoria de arquitetura de processadores que favorece um conjunto simples
e pequeno de instrues de mquinas. Uma instruo de mquina uma
operao bsica que o hardware realiza diretamente. Este assunto ser
discutido em mais detalhes nas sees subsequentes.
5.3.5 Registrador de instrues (RI)
Esses registradores tm como funo controlar a execuo das instrues e
os demais componentes da UCP. Dispositivo que possui a lgica necessria
para realizar a movimentao de dados e de instrues da/para a CPU,
atravs de sinais de controle que emite em instantes de tempo programados.
Os sinais de controle ocorrem em vrios instantes durante o perodo de re-
alizao de um ciclo de instruo e, de modo geral, todos possuem uma
durao xa e igual, originada em um gerador de sinais denominado relgio
(clock).
5.3.6 Relgio (clock)
Monteiro (2007) dene este dispositivo como um gerador de pulsos, cuja
durao chamada de ciclo, e a quantidade de vezes que esse pulso bsico se
repete em um segundo dene a unidade de medida do relgio, denominada
frequncia, a qual tambm usada para denir a velocidade na CPU.
A unidade de medida utilizada para a frequncia do relgio da UCP o hertz
(Hz), que signica um ciclo por segundo.
Ciclo de instruo:
o perodo de tempo no qual a
UCP l e processa uma instruo
armazenada na memria, ou
ainda, pode ser denido pela
sequncia de aes que a UCP
realiza para executar cada
instruo de um programa.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 66
A cada pulso realizada uma operao elementar, durante o ciclo de uma
instruo (ex.: busca de dados, envio da instruo para o RI, sinal de controle).
Como os computadores atuais apresentam frequncias bastante elevadas,
utiliza-se a medida de milhes de ciclos por segundo (mega-hertz MHz) ou
bilhes de ciclos por segundo (giga-hertz GHz).
5.3.7 Barramentos
Os diversos componentes de um computador se comunicam atravs de
barramentos, os quais se caracterizam como um conjunto de condutores
eltricos que interligam os diversos componentes do computador e de
circuitos eletrnicos que controlam o uxo dos bits. O barramento conduz
de modo sincronizado o uxo de informaes (dados e instrues, endereos
e controles) de um componente para outro ao longo da placa-me. O
barramento organiza o trfego de informaes observando as necessidades
de recursos e as limitaes de tempo de cada componente, de forma que
no ocorram colises, ou mesmo, algum componente deixe de ser atendido
(MONTEIRO, 2007).
O barramento de um sistema computacional, denominado barramento
do sistema, o caminho por onde trafegam todas as informaes dentro
do computador. Esse barramento formado basicamente por trs vias
especcas: barramento de dados, barramento de endereos e barramento
de controle, conforme mostra a Figura 5.6.
B
a
r
r
a
m
e
n
t
o
d
o
S
i
s
t
e
m
a
Barramento de Dados
Barramento de Endereos
Barramento de Controle
CPU MP E/S
Figura 5.6: Barramento do sistema
Fonte:Adaptada de Murdocca (2000)
e-Tec Brasil Aula 5 O Processador: organizao e arquitetura 67
a) Barramento de dados
Este barramento interliga o RDM (localizado na UCP) memria principal,
para transferncia de instrues ou dados a serem executados. bidirecional,
isto , ora os sinais percorrem o barramento vindo da UCP para a memria
principal (operao de escrita), ora percorrem o caminho inverso (operao
de leitura). Possui inuncia direta no desempenho do sistema, pois,
quanto maior a sua largura, maior o nmero de bits (dados) transferidos por
vez e consequentemente mais rapidamente esses dados chegaro ao seu
destino (UCP ou memria).
Os primeiros computadores pessoais (ex.: PC-XT) possuam barramento de
dados de oito vias, ou seja, capaz de transferir oito bits por vez. Atualmente,
conforme a arquitetura do processador, podem existir barramento de dados
de 32, 64 ou 128 bits.
b) Barramento de endereos
Interliga o REM (localizado na UCP) memria principal, para transferncia
dos bits que representam um determinado endereo de memria onde se
localiza uma instruo ou dado a ser executado. unidirecional, visto que
somente a UCP aciona a memria principal para a realizao de operaes
de leitura ou escrita. Possui tantas vias de transmisso quantos so os bits
que representam o valor de um endereo.
Seguindo o exemplo anterior, no antigo PC-XT, este barramento possua 20
linhas: com isso era possvel utilizar endereos de no mximo 20 bits. Logo,
o maior endereo possvel, ser:
2
20
= 1.048.576 Bytes = 1 MB
Dessa forma, a capacidade de armazenamento da memria RAM poder
ser de no mximo 1MB. possvel armar que o tamanho do barramento
de endereos determina a quantidade mxima de armazenamento de dados
que a memria principal pode dispor. Atualmente, os barramentos dispem
de signicativa capacidade de armazenamento (ex.: 32,64, 128 bits),
possibilitando grandes espaos para armazenamento na memria.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 68
c) Barramento de controle
Interliga a UCP, mais especicamente a Unidade de Controle (UC), aos demais
componentes do sistema computacional (memria principal, componentes
de entrada e de sada) para passagem de sinais de controle gerados pelo
sistema. So exemplos de sinais de controle: leitura e escrita de dados na
memria principal, leitura e escrita de componentes de entrada e sada,
certicao de transferncia de dados o dispositivo acusa o trmino da
transferncia para a UCP, pedido de interrupo, relgio (clock) por onde
passam os pulsos de sincronizao dos eventos durante o funcionamento do
sistema (MONTEIRO, 2007).
bidirecional, porque a UCP, por exemplo, pode enviar sinais de controle
para a memria principal, como um sinal indicador de que deseja uma
operao de leitura ou de escrita, e a memria principal pode enviar sinais
do tipo wait (espere), para a UCP aguardar o trmino de uma operao.
Os barramentos compartilham suas vias de comunicao (normalmente os
de cobre) entre diversos componentes neles conectados como mostra a
Figura 5.6. Nesse caso, somente permitida a passagem de um conjunto de
bits de cada vez e, por esse motivo, o controle do barramento torna-se um
processo essencial para o funcionamento adequado do sistema.
De acordo com Monteiro (2007), no modelo apresentado na Figura 5.6, h
um nico barramento de dados, endereos e controle interconectando todos
os componentes do computador. Isso se justica pela grande diferena de
caractersticas dos diversos componentes existentes, principalmente perifricos
(ex.: a velocidade de uma transferncia de dados de um teclado muitas vezes
menor que a velocidade de transferncia de dados de um disco magntico).
Considerando esse fato, os projetistas de sistemas de computao criaram
diversos tipos de barramento, apresentando taxas de transferncia de bits
diferentes e apropriadas s velocidades dos componentes interconectados
(ex.: UCP, memria, disco rgido, teclado). Nesse caso h uma hierarquia em
que os barramentos so organizados e, de acordo com Monteiro (2007),
atualmente os modelos de organizao de sistemas de computao adota-
dos pelos fabricantes possuem diferentes tipos de barramentos:
a) Barramento local: possui maior velocidade de transferncia de dados,
funcionando normalmente na mesma frequncia do relgio do proces-
Interrupo:
um aviso gerado UCP
comunicando que um dispositivo
deseja realizar uma operao
(ex.: leitura de dados de um
pen-drive, transferncia de dados
do disco rgido para a memria,
chegada de um pacote de dados
da rede).
e-Tec Brasil Aula 5 O Processador: organizao e arquitetura 69
sador. Este barramento costuma interligar o processador aos dispositivos
de maior velocidade (visando no atrasar as operaes do processador):
memria cache e memria principal;
b) Barramento do sistema: podemos dizer que se trata de um barramento
opcional, adotado por alguns fabricantes, fazendo com que o barramento
local faa a ligao entre o processador e a memria cache e esta se
interligue com os mdulos de memria principal (RAM) atravs do
chamado barramento do sistema, de modo a no permitir acesso direto
do processador memria principal. Um circuito integrado denominado
ponte (chipset) sincroniza o aceso entre as memrias;
c) Barramento de expanso: tambm chamado de barramento de entrada e
de sada (E/S), responsvel por interligar os diversos dispositivos de E/S
aos demais componentes do computador, tais como: monitor de vdeo,
impressoras, CD/DVD, etc. Tambm se utiliza de uma ponte para se
conectar ao barramento do sistema; as pontes sincronizam as diferentes
velocidades dos barramentos.
Considerando a acentuada diferena de velocidade apresentadas pelos diversos
dispositivos de E/S existentes atualmente, a indstria de computadores tem
desenvolvido alternativas visando maximizar o desempenho nas transferncias
de dados entre dispositivos (ex.: entre disco e memria principal). A alternativa
encontrada foi separar o barramento de expanso (ou de E/S) em dois, sendo
um de alta velocidade para dispositivos mais rpidos (ex.: redes, placas grcas)
e outro de menor velocidade para dispositivos mais lentos (ex.: teclado,
modems, mouse). A Figura 5.7 apresenta este conceito (MONTEIRO, 2007).
Chipset:
um conjunto de circuitos
integrados ou chips, que so
projetados para trabalhar em
conjunto, sendo considerados
circuitos de apoio na placa-me
para controlar a interconexo
entre os seus componentes.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 70
UCP
Memria principal
Barramento do Sistema
Barramento
local
Ponte
Ponte
Barramento de E/S de alta velocidade (PCI ou AGP)
Barramento de E/S Convencional (ISA)
Vdeo SCSI Rede
Modem Teclado Mouse
Ponte
Cache
Figura 5.7: Exemplo de barramento de maior desempenho usado atualmente
Fonte: Monteiro (2007)
No importa o tipo de barramento, um fator importante que inuencia no
desempenho do sistema computacional a largura (tamanho) do barra-
mento, que diz respeito quantidade de informaes (no formato de bits)
que podero ser transmitidas simultaneamente por ele. Podemos dizer que
a quantidade de os ou de vias que um barramento apresenta que vai
caracterizar sua largura.
Quando se fala em quantidade de bits que podem trafegar em um barramento,
fala-se em taxa de transferncia, que revela a medida dessa quantidade, a qual
especicada em bits por segundo (normalmente K bits, M bits, etc.).
Conforme discutido anteriormente, cada um dos barramentos permite o seu
compartilhamento com os demais componentes do sistema, especialmente
o barramento de expanso, que compartilhado com diversos dispositivos
de entrada e sada. Para que isso ocorra, indispensvel um mecanismo
de controle de acesso baseado em regras, que garanta que quando um
dos dispositivos estiver utilizando o barramento, os demais componentes
devero aguardar a sua liberao.
Esse mecanismo de controle de acesso denominado protocolo. Isso faz
com que um barramento no seja composto somente de os condutores,
mas tambm de um protocolo (MONTEIRO, 2007).
e-Tec Brasil Aula 5 O Processador: organizao e arquitetura 71
Os fabricantes de computadores tm procurado uma padronizao na
denio de protocolos, de forma a evitar que cada um crie o seu prprio,
com caractersticas diferentes dos demais, o que tornaria muito inexvel
o uso de certos componentes (ex.: vdeo, impressoras, discos rgidos)
disponibilizados no mercado. Nesse cenrio, no importa o fabricante do
componente nem suas caractersticas fsicas, desde que ele esteja de acordo
com os padres de protocolos denidos pela indstria de computadores.
Sendo assim, muitos padres de barramento de expanso foram desenvolvidos
ao longo do tempo, alguns deles j no mais utilizados. Os mais populares
so apresentados a seguir, conforme Monteiro (2007):
a) ISA (Industry Standard Adapter): desenvolvido pela IBM. Apresenta uma
taxa de transferncia baixa, mas apesar disso, foi adotado por toda a
indstria. Os sistemas atuais no mais o empregaram;
b) PCI (Peripheral Component Interconnect): desenvolvido pela Intel,
tornando-se quase um padro para todo o mercado, como barramento
de alta velocidade. Permite transferncia de dados em 32 ou 64 bits a
velocidades de 33 MHz e de 66 MHz. Cada controlador permite cerca de
quatro dispositivos;
c) USB (Universal Serial Bus): tem a caracterstica particular de permitir a
conexo de muitos perifricos simultaneamente (pode conectar at
127 dispositivos em um barramento por meio de uma espcie de
centralizador) ao barramento; este, por uma nica porta (conector),
conecta-se placa-me. Grande parte dos dispositivos USB desenvolvida
com a caracterstica de eles serem conectados ao computador e utilizados
logo em seguida, o que chamado de plug-and-play;
d) AGP (Accelerated Graphics Port): barramento desenvolvido por vrios
fabricantes, porm liderados pela Intel, com o objetivo de acelerar
as transferncias de dados do vdeo para a memria principal,
especialmente dados em 3D (terceira dimenso), muito utilizados em
aplicativos grcos (ex.: jogos);
e) PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express): esse barra-
mento foi construdo por um grupo de empresas denominado PCI-SIG
(Peripheral Component Interconnect Special Interest Group), composto
por empresas como a Intel, AMD, IBM, HP e Microsoft. Este barramento
Barramentos: ISA, AGP, PCI,
PCI Express, AMR e outros.
Disponvel em: http://www.
infowester.com/barramentos.
php. Acesso em: 19 jul. 2010.
Tecnologia USB (Universal
Serial Bus). Disponvel em:
http://www.infowester.com/usb.
php. Acesso em: 19 jul. 2010.
Tecnologia PCI Express.
Disponvel em: http://www.
infowester.com/pciexpress.php.
Acesso em: 19 jul. 2010
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 72
veio para atender s demandas por mais velocidade gerada por novos
chips grcos e tecnologias de rede apresentando altas taxas de transfe-
rncia. Assim, o PCI e o AGP foram substitudos pelo PCI Express. Nesse
barramento, a conexo entre dois dispositivos ocorre de modo ponto a
ponto (exclusivo) comunicao serial. Por esse motivo, o PCI Express
no considerado um barramento propriamente dito (considerando que
barramento um caminho de dados onde voc pode ligar vrios dispo-
sitivos ao mesmo tempo, compartilhando-o). Essa caracterstica que o
faz ser o meio de comunicao entre dois dispositivos de um computador
mais rpido atualmente. At o momento existiram trs verses desse
barramento (1.0 lanado em 2004; 2.0 lanado em 2007; e o 3.0
lanado em 2010).
Cada barramento possui um protocolo padro que utilizado pela indstria
de computadores para a fabricao de todos os dispositivos de entrada e
sada a serem conectados nos diferentes tipos de barramento. Dessa forma,
foram desenvolvidos os chamados slots. Um slot nada mais do que um
orifcio ou um encaixe padronizado inserido na placa-me dos computadores
de maneira que os diversos dispositivos possam ser encaixados, desde que
atendam a um dos padres disponveis nela. Assim, nas Figuras 5.8, 5.9
e 5.10 so apresentados alguns slots correspondentes aos padres de
barramentos de expanso listados acima.
Figura 5.8: Slot de barramento PCI
Fonte: http--www.gdhpress.com.br-hmc-leia-cap4-6_html_m1d0275e6.jpg
e-Tec Brasil Aula 5 O Processador: organizao e arquitetura 73
Figura 5.9: Slot AGP 8x
Fonte: http--www.ixbt.com-video2-images-agp-express-ecs2.jpg
Figura 5.10: Slots PCI Express 16x (branco) e 4x (preto)
Fonte: http://www.hwupgrade.it/articoli/skmadri/1087/via-k8t890-preview-pci-express-per-athlon-64_4.html
Nesse caso, a principal diferena entre os diversos tipos de barramentos est
na quantidade de bits que podem ser transmitidos por vez e na frequncia
de operao utilizada. Os barramentos AGP e PCI Express so considerados
os mais rpidos, seguidos pelo barramento PCI original, sendo esses os bar-
ramentos mais utilizados em computadores atualmente.
5.4 Instrues de mquina
O termo instruo de mquina j foi mencionado em itens anteriores, mas
sem uma explicao efetiva do que realmente signica. Foi demonstrado que
a UCP responsvel pela execuo de instrues e dados de programas, os
quais que se encontram armazenados na memria. Alm disso, foi colocado
que uma instruo uma ordem para que a UCP realize determinada
operao (ex.: somar, subtrair, mover um dado de um local para outro,
transferir um dado para um dispositivo de sada).
Realize uma pesquisa em
sites da internet acerca de
computadores e os respectivos
barramentos disponveis em
sua arquitetura, destacando
qual o modelo de computador,
quais barramentos ele contm
e quais as caractersticas
desses barramentos (taxa de
transmisso, perifricos que so
acoplados a eles, entre outros).
Essa pesquisa dever ser postada
como atividade no AVEA, no
formato de um documento de
texto.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 74
Segundo Monteiro (2007), uma mquina pode executar tarefas complicadas
e sucessivas se for instruda sobre o que fazer e em que sequncia isso deve
ser feito. Os seres humanos, ao receberem uma instruo (ex.: trazer a pasta
da funcionria Ana), precisaram realizar uma srie de aes intermedirias, at
que a tarefa seja realizada por completo. Ento, considerando esse exemplo,
seria necessrio: localizar o arquivo em que as pastas de todos os funcionrios
esto arquivadas; localizar a pasta da funcionria Ana, traz-la a quem solicitou.
Da mesma forma, para a mquina (computador) necessrio que cada ins-
truo seja detalhada em pequenas etapas. Isso ocorre porque os computa-
dores so projetados para entender e executar pequenas operaes, ou seja,
as operaes mais bsicas (ex.: soma, subtrao). Essas pequenas etapas de
uma instruo dependem do conjunto de instrues do computador.
Assim, uma instruo de mquina pode ser denida pela formalizao de uma
operao bsica que o hardware capaz de realizar diretamente (MONTEIRO,
2007). Em outras palavras, consiste em transformar instrues mais complexas
em uma sequncia de instrues bsicas e compreensveis pelo processador.
Para exemplicar, vamos considerar um processador com uma ULA capaz de
executar a soma ou a multiplicao de dois nmeros (operaes bsicas), mas
no as duas coisas ao mesmo tempo. Agora imaginem que esse processador
precisa executar: X = A + B*C de uma s vez. Isso ir gerar a necessidade de
transformar essa instruo, considerada complexa para esse processador, em
uma sequncia de instrues mais bsicas, da seguinte forma:
Executar primeiro: T = B*C (sendo que T um registrador ou memria
temporria)
Em seguida realizar a operao: X = A + T
O projeto de um processador centrado no conjunto de instrues de mquina
que se deseja que ele execute, ou seja, do conjunto de operaes primitivas
que ele poder executar. Quanto menor e mais simples for o conjunto de
instrues, mais rpido o ciclo de tempo do processador (MONTEIRO, 2007).
Um processador precisa dispor de instrues para: movimentao de dados;
aritmticas; lgicas; edio; deslocamento; manipulao de registros de
ndice; desvio; modicao de memria; formais de ligao sub-rotina;
manipulao de pilha; entrada e sada e de controle.
e-Tec Brasil Aula 5 O Processador: organizao e arquitetura 75
Atualmente, h duas tecnologias de projeto de processadores empregadas
pelos fabricantes de computadores (MONTEIRO, 2007):
Sistemas com conjunto de instrues complexo (Complex Instruction
Set Computers CISC), e
Sistemas com conjunto de instrues reduzido (Reduced Instruction
Set Computers RISC).
Ambas as tecnologias sero abordadas em sees subsequentes.
5.4.1 Formato das instrues
De acordo com Monteiro (2007), uma instruo formada basicamente por
dois campos:
a) Cdigo de operao (Opcode): um subgrupo de bits que identica a ope-
rao a ser realizada pelo processador. o campo da instruo cujo valor
binrio identica a operao a ser realizada, conforme exemplo da Figura
5.11. Esse valor a entrada no Decodicador de Instrues na Unidade de
Controle. Cada instruo dever ter um cdigo nico que a identique.
Codigo de Operao Operando
ADD
01011
Figura 5.11: Cdigo de operao de uma instruo
Fonte: Adaptado de Monteiro (2007)
b) Operando: um subgrupo de bits que identica o endereo de memria
onde est contido o dado que ser manipulado, ou pode conter o
endereo onde o resultado da operao ser armazenado (Figura 5.12).
Codigo de Operao Operando
ADD
01011
a, b
0110001000110110
a = a + b
Figura 5.12: Operando de uma instruo
Fonte: Adaptado de Monteiro (2007)
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 76
6.4.2 Ciclo de instruo
A partir da proposta da arquitetura de Von Neumann, da qual os conceitos
bsicos ainda so vlidos, propunha-se que as instrues fossem executadas
sequencialmente (a no ser pela ocorrncia de um desvio), uma a uma. O
contador de instrues indica a sequncia de execuo, isto , o CI controla
o fluxo de execuo das instrues. A seguir (Figura 5.13) ilustrado o ciclo
de execuo de uma instruo. Em seguida, descrita em mais detalhes
cada uma das fases.
Fases 1 e 2:
busca da instruo
Fase 3:
busca do dado
Fase 4:
Execuo da instruo
Incio
Buscar a Prxima
instruo
Interpretar a
Inst. (decodicar)
Buscar os
Dados
Executar a
instruo
Trmino
Figura 5.13: Ciclo de instruo
Fonte: http://wwwusers.rdc.puc-rio.br/rmano/comp8ucp.html
6.4.2.1 Fase 1
A UCP busca o cdigo de operao (Opcode) na memria principal, o qual
est localizado no endereo contido no CI (endereo da prxima instruo
a ser executada) e armazena-o no Registrador de Instruo (RI): RI (CI)
Micro-operaes da fase 1:
a) a UC l o contedo do CI (endereo da prxima instruo) e coloca o
endereo no REM;
b) a UC envia um sinal via barramento de controle controladora da
memria principal para que realize uma operao de leitura;
e-Tec Brasil Aula 5 O Processador: organizao e arquitetura 77
c) a memria principal l o endereo que est no REM via barramento de
endereo e busca o contedo da clula referenciada;
d) a memria principal coloca no RDM via barramento de dados o
contedo da clula;
e) a controladora da memria principal envia UC via barramento de
controle o sinal de leitura concluda;
f) a UC transfere o cdigo de operao (contedo que est no RDM) ao RI.
6.4.2.2 Fase 2
O Decodicador de Instruo decodica (interpreta) o Cdigo de Operao
(Opcode) contido no RI.
Micro-operaes da fase 2:
a) o RI envia para o decodicador de instruo os bits correspondentes ao
Opcode;
b) o Decodicador de Instrues determina quantas clulas a instruo
ocupa e identica a operao a ser realizada;
c) a UC envia um sinal de controle ULA informando a operao a ser
realizada e incrementa o CI para apontar para a prxima instruo:
CI (CI+N), onde, N = n de clulas que a prxima instruo ocupa.
6.4.2.3 Fase 3
A UC busca (se houver) o(s) dado(s) (Operandos): RI (Op)
Micro-operaes da fase 3:
a) a UC envia um sinal via barramento de controle controladora da
memria principal para que realize uma operao de leitura;
b) a memria principal l o endereo que est no REM via barramento de
endereos e busca o contedo da clula referenciada;
c) a memria coloca no RDM via barramento de dados o contedo da
clula lida;
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 78
d) a memria principal envia UC via barramento de controle um sinal
de leitura concluda;
e) a UC transfere o operando (contedo do RDM) ao RI (se for um cdigo de
operao) ou a um dos registradores internos da UCP (se for um dado).
Obs.: Esta fase se repete at que sejam trazidos para dentro da UCP todos os
operandos necessrios execuo da instruo.
6.4.2.4 Fase 4
A UC comanda a execuo da instruo (a operao executada sobre o(s)
dado(s));
Micro-operaes da fase 4:
a) a ULA executa a instruo sobre os dados disponveis nos registradores;
b) ao concluir a operao, a ULA envia um sinal para a UC informando que
a execuo terminou;
c) a UC identica o endereo de memria para onde deve ser enviado o
resultado da operao e o armazena no REM;
d) a UC autoriza o envio do resultado da operao para o RDM;
e) a UC autoriza a controladora de memria a realizar uma operao de leitura
no REM para obter o endereo de memria onde dever ser escrito o resul-
tado e uma leitura no RDM para obter o resultado a ser escrito na memria.
6.4.2.5 Fase 5
Se o programa tiver terminado, pra; seno, volta Fase 1.
5.5 Arquiteturas RISC e CISC
At o momento foram apresentadas algumas caractersticas das instrues de
mquina, destacando que arquitetura de um processador est fortemente rela-
cionada com o seu conjunto de instrues e que um processador sempre estar
preparado para processar instrues bsicas (ex.: soma, subtrao, comparao).
A presena de outros tipos de instrues depende da orientao da arquite-
Esquema Geral de
Funcionamento do Processador.
Disponvel em: http://sca.
unioeste-foz.br/~grupob2/00/
esq-geral.htm
Processadores RISC x
Processadores CISC.
Disponvel em: http://www.
guiadohardware.net/artigos/
risc-cisc. Acesso em 19 jun.
2010.
e-Tec Brasil Aula 5 O Processador: organizao e arquitetura 79
tura (Complex Instruction Set Computer CISC ou Reduced Instruction Set
Computer RISC) e se est voltada para aplicaes gerais ou especcas.
Resumo
Nesta aula discutimos a organizao e arquitetura do processador (UCP), com
destaque para o modelo de Von Neumann, o qual previa que o computador
deveria: codicar instrues que pudessem ser armazenadas na memria, e
que utilizassem cadeias de uns e zeros (binrio) para codic-las, armazenar
na memria as instrues e todas as informaes que fossem necessrias
para a execuo da tarefa desejada e, ao processarem o programa, as
instrues fossem buscadas diretamente na memria.
Vimos tambm que a Unidade Central de Processamento (UCP) composta
por vrias partes distintas, entre elas: registradores, Unidade de Controle (UC) e
Unidade Lgica Aritmtica (ULA). A UCP pode ser dividida em duas categorias
funcionais, as quais podem ser chamadas de unidade, conforme segue: Unidade
Funcional de Controle e a Unidade Funcional de Processamento.
A Unidade Funcional de Processamento composta pelos seguintes elemen-
tos: Registradores, ACC, ULA. A Unidade Funcional de Controle composta
pelos seguintes elementos: RDM, REM, CI, RI, Decodicador de Instrues,
UC, Clock (relgio).
Foi apresentado um tpico especco acerca de barramentos, em que foi
mostrado o conceito de Monteiro (2007), que entende ser um conjunto de
condutores eltricos que interligam os diversos componentes do computa-
dor e de circuitos eletrnicos que controlam o uxo dos bits.
O barramento de um sistema computacional, denominado barramento do
sistema, o caminho por onde trafegam todas as informaes dentro do
computador. Esse barramento formado basicamente por trs vias especcas/
funes bsicas: barramento de dados interliga o RDM (localizado na
UCP) memria principal, para transferncia de instrues ou dados a
serem executados; barramento de endereos interliga o REM (localizado
na UCP) memria principal, para transferncia dos bits que representam
um determinado endereo de memria onde se localiza uma instruo ou
dado a ser executado e; barramento de controle interliga a UCP, mais
especicamente a Unidade de Controle (UC) aos demais componentes do
sistema computacional (memria principal, componentes de entrada e de
sada) para passagem de sinais de controle gerados pelo sistema.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 80
De acordo com Monteiro (2007), existe uma grande diferena de caracte-
rsticas dos diversos componentes existentes em um computador, principal-
mente perifricos (ex.: a velocidade de uma transferncia de dados de um
teclado muitas vezes menor que a velocidade de transferncia de dados de
um disco magntico). Considerando esse fato, os projetistas de sistemas de
computao criaram diversos tipos de barramento, apresentando taxas de
transferncia de bits diferentes e apropriadas s velocidades dos componen-
tes interconectados (ex.: UCP, memria, disco rgido, teclado). Assim, atu-
almente os modelos de organizao de sistemas de computao adotados
pelos fabricantes possuem diferentes tipos de barramento: barramento local
barramento de maior velocidade de transferncia de dados, interligando
basicamente a UCP memria principal; barramento de sistema trata-se
de um barramento opcional, adotado por alguns fabricantes, fazendo com
que o barramento local faa a ligao entre o processador e a memria ca-
che e esta se interligue com os mdulos de memria principal (RAM) atravs
dele; e barramento de expanso (ou de entrada e sada) responsvel por
interligar os diversos dispositivos de entrada e sada aos demais componen-
tes do computador.
Os barramentos permitem o seu compartilhamento com os demais compo-
nentes do sistema, especialmente o barramento de expanso, que com-
partilhado com diversos dispositivos de entrada e sada. Para que isso ocorra,
indispensvel um mecanismo de controle de acesso baseado em regras,
que garanta que quando um dos dispositivos estiver utilizando o barramen-
to, os demais componentes devero aguardar a sua liberao. Esse mecanis-
mo de controle de acesso denominado protocolo, fazendo com que um
barramento no seja composto somente de os condutores, mas tambm
de um protocolo. Sendo assim, os fabricantes de computadores tm procu-
rado criar uma padronizao na denio de protocolos, de forma a evitar
que cada um crie o seu prprio, com caractersticas diferentes dos demais,
o que tornaria muito inexvel o uso de certos componentes (ex.: vdeo, im-
pressoras, discos rgidos) disponibilizados no mercado. Dessa forma, muitos
padres de barramento de expanso foram desenvolvidos ao longo do tem-
po, alguns deles j no mais utilizados. Os mais populares so apresentados
a seguir, conforme Monteiro (2007): PCI, USB, AGP, PCI Express. Cada um
desses barramentos apresenta um slot ou encaixe especco na placa-me
do computador, permitindo maior exibilidade no uso de perifricos.
Foi mostrado que a UCP responsvel pela execuo de instrues e dados
de programas, os quais que se encontram armazenados na memria e que
e-Tec Brasil Aula 5 O Processador: organizao e arquitetura 81
uma instruo uma ordem para que a UCP realize determinada operao
(ex.: somar, subtrair, mover um dado de um local para outro, transferir um
dado para um dispositivo de sada).
Monteiro (2007) arma ainda que o projeto de um processador e centrado
no conjunto de instrues de mquina que se deseja que ele execute, ou
seja, do conjunto de operaes primitivas que ele poder executar. Quanto
menor e mais simples for o conjunto de instrues, mais rpido o ciclo de
tempo do processador.
Basicamente podemos concluir que um processador precisa dispor de instrues
para: movimentao de dados; aritmticas; lgicas; edio; deslocamento; ma-
nipulao de registros de ndice; desvio; modicao de memria; formais de
ligao sub-rotina; manipulao de pilha; entrada e sada e de controle.
Atualmente, h duas tecnologias de projeto de processadores empregadas
pelos fabricantes de computadores (MONTEIRO, 2007): processadores com
um conjunto de instrues complexo (Complex Instruction Set Computers
CISC) e processadores com um conjunto de instrues reduzido (Reduced
Instruction Set Computers RISC).
Ao considerar o formato de uma instruo, pode-se dizer que ela compos-
ta por: um cdigo de operao ( o campo da instruo cujo valor binrio
identica a operao a ser realizada) e um operando (identica o endereo
de memria onde est contido o dado que ser manipulado, ou pode conter
o endereo onde o resultado da operao ser armazenado).
O ciclo de uma instruo no processador composto basicamente das se-
guintes etapas: busca da prxima instruo, interpretao (decodicao da
instruo), busca de dados e execuo da instruo.
Atividades de aprendizagem
Os itens b e e da Questo 1 devem ser respondidos e comentados no
frum Arquitetura da UCP, disponvel no AVEA. Os demais itens da Ques-
to 1 e as demais questes devem ser respondidos em um arquivo texto e
postados como atividade no AVEA.
1. Responda os questionamentos abaixo em relao arquitetura dos pro-
cessadores (UCP):
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 82
a) Qual era a proposta de Von Neumann para construo de computadores?
Qual a inuncia do seu modelo na arquitetura dos computadores atuais?
b) Qual seria o gargalo (limitao) do modelo de Von Neumann em relao
ao desempenho do computador? De que forma essa limitao poderia
ser resolvida ou pelo menos minimizada?
c) A UCP dividida em duas unidades funcionais principais. Como so cha-
madas tais unidades? Comente-as.
d) Qual e em qual unidade funcional se localiza o registrador cujo contedo
controla a sequncia de processamento de instrues de um programa?
e) O que voc entende por dados e instrues utilizados pela UCP para
realizar suas operaes?
f) Desenhe o uxograma do ciclo bsico de instrues e explique-o.
2. Em relao arquitetura dos processadores (UCP), assinale as opes
abaixo com V (verdadeiro) ou F (falso):
( ) O componente responsvel por coordenar e gerenciar toda a atividade
de um processador a Unidade Lgica e Aritmtica (ULA).
( ) O registrador cujo contedo controla a sequncia de processamento de
instrues de um programa denominado Registrador de Instrues (RI).
( ) Uma instruo representa uma ordem para que o processador realize
uma determinada operao.
( ) As fases que compem o ciclo bsico de uma instruo so: buscar
a prxima instruo, interpretar a instruo (decodicar), buscar os dados,
executar a instruo.
( ) funo da Unidade de Controle (UC) identicar que operao ser rea-
lizada, correlacionada instruo cujo cdigo de operao foi interpretado.
( ) Clock ou relgio um gerador de pulsos cuja durao chamada de
frequncia e a quantidade de vezes que esse pulso bsico se repete em um
segundo denominada velocidade.
e-Tec Brasil Aula 5 O Processador: organizao e arquitetura 83
( ) A Unidade Lgica e Aritmtica (ULA) um aglomerado de circuitos lgi-
cos e componentes eletrnicos simples que, integrados, realizam as opera-
es aritmticas e lgicas.
3. Em relao aos barramentos do sistema computacional, analise as op-
es abaixo:
I. O barramento consiste em um conjunto de condutores eltricos em um
computador que permite a comunicao entre vrios componentes do
computador, tais como: CPU, memria, dispositivos de I/O.
II. O barramento local conecta o processador memria RAM. Esse barra-
mento constitudo de barramento de dados e de endereos.
III. O barramento de Entrada e Sada conecta perifricos (ex.: vdeo, impres-
soras, som).
IV. Entre as limitaes para a velocidade do barramento, est a necessidade
de suportar uma faixa de dispositivos com velocidades muito semelhan-
tes e taxas de transferncia de dados muito diferentes.
Em relao s opes listadas acima, assinale a alternativa que corresponde
a(s) opo(es) correta(s):
( ) Somente a II est correta.
( ) I e II esto corretas.
( ) I e III esto corretas.
( ) II e IV esto corretas.
e-Tec Brasil
Aula 6 Representao de dados
e-Tec Brasil Aula 6 Representao de dados 85
Objetivos
Conhecer a representao de dados no formato interno dos sistemas
computacionais.
6.1 Introduo
Um computador funciona por meio da execuo sistemtica de instrues
que o orientam a realizar algum tipo de operao sobre valores (numri-
cos, alfanumricos ou lgicos). Esses valores so genericamente conhecidos
como dados (MONTEIRO, 2007).
Os dados so convertidos internamente em um cdigo de armazenamento
no formato binrio. Para compreender melhor, pode-se considerar o exem-
plo a seguir:
Para o valor decimal 143
00110001 (algarismo 1)
00110111 (algarismo 4)
00110011 (algarismo 3)
Qualquer que tenha sido a linguagem de programao utilizada para es-
crever o programa, ela dever ser convertida para cdigo-objeto (cdigo
binrio) e, em seguida, para o cdigo executvel (conjunto de cdigos de
mquina), o qual gerado pelo compilador da linguagem), conforme a
Figura 6.1. Essa converso tambm inclui dados, que devero ser alterados
de modo a estarem em uma forma apropriada para utilizao pela ULA (ex.:
nmeros inteiros ou fracionrios). Por exemplo, para efetivar uma soma, a
ULA executa, passo a passo, uma srie de micro-operaes (um algoritmo):
vericar o sinal dos nmeros, vericar o tipo do nmero, etc.
Cdigos de mquina
conjunto de instrues que seu
processador capaz de executar
(conforme descrito na seo 5.4)
Compilador
um programa de sistema que
traduz um programa descrito
em uma linguagem de alto nvel
para um programa equivalente
em cdigo de mquina para um
processador.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 86
If (x>1) then
.....
end
0001101110100010
Traduzidas por programas
Notaes
Simblicas
Nmeros
Binrios
Figura 6.1: Processo de converso
Fonte: Elaborada pela autora
6.2 Formas de representao
As diferentes formas de representao e respectivos algoritmos de realizao
das operaes matemticas so muito teis, pois cada uma tem uma apli-
cao mais vantajosa que a outra. Cabe ao programador a escolha da for-
ma a ser utilizada pelo sistema, podendo ser explcita ou implcita. Explcita,
quando o programador dene as variveis e constantes em seu programa.
Implcita, quando deixado para que o compilador faa a escolha.
6.3 Tipos de dados
Denem para o sistema como cada dado dever ser manipulado, pois con-
forme citado anteriormente, cada tipo de dado recebe um tratamento dife-
renciado pelo processador.
Exemplo:
VAR X:=INTEGER;
VAR X:=REAL;
Os termos INTEGER e REAL so interpretados de modo diferente, acarretan-
do alteraes signicativas tanto no modo de organizar os bits que represen-
tam um nmero quanto na sequncia de etapas do algoritmo de execuo
de uma operao aritmtica com o nmero (MONTEIRO, 2007).
De modo geral, as seguintes formas de dados so mais utilizadas nos progra-
mas atuais de computadores (formas primitivas, entendidas pelo hardware)
(MONTEIRO, 2007):
Tipo Caractere: dados sob forma de caractere;
Tipo Lgico: dados sob forma lgica;
Tipo Numrico: dados sob forma numrica.
Pesquise sobre os compiladores
existentes para as mais diversas
linguagens de programao.
Faa uma listagem desses
compiladores acompanhados
de suas caractersticas, coloque
o contedo pesquisado em um
arquivo texto e faa a postagem
como atividade no AVEA.
e-Tec Brasil Aula 6 Representao de dados 87
Outras formas mais complexas so permitidas em certas linguagens moder-
nas (como tipo REGISTRO, tipo ARRAY, tipo INDEX, tipo POINTER etc.). No
entanto, durante o processo de compilao, os dados acabam sendo conver-
tidos nalmente nas formas primitivas j mencionadas, para que o hardware
possa execut-las.
6.3.1 Tipo caractere
A representao interna de informaes em um computador realizada
atravs de uma correspondncia entre o smbolo da informao e o grupo
de algarismos binrios (bits). Cada smbolo (caractere, nmero ou smbolo)
possui uma identicao especca.
Exemplo: Smbolo A Algarismos binrios 10101101
Voc pode se perguntar como possvel representar, com apenas dois sm- possvel representar, com apenas dois sm- representar, com apenas dois sm-
bolos (0 e 1), todos os caracteres alfabticos, algarismos decimais, sinais de
pontuao, de operaes matemticas, entre outros, necessrios elabora-
o de um programa de computador. Monteiro (2007) arma que a resposta
para essa pergunta seria: pela utilizao do mtodo chamado de codica-
o, pelo qual cada smbolo da nossa linguagem tem um correspondente
grupo de bits que identica univocamente o referido smbolo (caractere).
Existem alguns padres de codicao previamente denidos, conforme
apresentados no Quadro 6.1.
Quadro 6.1: Padres de codicao de caracteres
Cdigos Caracteres
BCD Binary Code Decimal Utiliza 6 bits/caracteres, codicando 64 caracteres.
EBCDIC Extended Binary Coded Decimal Inter-
change Code
Exclusivo da IBM, utilizando 8 bits para codicar 256
caracteres.
ASCII American Standart Code for Information
Interchange
ASCII usado pelos demais fabricantes. Utiliza oito bits/ca-
ractere em sua verso extendida, codicando 256 caracteres.
UNICODE
Cdigo que utiliza 16 bits/smbolo, podendo representar
65.536 smbolos diferentes. Pretende codicar em um
nico cdigo os smbolos de todas as linguagens conheci-
das no mundo. Est sendo desenvolvido por um consrcio
desde 1991 (www.unicode.org).
Fonte: Adaptada de Monteiro (2007)
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 88
A utilizao de padres de codicao (ex.: ASCII, Unicode) o mtodo
primrio de introduo de informaes no computador. As demais formas
de representao de informao (tipos de dados) surgem no decorrer do
processo de compilao ou interpretao do programa. O padro de codi-
cao mais utilizado pela indstria de computadores o ASCII. A codicao
correspondente a esse padro j parte do hardware (armazenado em uma
memria do tipo ROM) e denida pelo prprio fabricante. A Figura 6.2
apresenta parte da tabela ASCII como exemplo.
Binrio Decimal Hexa
0010 0000
0010 0001
0010 0010
0010 0011
0010 0100
0010 0101
0010 0110
0010 0111
0010 1000
0010 1001
0010 1010
0010 1011
0010 1100
0010 1101
0010 1110
0011 1111
0011 0000
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30
)
Glifo
#
$
%
0
/
-
(
Binrio Decimal Hexa
0010 0000
0010 0001
0010 0010
0010 0011
0010 0100
0010 0101
0010 0110
0010 0111
0010 1000
0010 1001
0010 1010
0010 1011
0010 1100
0010 1101
0010 1110
0011 1111
0011 0000
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F
50
Glifo
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Binrio Decimal Hexa
0010 0000
0010 0001
0010 0010
0010 0011
0010 0100
0010 0101
0010 0110
0010 0111
0010 1000
0010 1001
0010 1010
0010 1011
0010 1100
0010 1101
0010 1110
0011 1111
0011 0000
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
70
Glifo
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
Figura 6.2: Exemplo parcial da Tabela ASCII
Fonte: http://weblogbrasil.les.wordpress.com/2008/09/tabela_impri1.png
6.3.2 Tipo lgico
Permite a utilizao de variveis que possuem apenas dois valores para re-
presentao: Falso (bit 0) e Verdadeiro (bit 1). As funes de cada operador
lgico esto apresentadas no Quadro 6.2.
Quadro 6.2: Operadores lgicos e suas funes
Porta
Lgica
Denio
AND
O operador lgico AND denido de modo que o resultado da operao com ele ser VERDADE se e so-
mente se todas as variveis de entrada forem VERDADE (=1). Caso contrrio, o resultado ser FALSO (=0).
OR
O resultado da operao ser VERDADE (=1) se um operando (ou varivel lgica) ou o outro for verdadei-
ro. Basta que apenas um dos operandos seja verdadeiro. Caso contrrio, o resultado ser FALSO (=0).
Operadores lgicos OR tambm so largamente utilizados em lgica digital ou na denio de condies
em comandos de deciso de certas linguagens de programao.
Continua
e-Tec Brasil Aula 6 Representao de dados 89
NOT
denido de modo a produzir na sada um resultado de valor oposto (ou inverso) ao da varivel de entra-
da. usado apenas com uma nica varivel. Desse modo, se a varivel tem o valor 0 (FALSO), o resultado
da operao NOT sobre essa varivel ser 1 (VERDADE), e se a varivel for igual a 1 (VERDADE), ento o
resultado do NOT ser 0 (FALSO).
XOR
O operador lgico XOR (EXCLUSIVE-OR) ou OU EXCLUSIVO denido de modo a prover um resultado
VERDADEIRO se apenas uma das variveis ou operadores for VERDADEIRA. Sendo X=A XOR B, o resul-
tado X ser VERDADE se exclusivamente (da o nome OU EXCLUSIVO) A OU B for VERDADE. Caso ambos
sejam VERDADE ou ambos FALSO, ento o resultado ser FALSO.
NAND Negao do operador lgico AND.
NOR Negao do operador lgico OR.
Fonte: Adaptada de Monteiro (2007)
6.3.3 Tipo numrico
Como os computadores so elementos binrios, a forma mais eciente de
representar nmeros deve ser binria, isto , converter o nmero direta-
mente de decimal para seu correspondente valor binrio. Deste modo a ULA
poder executar as operaes mais rapidamente.
Conforme Monteiro (2007), existem trs fatores que devem ser considerados,
pois podem acarretar inconvenientes no projeto e na utilizao da mquina:
a) a representao do sinal do nmero;
b) a representao da vrgula (ou ponto) que separa a parte inteira da fra-
cionria de um nmero no inteiro;
c) a quantidade limite de algarismos possvel de ser processada pela ULA.
O problema que consiste do sinal do nmero pode ser resolvido com o acrs-
cimo de mais um bit na representao do nmero (adicionado esquerda),
como bit mais signicativo. Esse bit adicional indica o sinal do nmero. A
converso adotada (conforme o Quadro 6.3) :
Valor positivo: bit de sinal igual a 0;
Valor negativo: bit de sinal igual a 1.
Quadro 6.3: Exemplo
Valor Decimal Valor Binrio
- 47 100101111 (com 9 bits)
+ 47 000101111 (com 9 bits)
Fonte: Adaptado de Monteiro (2007)
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 90
Outro problema reside na forma de representao de nmeros fracionrios,
por causa da diculdade de representar a vrgula/ponto internamente, en-
tre a posio de dois bits. O que ocorre que a vrgula no efetivamente
representada, mais sim assumida sua posio no nmero e este sendo
representado apenas pelos seus algarismos signicativos como se fosse
inteiro.
Exemplo: 110111,110 110111110
O sistema identica que quantidade de algarismos inteira e que a quanti-
dade fracionria atravs da escolha entre dois modos de representao e
de realizao de operaes aritmticas (MONTEIRO, 2007):
a) representao em ponto xo (vrgula xa);
b) representao em ponto utuante (vrgula utuante).
A quantidade de dgitos disponveis no sistema de computao (processa-
dor) para representar nmeros um problema relevante. Na matemtica os
nmeros reais existentes so innitos; no entanto, computadores so m- so innitos; no entanto, computadores so m-
quinas onde as clulas e registradores possuem tamanho nito mas que tm
capacidade de representar uma quantidade finita de nmeros. Desse modo
surge o aspecto denominado overow ou estouro da capacidade de repre-
sentar nmeros. H tambm o underow, que se caracteriza por ocorrer um
resultado cujo valor menor que o menor valor representvel.
Resumo
A representao de dados esclarece o formato de representao dos diversos
tipos de dados que o computador pode receber como entrada - seja a partir
da execuo de programas ou a partir de dispositivos de entrada e sada.
Os principais tipos de dados compreendidos pelo computador, tambm cha-
mados de tipos primitivos de dados, so: carter, lgico e numrico. A par-
tir desses tipos bsicos foram desenvolvidos alguns tipos considerados mais
complexos e que no so compreendidos diretamente pelo hardware (ex.:
vetor, ndice, registro, ponteiros), sendo necessrio para isso que tais tipos
sejam convertidos para formatos primitivos equivalentes.
A tabela ASCII o padro de codicao utilizado para a converso de
caracteres, nmeros e smbolos inseridos no computador via dispositivos
de entrada e sada (ex.: teclado). Assim, cada caractere possui um cdigo
binrio nico que o representa.
Representao de Dados.
Disponvel em: http://www.
cristiancechinel.pro.br/my_les/
algorithms/bookhtml/node23.
html. Acesso em: 19 jul. 2010.
e-Tec Brasil Aula 6 Representao de dados 91
Alguns problemas devem ser considerados em relao representao do tipo
numrico, como: a representao do sinal do nmero, a representao do pon-
to ou vrgula do nmero e o tamanho dos registradores da UCP, os quais limitam
o tamanho dos nmeros que podero ser representados pelo hardware.
Atividades de aprendizagem
1. Em relao representao de dados no computador, responda s seguin-
tes questes em um arquivo texto e poste-as como atividade no AVEA:
a) Como so representados os dados e instrues informados pelo usurio
para o computador?
b) O que voc entende por formas primitivas de dados?
c) Como os comandos de um programa em linguagem de alto nvel (ex.:
Pascal, C) so compreendidos pelo hardware?
d) Como os dados do tipo vetor, registro e apontador so compreendidos
pelo hardware?
e) O que a tabela ASCII e quando ela utilizada?
e-Tec Brasil
Aula 7 - Dispositivos de entrada e sada
Objetivos
Identicar as caractersticas e compreender o funcionamento b-
sico dos dispositivos de entrada e sada, acoplados ao sistema
computacional.
7.1 Introduo a dispositivos de
entrada e sada
De acordo com o modelo previsto por Von Neumann e apresentado ao longo
das sees anteriores, um computador deve ser capaz de armazenar dados
e instrues necessrios para a execuo de uma tarefa, na memria e no
formato binrio. Para que possam ser executados, esses dados e instrues
so buscados pela UCP diretamente na memria. na memria tambm que
o resultado desse processamento ser disponibilizado. Como esses dados e
instrues chegaram memria? Como o resultado do processamento des-
se contedo mantido na memria retornado ao usurio?
A resposta para essas perguntas que so necessrios elementos que per-
mitam a interface do usurio com o computador, tanto para dar a entrada
de dados e instrues quanto para proporcionar a sada de resultados ao
usurio, no formato adequado, tal qual foi solicitado.
Esses elementos de interface podem ser chamados de dispositivos (ou perif-
ricos) de entrada e sada (E/S). So considerados um subsistema de memria,
pois fazem parte do sistema maior que o sistema computacional, onde os
dispositivos de E/S compem o chamado subsistema de E/S, o qual, segundo
Monteiro (2007), deve ser capaz de realizar duas funes:
a) receber ou enviar informaes ao meio exterior;
b) converter as informaes (de entrada e sada) em uma forma inteligvel
para a mquina (se estiver recebendo) ou para o programador ou usurio
(se estiver enviando).
Interface
Interface: a fronteira ou canal
de comunicao que dene a
forma de comunicao entre
duas entidades
(ex.: usurio, computador).
e-Tec Brasil Aula 7 - Dispositivos de entrada e sada 93
Dentre os diversos dispositivos de E/S podemos citar: teclado, mouse, moni-
tor de vdeo, impressora, webcam, modem, dispositivos de armazenamento
(ex.: disco rgido, CD/DVD ROM, pen-drive). Esses dispositivos se interligam
UCP e memria principal atravs do barramento de expanso (apresentado
na Aula 5) e podem ser classicados em duas categorias: entrada (teclado,
mouse, webcam, modem, disco rgido) e sada (impressoras, disco rgido,
monitor de vdeo). Sublinhamos que o disco rgido, assim como outros meios
de armazenamento, so dispositivos tanto de entrada quanto de sada.
Lembramos que todos os estmulos gerados pelos dispositivos de E/S, por
exemplo - a presso de uma tecla, so convertidos em vrios sinais eltricos,
com diferentes intensidades, podendo representar os valores 0 ou 1.
Monteiro (2007) destaca algumas observaes relevantes que inuenciam
na comunicao dos dispositivos com a UCP e memria principal. So elas:
Os dispositivos de E/S apresentam diferentes caractersticas, o que
tornaria a comunicao entre UCP e perifrico extremamente compli-
cada, caso esta fosse realizada direta e individualmente (ex.: comuni-
cao direta entre UCP e teclado, entre UCP e vdeo). Isso ocorre em
funo da grande diferena de velocidade entre UCP e os dispositivos
de E/S, alm de haver grandes diferenas de velocidade entre os pr-
prios dispositivos, como por exemplo o disco rgido, que mais rpido
que o teclado. A Tabela 7.1 apresenta alguns exemplos de dispositi-
vos de E/S e sua velocidade de transmisso de dados aproximada.
Tabela 7.1: Dispositivos de E/S e sua velocidade de trans-
misso de dados
Dispositivo Taxa de transmisso (KB/s)
Teclado 0,01
Mouse 0,02
Impressora matricial 1
Modem 2 a 8
Disquete 100
Impressora laser 200
Scanner 400
CD-ROM 1000
Rede local 500 a 6000
Vdeo grco 60.000
Disco rgido (HD) 2000 a 10.000
Fonte: Adaptada de Monteiro (2007)
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 94
Alm da velocidade, outro aspecto que diferencia os dispositivos de E/S a
sua forma de comunicao. A comunicao entre o ncleo do computador e
os dispositivos de E/S poderia ser classicada em (MONTEIRO, 2007):
a) Comunicao serial: a informao pode ser transmitida/recebida, bit a
bit, um em seguida do outro, conforme a Figura 7.1.
UCP/MP
Interface
Buffer Perifrico
10110001
Serial
Barramento do sistema
(transmisso em V)
Figura 7.1: Transmisso serial entre interface e perifrico
Fonte: Adaptada de Monteiro (2007)
b) Comunicao paralela: a informao pode ser transmitida/recebida em
grupos de bits de cada vez, isto , um grupo de bits transmitido simul-
taneamente de cada vez, conforme apresenta a Figura 7.2.
0 1
1 0
0 0
1 1
0 1
0 0
1 0
0 0
T R
Receptor Transmissor
Transmisso
Caractere 2 Caractere 1
Figura 7.2: Transmisso paralela entre transmissor (interface) e receptor (perifrico)
Fonte: Adaptada de Monteiro (2007)
Existem diferenas relativas parte eltrica de gerao e interpretao dos
sinais de transmisso. O autor arma que, devido a essas diferenas, na pr-
tica a UCP no se conecta diretamente com cada perifrico, mas sim com
dispositivos que realizam a traduo e a compatibilizao das caractersti-
cas de um (dispositivo de E/S) para o outro (UCP/MP), alm de realizar outras
tarefas de controle (MONTEIRO, 2007).
Os dispositivos possuem algumas denominaes. A mais comum seria inter-
face de E/S, mas comercialmente podem ser encontrados como controlador
ou adaptador, adicionando-se o nome do dispositivo (ex.: controlador de
vdeo, controlador de disco). A funo de todos sempre a mesma: com-
patibilizar as diferentes caractersticas de um perifrico e da UCP/memria
e-Tec Brasil Aula 7 - Dispositivos de entrada e sada 95
principal, permitindo um uxo correto de dados em uma velocidade ade-
quada a ambos os elementos que esto sendo interconectados. A Figura 7.3
apresenta exemplos de interfaces.
Figura 7.3: Exemplos de controladores de E/S
Fonte: www.infowester.com.br
7.1.1 Metodologias de comunicao entre UCP
e dispositivos de E/S
Em um sistema de computao h a necessidade de que a UCP se comu-
nique com a memria principal (RAM) e com os dispositivos de E/S (ex.:
teclado, mouse, monitor de vdeo, rede) para a transferncia de dados. Se-
melhante ao que ocorre com a comunicao entre UCP e memria principal,
na qual so denidos endereos para cada posio de memria, os quais
so referenciados pela UCP, quando se trata de comunicao entre UCP e
dispositivos, torna-se necessrio que a UCP indique um endereo que corres-
ponda ao perifrico em questo.
Cada perifrico acoplado ao sistema de computao possui um endereo, o
qual identicado como endereo de porta de E/S, ou seja, cada dispositivo
de E/S possui um nmero de identicao nica no sistema computacional
onde se encontra. Dessa forma, se o endereo de porta ou endereo de E/S
for um nmero de oito bits, signica que podero ser conectados at 256
(28) dispositivos ao sistema.
Diversas formas de comunicao entre UCP e memria principal foram pro-
postas, as quais sofreram melhorias ao longo do tempo, buscando sempre
alcanar uma melhor utilizao da UCP e um melhor desempenho para o
sistema como um todo. Murdocca (2000) destaca trs mtodos para geren-
ciar a entrada e sada:
a) Entrada e sada programada
Neste mtodo, tambm chamado de pooling, a UCP precisa vericar conti-
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 96
nuamente se cada um dos dispositivos necessita de atendimento, ou seja,
tudo depende da UCP. Por exemplo, se o disco quer transferir algum dado
para a memria, a UCP deve car dedicada a esse processo de transferncia
at que esta seja concluda. A grande desvantagem a subutilizao da UCP,
a qual, enquanto houver uma operao de transferncia de dados, no rea-
liza outras operaes de processamento. Este mtodo no mais utilizado.
b) Entrada e sada controladas por interrupo
Este mtodo possibilita que a UCP no que presa em espera ocupada at
que um dispositivo esteja pronto para realizar a transferncia de dados pro-
priamente dita. Assim, a UCP d incio operao emitindo uma instruo
de E/S para a interface ou controlador do dispositivo em questo e, quando
o dispositivo estiver pronto para a operao de transferncia, recebe uma
interrupo avisando que ela poder comear. Essa demora para iniciar a
transferncia, aps as instrues da UCP, deve-se lentido dos dispositivos
de E/S em relao UCP, problema que diminudo com o uso de interrup-
es. Este mtodo sofreu melhorias e no mais utilizado.
c) Acesso direto memria (DMA)
A funo do controlador (ou interface) controlar seu dispositivo de E/S e
manipular para ele o acesso ao barramento. Quando um programa quer da-
dos do disco, por exemplo, ele envia um comando ao controlador de disco,
que ento emite comandos de busca e outras operaes necessrias para
que ocorra a transferncia (TANENBAUM, 2007).
Para esse autor, quando o controlador l ou escreve dados de/para a mem-
ria sem a interveno da UCP, dito que ele est executando um acesso di-
reto memria (Direct Memory Access), conhecido por DMA. Dessa forma,
a UCP se limita a solicitar a transferncia para um dispositivo denominado
controlador de acesso direto memria principal (DMA Controller), o qual
se responsabiliza totalmente pela transferncia. A UCP avisada apenas no
incio e no nal da operao de transferncia entre dispositivo e memria
principal. Este mtodo utilizado atualmente pelos computadores.
Destacamos que a UCP apresenta apenas uma linha para receber pedidos
externos de interrupes de todos os dispositivos de E/S. Dessa forma, a m
de compartilhar essa linha com os diversos dispositivos existentes em um
computador, foi desenvolvido o controlador de interrupes, o qual rece-
Interrupo
Interrupo: pode ser denida
como um evento ou um aviso
UCP de que algum dispositivo
est solicitando a realizao de
uma operao (ex.: o recebi-
mento de dados via rede, a
presso de uma tecla). Quando
uma interrupo ocorre, a UCP
deve suspender imediatamente
a execuo de seu programam
corrente e comear a executar
um procedimento de tratamento
da interrupo.
Interrupo de Hardware.
Disponvel em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/
Interrup%C3%A7%C3%A3o_
de_hardware.
Acesso em: 19 jul. 2010
e-Tec Brasil Aula 7 - Dispositivos de entrada e sada 97
be e encaminha, de acordo com a prioridade (denida para evitar conitos
de acesso UCP), os pedidos de interrupo feitos pelos diferentes dispositi-
vos de entrada/sada. Quando a UCP recebe o pedido de interrupo, verica
com o controlador de interrupes que dispositivo causou o pedido e ento
efetua o atendimento apropriado interrupo.
A seguir, sero apresentadas as caractersticas de alguns dos principais dis-
positivos de E/S.
7.1.1.1 Teclado
O teclado o dispositivo utilizado para dar a entrada a instrues vindas
dos seres humanos ao computador. Nesse caso, necessrio que ele seja
capaz de identicar a simbologia utilizada pelos seres humanos. Por isso,
geralmente existe um teclado para cada lngua (ex.: portugus, japons) ou
inclusive dentro do mesmo idioma podem existir adaptaes de teclado para
pases diferentes. (ex.: para o Brasil (ABNT-2) e Portugal (Pt)).
Os teclados mais populares so os de uso geral, ou seja, aqueles compostos
de todas as teclas alfabticas, numricas e caracteres especiais (sinais de
pontuao e operaes em geral), conforme mostra a Figura 7.4.
Figura 7.4: Exemplo de teclado de um PC
Fonte: http://www.pontodamidia.com.br/loja/images/087.jpg
Existem trs tecnologias de fabricao de teclas: teclas mecnicas (de contato
direto), teclas capacitivas; e teclas de efeito Hall, sendo que a mais utilizada
a tecnologia capacitiva. Nesse ltimo tipo, as teclas funcionam base da
variao de capacitncia (uma propriedade eltrica) do acoplamento entre
duas placas metlicas, variao essa que ocorre quando uma tecla pres-
sionada. Com isso, essas teclas apresentam baixo custo e menor tamanho,
alm de no apresentarem contatos mecnicos, que podem oxidar com o
tempo (MONTEIRO, 2007).
Arquitetura de PCs. Disponvel
em: http://www.laercio.com.
br/artigos/hardware/hard-010/
hard-010.htm-010.htm.
Acesso em: 19 jul. 2010
Capacitncia
Capacitncia (ou capacidade):
a grandeza eltrica de um
capacitor, determinada pela
quantidade de energia eltrica
que pode ser armazenada em
si por uma determinada tenso
e pela quantidade de corrente
alternada que o atravessa numa
determinada frequncia.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 98
O teclado considerado um conjunto de chaves eltricas, sendo cada chave
acionada por uma tecla. Cada uma das chaves corresponde a um cdigo
binrio, o qual enviado para a placa-me, via controlador de teclado, e
interpretado de acordo com o padro de teclado que est sendo utilizado.
7.1.1.2 Monitor de vdeo
O monitor de vdeo um dispositivo de sada indispensvel ao uso dos com-
putadores pessoais (PC). Por meio dele possvel obter a partir da viso a
maior parte das sadas geradas pela UCP, ou seja, a resposta s solicitaes
que o usurio encaminha para dentro do computador (ex.: formatar um tex-
to, realizar um clculo, fazer uma pesquisa de um arquivo).
O resultado mostrado na tela a imagem produzida e gerada no compu-
tador (pela UCP) e transmitida no formato binrio para o controlador ou
interface.
Diferentes tecnologias de fabricao de monitores de vdeos esto dispon-
veis atualmente. Segundo Monteiro (2007), os monitores de vdeo podem
ser classicados de duas formas: de acordo com a tecnologia de criao e
apresentao da imagem e quanto forma com que os bits so passados do
sistema para o vdeo. Sendo assim, as principais tecnologias so:
a) CRT (Tubos de Raios Catdicos);
b) LED (Diodos Emissores de Luz);
c) LCD (Vdeos de Cristal Lquido);
d) TDP (Vdeos com Painel Estreito).
Atualmente, os populares monitores de vdeo CRT (inclusive os utilizados
nos televisores) esto gradativamente sendo substitudos pelos vdeos LCD.
Nos vdeos CRT, a imagem se forma em uma tela, a qual constituda por
uma pelcula de fsforo e, uma vez que um de seus pontos de imagem
atingido por um eltron, ele emite luz e isso o que o olho humano capta
(MONTEIRO, 2007).
Os vdeos LCD so menos volumosos que os CRT, alm de serem mais eco-
nmicos em relao ao consumo de energia e mais rpidos. So encontra-
dos em palmtops e notebooks, por exemplo, passando a ser cada vez mais
comuns em PCs.
Eltron
Eltron: uma partcula sub-
atmica e de carga negativa,
responsvel pela criao de
campos magnticos e elctricos
e-Tec Brasil Aula 7 - Dispositivos de entrada e sada 99
No monitor LCD utilizada tecnologia de cristais lquidos para formar a ima-
gem. Os cristais lquidos so substncias que tm sua estrutura molecular al- m sua estrutura molecular al- m sua estrutura molecular al-
terada quando recebem corrente eltrica. Em seu estado normal, essas subs-
tncias so transparentes, mas ao receberem uma carga eltrica tornam-se
opacas, impedindo a passagem da luz. Mas nos vdeos LCD atuais, como os
que so usados em notebooks, existem estados intermedirios, possibilitan-
do a formao das tonalidades de cinza ou em cores. Os tons intermedirios
so gerados pela aplicao de diferentes nveis de tenso (GDHPRESS, 2010).
O Guia GDH Press informa que para formar a tela de um monitor, uma na
camada de cristal lquido colocada entre duas camadas de vidro. Essas nas
placas possuem pequenas cavidades isoladas entra s, cada uma com um ele-
trodo ligado a um transistor. Cada uma dessas cavidades representa um dos
pontos da imagem. Essa espcie de sanduche , por sua vez, colocada
entre duas camadas de um elemento polarizador. Atrs dessa tela instalada
uma fonte de luz, geralmente composta de lmpadas uorescentes (usadas
por gerarem pouco calor) ou ento LEDs, responsveis pela iluminao da tela.
A Figura 7.5 mostra um monitor de vdeo CRT, e a Figura 7.6 mostra outro
monitor de vdeo LCD.
Figura 7.5: Exemplo de monitor CRT
Fonte: http://ocularis.es/blog/pics/monitor_CRT_17.jpg
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 100
Figura 7.6: Exemplo de monitor LCD
Fonte: http://www.universotech.com/ut/wp-content//uploads/2009/04/monitorlcd.jpg
Outra tecnologia de monitores de vdeo que vem ganhando espao so os
de plasma, os quais possuem uma estrutura que lembra os monitores LCD.
Esse tipo de monitor tambm apresenta duas placas de vidro e eletrodos que
aplicam tenses eltricas nas clulas que geram a imagem. O que realmente
difere so as clulas, ou seja, ao invs de cristais lquidos, os monitores de
plasma so formados por estruturas com o mesmo princpio de funciona-
mento das lmpadas uorescentes. De forma geral, possvel dizer que em
um monitor de plasma a imagem formada por alguns milhes de minscu-
las lmpadas uorescentes verdes, azuis e vermelhas (GDHPRESS, 2010) Em
se tratando de monitores de vdeo, um aspecto importante a ser considerado
a sua resoluo, a qual medida pela quantidade de pixels que pode ser
apresentada em uma tela. Monteiro (2007), defende que essa quantidade
seja descrita em termos de dois valores: a quantidade de pixels mostrados
horizontalmente (em uma linha) e a quantidade de pixels mostrados verti-
calmente (em uma coluna). Por exemplo, para uma resoluo de 800 x 600,
signica que existiro 800 pixels em cada linha e 600 pixels em cada colu-
na. Quanto maior a resoluo, maior a qualidade da imagem, ou seja, mais
ntida e denida ela ser.
Atualmente os padres de resoluo mais comuns disponveis no mercado
so apresentados na Tabela 7.2, a qual mostra o perodo aproximado de sur-
gimento de cada padro, sua descrio, resoluo tpica e nmero de cores.
Pixel
Pixel: o menor ponto que for-
ma uma imagem digital, sendo
que o conjunto de milhares de
pixels forma uma imagem inteira
e-Tec Brasil Aula 7 - Dispositivos de entrada e sada 101
Tabela 7.2: Padres de resoluo mais comuns
Data
Standard
Padro
Description
Descrio
Typical Resolution
Resoluo tpica
Number of Colors
Nmero de Cores
1981
1981
CGA CGA
Color Graphics Color
Graphics
Adapter Adaptador
640x200 640x200
160x200 160x200
2 2
16 16
1984
1984
EGA EGA
Enhanced Graphics
Enhanced Graphics
Adapter Adaptador
640x350 640x350 16 from 64 16 de 64
1987
1987
VGA VGA
Video Graphics Video
Graphics
Array Array
640x480 640x480
320x200 320x200
16 from 262,144 16
a partir de 262.144
256 256
SVGA SVGA
Super Video Graphics
Super Video Graphics
Array Array
800x600 800x600
256 to 16.7 million
256-16700000
8514/A
8514 / A
IBM interlaced standard
IBM interlaced standard
1024x768 1024x768
16 from 262,144 16
a partir de 262.144
1990
1990
XGA XGA
Extended Graphics Array
Extended Graphics Array
1024x768 1024x768
16.7 million
16700000
SXGA SXGA
Super Extended Graphics
Array Super Extended
Graphics Array
1280x1024
1280x1024
16.7 million
16700000
UXGA
UXGA
Ultra XGA Ultra XGA
1600x1200
1600x1200
16.7 million
16700000
WXGA
WXGA
Wide XGA Wide XGA 1366x768 1366x768
16.7 million
16700000
Fonte: http://www.infocellar.com/hardware/ga.htm
Assim, os controladores de vdeo disponveis no mercado devem ser compa-
tveis com os padres a que so indicados (ex.: XGA, WXGA), apresentan-
do assim um nvel menor ou maior de qualidade da imagem projetada no
monitor de vdeo.
7.1.1.3 Impressoras
A impressora, considerando seus diversos tipos e formatos, o um dispositi-
vo de sada de extrema importncia, pois ela que responsvel por passar
para o papel grande parte dos resultados de processamento da UCP, seja em
formato de texto ou imagem.
Existem dois tipos bsicos de impressoras, de acordo com as cores que so
capazes de imprimir:
a) Monocromticas - imprimem com apenas uma cor e so mais rpidas
que as coloridas;
b) Coloridas - so capazes de criar imagens dividindo a pgina em milhares
ou milhes de pequenos pontos, denominados dots, os quais podem
Como Funciona o LCD.
Disponvel em: http://www.
gdhpress.com.br/hmc/leia/
index.php?p=cap7-3.
Acesso em: 19 jul.2010.
Monitores de Vdeo.
Disponvel em: http://www.
clubedohardware.com.
br/artigos/Monitores-de-
Video/920/1.
Acesso em: 19 jul. 2010.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 102
ser endereados pelo computador. Dessa forma, durante a impresso, o
cabeote da impressora move-se no sentido horizontal e o papel movi-
menta-se no sentido vertical, podendo alternar a impresso de pontos
coloridos com pontos em branco em cada linha.
Segundo Monteiro (2007), uma impressora deve ser analisada de acordo
com algumas caractersticas bsicas que podem determinar seu desempe-
nho em relao a outros dispositivos.
A primeira caracterstica est ligada ao volume de impresso que ela suporta
em uma unidade de tempo. As impressoras podem indicar sua capacidade
(ou velocidade) de impresso em caracteres por segundo (CPS), em linhas
por minuto (LPM) e em pginas por minuto (PPM). Essa capacidade de uma
impressora vai depender das tecnologias utilizadas na sua fabricao.
A segunda caracterstica diz respeito s tecnologias de fabricao de impres-
soras, o que inuencia diretamente na forma como os caracteres, a serem
impressos, so gerados. Apresentamos, a seguir, algumas das principais tec-
nologias utilizadas no processo de fabricao de impressoras:
a) Matriciais (de impacto)
Enquadram-se na categoria de impressoras de impacto. Esse tipo de impres-
sora se baseia normalmente na utilizao de agulhas, que, quando pressio-
nadas contra uma ta que contm um tipo de tinta, imprimem o smbolo
no papel que se encontra atrs da ta. A Figura 7.7 mostra uma cabea de
leitura realizando a impresso por meio de uma ta, sendo possvel observar
as agulhas (pinos) responsveis pela impresso.
Pinos
Cabea de Impresso
Figura 7.7: Mecanismo de impresso impressora matricial
Fonte: http://www.infowester.com/impressoras.php
Cabeote
Cabeote: cabea de impresso,
responsvel pela distribuio da
cor nos pontos adequados para
a formao do texto ou imagem,
ponto a ponto.
e-Tec Brasil Aula 7 - Dispositivos de entrada e sada 103
Segundo Monteiro (2007), o nome matricial se deve ao fato de que os
caracteres impressos so formados por uma matriz de pontos.
Figura 7.8: Impressora matricial Okidata ML 320
Fonte: http://www.intersolucao.com.br/produtosdetalhes_sv.asp?ProdutoID=46
Esse tipo de impressora convel, mas ela lenta e barulhenta. utilizada
para impresso de formulrios, relatrios, pedidos, notas scais, enm, docu-
mentos de uso frequente das empresas. Tambm para impresso em espaos
pequenos (ex.: de cupom scal) e com a utilizao de vias carbonadas. J foram
impressoras baratas, mas, atualmente, em funo da diculdade de encontr-
-las, tendo em vista o surgimento de novas tecnologias, tm se tornando bas-
tante caras. A Figura 7.8 apresenta um exemplo de impressora matricial.
b) Jato de tinta (ink-jet)
Uma das principais diferenas das impressoras jato de tinta para as matriciais
a forma como os caracteres so projetados no papel e o fato de no serem
impressoras de impacto. Ambas se utilizam de uma matriz de pontos, mas
diferem na tcnica utilizada para criar os pontos no papel. De acordo com
Monteiro (2007), neste tipo de impressora, o ponto o resultado de uma
gota de tinta que depositada no papel e secada por calor para no escor-
rer essa tecnologia de aquecimento tambm denominada bubble-jet.
Diversas dessas gotas depositadas no papel moldam o formato do caractere,
de modo semelhante aos pontos obtidos pela projeo das agulhas em im-
pressoras matriciais. A Figura 7.9 mostra uma impressora jato de tinta atual.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 104
Figura 7.9: Impressora jato de tinta Epson Stylus Photo T50
Fonte: http://www.mservice.com.br/produto.asp?id=00003582
Esse tipo de impressora geralmente de baixo custo, silenciosa, e com impres-
so de alta qualidade. Como a tinta disponibilizada por cartuchos (somente
preto ou colorido), apresenta um custo relativamente maior que as matriciais.
c) Impressora a laser
Trata-se de um tipo de impressora que tem se tornado bastante popular,
no somente no ambiente empresarial, mas tambm no domstico. Isso foi
proporcionado pela baixa relao entre custo e desempenho. A Figura 7.10
apresenta uma impressora a laser tpica.
Figura 7.10: Impressora a laser monocromtica Xerox Phaser 3124
Fonte: http://www.submarino.com.br
e-Tec Brasil Aula 7 - Dispositivos de entrada e sada 105
Diferentemente das impressoras jato de tinta, em que a impresso ocorria
pela aplicao de tinta ao papel para a formao dos caracteres, as impres-
soras a laser se utilizam de um produto chamado toner. Monteiro (2007) ex-
plica que o mecanismo de impresso funciona de modo semelhante ao das
copiadoras de documentos. A ideia formar, em um cilindro fotossensitivo,
uma imagem da pgina que ser impressa. Na sequncia, o toner, composto
de partculas minsculas, espalhado sobre a imagem criada no cilindro. Por
m, a imagem transferida do cilindro para um papel e secada por inten-
so calor. Feito isso, o cilindro deve ter sua imagem apagada para que uma
nova imagem possa ser nele criada. O autor destaca ainda que a imagem
formada no cilindro atravs de um feixe de laser que aceso e apagado a
cada ponto do cilindro (como pixels em um vdeo), conforme a congurao
binria e a localizao dos caracteres que se quer imprimir.
Alm dos formatos de impressoras descritos acima, existem outras opes,
as quais so desenvolvidas para trabalhos especcos e no so comumente
encontradas. Um exemplo o plotter (para grandes impresses, por exem-
plo, de um banner).
7.1.1.4 Discos magnticos
Os discos magnticos abrangem diversos dispositivos utilizados pelo sistema
de computao, tais como: disco rgido, os antigos disquetes e CD-ROM.
Esses dispositivos de E/S, considerados memrias secundrias (de armazena-
mento permanente de um volume considervel de dados), so largamente
utilizados, com exceo dos disquetes ou discos exveis.
O disco magntico (disco rgido ou hard disk) uma das principais unidades de
E/S de um computador; onde cam localizados todos os dados (pastas e arqui-
vos) e os programas a serem carregados para a memria principal para execuo.
Um disco rgido, conforme mostra a Figura 7.11, constitudo de uma pilha
de discos metlicos (normalmente de alumnio), inseridos sobre um mesmo
eixo. Cada disco uma superfcie circular na e coberta com uma camada de
material magnetizvel, o qual pode receber gravaes. O material pode estar
presente em uma ou em ambas as superfcies do disco, as quais so normal-
mente chamadas de faces (lados). Ainda segundo o autor, normalmente, um
disco magntico fabricado com dupla face de armazenamento, de modo
que tenha maior capacidade de armazenar (MONTEIRO, 2007).
.
Introduo s Impressoras
Matriciais, Jato de Tinta e Laser.
Disponvel em:
http://www.infowester.com/
impressoras.php.
Acesso em: 19 jul. 2010
Faa uma pesquisa sobre os
diversos tipos de monitores
de vdeo e impressoras
disponveis atualmente no
mercado, destacando para
cada um deles suas principais
caractersticas (ex.: marca,
modelo, valor, qualidade), alm
das caractersticas especcas
de cada equipamento (ex.:
resoluo de vdeo, nmero de
pginas por minuto para cada
impressora). Essa pesquisa
dever ser postada no AVEA no
formato de um arquivo de texto.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 106
Figura 7.11: Modelo externo de disco rgido tpico.
Fonte: http://www.clubedohardware.com.br/artigos/1023
Os discos so montados em um eixo, o qual sofre rotaes provocadas por
um motor de rotao, que responsvel por manter uma velocidade cons-
tante. Inicialmente os discos rgidos utilizavam motores de 3.600 rotaes
por minuto (RPM). Atualmente, os discos rgidos mais utilizados apresentam
5.600 ou 7.200 RPM. Existem discos com medidas de rotao maiores (ex.:
10.000 RPM), mas no so to populares. Quanto maior a velocidade de
rotao, maior o preo, mas tambm maior o desempenho do disco.
De acordo com Monteiro (2007), sobre a superfcie de um disco, h um ele-
mento mecnico denominado brao, o qual transporta uma cabea de leitu-
ra/gravao, efetuando um movimento transversal sobre as trilhas dispostas
no disco, de modo a realizar as operaes de leitura e gravao sobre a trilha.
Monteiro (2007) arma, ainda, que as diversas trilhas de um disco so nu-
meradas, ou seja, possuem um endereo especco, a partir da trilha mais
externa (endereo 0), at a trilha mais interna (endereo N-1). Dessa forma,
como cada trilha possui grande capacidade de armazenamento de bytes,
elas so divididas em pedaos menores, chamados setores. A Figura 7.12
mostra os conceitos de trilha e setor.
Setor
Trilha
Disco
Figura 7.12: Trilhas e setores
Fonte: http://www.infowester.com/hds1.php
Trilha
Trilha: um caminho (linha)
circular na superfcie de um
disco, no qual a informao
magneticamente gravada e do
qual a informao gravada lida.
Pode-se dizer que uma trilha
um conjunto de setores consecu-
tivos no disco que contm blocos
de dados. Cada trilha armazena a
mesma quantidade de bytes
Setor
Setor: uma subdiviso de uma
trilha. Seria anlogo a uma
fatia de uma pizza. Cada setor
armazena uma determinada
quantidade de dados.
e-Tec Brasil Aula 7 - Dispositivos de entrada e sada 107
Conforme apresentado, o disco rgido pode conter vrios discos. Existe uma
cabea de leitura/gravao para cada face (lado) do disco. As cabeas cam
montadas em um brao, movido por um elemento chamado atuador. Se-
gundo Monteiro (2007), como os braos/cabeas se movimentam juntos,
quando o atuador se desloca para acessar uma determinada trilha de certa
superfcie (ex.: trilha 12 da superfcie 05), todas as cabeas estacionam sobre
a trilha de mesmo endereo (no exemplo, trilha 12) em cada superfcie (ou
face de um dos discos).
Dessa forma o conjunto de trilhas de mesmo endereo (localizadas em cada
superfcie), acessado em um nico movimento do atuador, denomina-se ci-
lindro. Destaca-se que o acesso por cilindro aumenta a produtividade do
sistema de disco, quando se movimentam grandes volumes de dados, pelo
fato de economizar tempo de busca (seek), em relao ao acesso trilha por
trilha (MONTEIRO, 2007).
Pelo fato de as cabeas de leitura/gravao estarem axadas em uma mes-
ma haste, todas as cabeas movimentam-se juntas. A Figura 7.13 apresenta
o esquema da estrutura de um disco rgido com essas caractersticas. J a
Figura 7.14 mostra a imagem interna de um disco rgido tpico, tambm
apontando os principais elementos desse dispositivo.
Trilha
Cilindro
Discos
Cabea de
leitura / escrita
Braos
Disco Rgido
Figura 7.13: Esquema bsico da estrutura de um disco rgido
Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/historia-do-computador/unidades-de-memoria.php
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 108
Figura 7.14: Imagem interna de um disco rgido tpico
Fonte: http://www.fabiomw.com/blog/index.php/Windows/Page-2.html
Um aspecto importante dos discos rgidos e que est diretamente relacio-
nado ao seu desempenho o tempo de acesso, o qual, segundo Monteiro
(2007), o perodo gasto entre a ordem de acesso (de posse do respectivo
endereo) e o nal da transferncia dos bits. Segundo o autor, esse tempo
formado pela soma de trs tempos menores, conforme segue:
a) Tempo de busca (seek) - gasto para interpretao do endereo pela uni-
dade de controle e movimento mecnico do brao para cima da trilha
desejada;
b) Tempo de latncia - perodo decorrido entre a chegada da cabea de lei-
tura e gravao sobre a trilha e a passagem do bloco (setor) desejada so-
bre a referida cabea (o que depende da velocidade de rotao do disco);
c) Tempo de transferncia - gasto para a efetiva transmisso dos sinais el-
tricos (bits) para o dispositivo destinatrio.
Resumo
Nesta aula discutimos alguns dos conceitos e caractersticas dos dispositivos
de E/S. Classicamos tais dispositivos em duas categorias: entrada (teclado,
mouse, webcam, modem, disco rgido) e sada (impressoras, disco rgido, mo-
nitor de vdeo). Destacamos que os discos rgidos, assim como outros meios
de armazenamento, so dispositivos tanto de entrada quanto de sada.
Sublinhamos algumas observaes relevantes que inuenciam na comuni-
cao dos dispositivos com a UCP e memria principal: grande diferena de
velocidade entre UCP e os dispositivos de E/S, alm de grandes diferenas
de velocidade entre os prprios dispositivos, como por exemplo, o disco r-
Anatomia de um Disco Rgido.
Disponvel em:
http://www.clubedohardware.
com.br/artigos/Anatomia-de-
um-Disco-Rigido/1056/5.
Acesso em: 19 jul. 2010.
Conhecendo o Disco Rgido (HD).
Disponvel em:
http://www.infowester.com/
hds1.php.
Acesso em: 19 jul.2010.
Mouses: funcionamento, tipos
e principais caractersticas.
Disponvel em:
http://www.infowester.com/
mouse.php.
Acesso em: 19 jul. 2010.
e-Tec Brasil Aula 7 - Dispositivos de entrada e sada 109
gido que mais rpido que o teclado. Alm da velocidade, outro aspecto
que diferencia os dispositivos de E/S a sua forma de comunicao. Assim,
segundo Monteiro (2007), pode-se dizer que a comunicao entre o ncleo
do computador e os dispositivos de E/S poderia ser classicada em:
Comunicao serial: a informao pode ser transmitida/recebida, bit
a bit, um em seguida do outro;
Comunicao paralela: a informao pode ser transmitida/recebida
em grupos de bits de cada vez, isto , um grupo de bits transmitido
simultaneamente de cada vez.
Na prtica a UCP no se conecta diretamente com cada perifrico, mas sim
com dispositivos que realizam a traduo e a compatibilizao das carac-
tersticas de um (dispositivo de E/S) para o outro (UCP/MP), alm de realizar
outras tarefas de controle.
Tais dispositivos possuem algumas denominaes. A mais comum seria inter-
face de E/S, mas comercialmente podem ser encontrados como controlador
ou adaptador, adicionando-se o nome do dispositivo (ex.: controlador de
vdeo, controlador de disco).
Diversas formas de comunicao entre UCP e memria principal foram pro-
postas, as quais sofreram melhorias ao longo do tempo, buscando sempre
alcanar uma melhor utilizao da UCP e um melhor desempenho para o
sistema como um todo. Murdocca (2000) destaca trs mtodos para ge-
renciar a entrada e sada, so eles: Entrada e sada programada, entrada e
sada controlada por interrupo, acesso direto memria (DMA) o que
utilizado atualmente.
O DMA consiste em fazer com que o controlador de um dispositivo leia e es-
creva dados de ou para a memria sem a interveno da UCP. A UCP avisada
apenas no incio e no nal da operao de transferncia entre dispositivo e
memria principal. Esse mtodo utilizado atualmente pelos computadores.
O aviso UCP gerado por uma interrupo, ou seja, um evento ou um
aviso UCP de que algum dispositivo est solicitando a realizao de uma
operao (ex.: recebimento de dados via rede, a presso de uma tecla).
Um dispositivo chamado controlador de interrupes responsvel por rece-
ber e encaminhar pedidos de interrupes UCP, j que existe somente uma
linha de interrupo para essa nalidade.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 110
Alguns dos principais dispositivos de E/S foram apresentados, destacando-
-se suas principais caractersticas de construo e funcionamento: teclado,
vdeo, impressoras e disco rgido.
Atividades de aprendizagem
As questes e, f, h e l devem ser respondidas no blog Aspectos
de Entrada e Sada disponvel no AVEA. As demais questes devem ser res-
pondidas em arquivo texto e postadas como atividade no AVEA.
Responda aos seguintes questionamentos sobre os dispositivos de E/S:
a) O que caracteriza os dispositivos de entrada e os de sada? Exemplique
cada um deles.
b) Explique a diferena entre a comunicao serial e paralela para disposi-
tivos de E/S.
c) No que consiste um controlador ou interface de E/S? Qual a sua funo
no sistema computacional? Exemplique.
d) Quais so as metodologias de comunicao entre UCP e dispositivos de
E/S? Qual a metodologia utilizada atualmente pelos computadores? Qual
a vantagem dessa tecnologia em relao s suas antecessoras?
e) O que uma interrupo? Exemplique.
f) Qual a relao de uma interrupo com as metodologias de comunica-
o entre UCP e dispositivos de E/S?
g) Quais as tecnologias de fabricao de teclas existentes? Qual a mais
utilizada? Explique o seu funcionamento.
h) Explique as diferenas existentes entre um monitor de vdeo do tipo CRT
e do tipo LCD.
i) Explique o funcionamento de cada um dos tipos de impressoras.
j) Explique o funcionamento bsico dos discos magnticos.
k) Qual a relao entre a rotao que ocorre no eixo de um disco rgido com
o seu desempenho de leitura/gravao? Explique.
e-Tec Brasil Aula 7 - Dispositivos de entrada e sada 111
Referncias
ALECRIM, E. Memrias RAM e ROM. Disponvel em: http://www.infowester.com/
memoria.php. Acesso em: 20 maio 2010.
ALECRIM, E. Processadores - Parte 1: clock, bits, memria cache e
mltiplos ncleos. Disponvel em: http://www.infowester.com/processadores1.php.
Acesso em: 20 maio 2010.
COMPUTADOR ANALGICO. In: WIKIPEDIA, a enciclopdia livre. Flrida: Wikimedia
Foundation, 2010. Disponvel em: <http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Computador_
anal%C3%B3gico&oldid=21384910>. Acesso em: 22 maio 2010.
CIRCUITO INTEGRADO. In: WIKIPEDIA, a enciclopdia livre. Flrida: Wikimedia Foundation,
2010. Disponvel em: <http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Circuito_
integrado&oldid=22745851>. Acesso em: 22 maio 2010.
GDHPRESS. Como funciona o LCD. Disponvel em: http://www.gdhpress.com.br/
hmc/leia/index.php?p=cap7-3. Acesso em: 15 jun. 2010.
MONTEIRO, Mrio A. Introduo organizao de computadores. Rio de
Janeiro: LTC, 2007.
MURDOCCA, Miles J. Introduo arquitetura de computadores. Rio de
Janeiro: Campus, 2000.
PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Organizao e projeto de computadores: a
interface hardware/sofware. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 551p.
TANENBAUM, Andrew S. Organizao estruturada de computadores. So
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
TORRES, G. ROM. Disponvel em: http://www.clubedohardware.com.br/dicionario/
termo/239. Acesso em: 21 maio 2010.
Organizao e Arquitetura de Computadores e-Tec Brasil 112
Currculo da professora-autora
Possui graduao em Tecnologia em Processamento de Dados pela Univer-
sidade Tecnolgica Federal do Paran (1999) e mestrado em Engenharia
Eltrica e Informtica Industrial, com nfase em Informtica Industrial pelo
Programa de Ps-Graduao em Engenharia Eltrica e Informtica Industrial
(CPGEI) da Universidade Tecnolgica Federal do Paran (2006).
Atua h mais de oito anos em cursos superiores da rea de informtica. Atu-
almente professora de ensino superior da Universidade Tecnolgica Federal
do Paran (UTFPR). Possui experincia na rea de Cincia da Computao,
com nfase em Sistemas de Informao, atuando na realizao de trabalhos
nos seguintes temas: organizao e arquitetura de computadores, engenha-
ria de software, sistemas colaborativos e tecnologias educacionais.
e-Tec Brasil 113 Currculo da professora-autora
Eliane Maria de Bortoli Fvero
Organizao e Arquitetura
de Computadores
Curso Tcnico em Informtica
Você também pode gostar
- Como Dominar A Magia Da Personalidade Penetrante - A Doutrina CafajesteDocumento77 páginasComo Dominar A Magia Da Personalidade Penetrante - A Doutrina CafajesteSuyan França75% (8)
- Analise de SistemasDocumento86 páginasAnalise de SistemasLuiz Fernando Reinoso100% (1)
- Organizacao e Arquitetura de ComputadoresDocumento116 páginasOrganizacao e Arquitetura de ComputadoresWesley NobregaAinda não há avaliações
- Arquitetura de Computadores IDocumento59 páginasArquitetura de Computadores IJoseph Donald100% (1)
- Arquitetura de Computadores - WebDocumento100 páginasArquitetura de Computadores - WebAnderson Costa100% (3)
- Arquitetura de ComputadoresDocumento100 páginasArquitetura de ComputadoresGuilherme De Almeida SouzaAinda não há avaliações
- Arquitetura de ComputadoresDocumento102 páginasArquitetura de ComputadoresSandra OliveiraAinda não há avaliações
- AMARAL, Allan Francisco Forzza. Arquitetura de ComputadoresDocumento101 páginasAMARAL, Allan Francisco Forzza. Arquitetura de ComputadoresBiblioteca Faculdades LondrinaAinda não há avaliações
- Arquitetura de ComputadoresDocumento72 páginasArquitetura de ComputadoresJessie JacksonAinda não há avaliações
- Sistemas OperacionaisDocumento80 páginasSistemas Operacionaisaspforte100% (1)
- Fundamentos de Redes de ComputadoresDocumento89 páginasFundamentos de Redes de ComputadoresJuliano Lauria100% (4)
- Instalador e Reparador de Redes de ComputadoresDocumento143 páginasInstalador e Reparador de Redes de ComputadoresgermanogtsAinda não há avaliações
- Instalador e Reparador de Redes de ComputadoresDocumento143 páginasInstalador e Reparador de Redes de ComputadoresdanilloemgAinda não há avaliações
- Curso Tecnico em Manutencao e Suporte em InformaticaDocumento50 páginasCurso Tecnico em Manutencao e Suporte em InformaticaRodrigo MarcelinoAinda não há avaliações
- Inglês para InformáticaDocumento92 páginasInglês para InformáticaMaria Isabel100% (1)
- Sistemas Operacionais Etc.Documento80 páginasSistemas Operacionais Etc.Michele RibeiroAinda não há avaliações
- Arquitetura de ComputadoresDocumento126 páginasArquitetura de ComputadoresAndre DosciatiAinda não há avaliações
- APOSTILA COUTINHO 08 - Sistemas - OperacionaisDocumento80 páginasAPOSTILA COUTINHO 08 - Sistemas - OperacionaisTerukoKajiharaAinda não há avaliações
- Introducao A Computacao COR Capa Ficha - 20110502 PDFDocumento54 páginasIntroducao A Computacao COR Capa Ficha - 20110502 PDFMatheus C OliveiraAinda não há avaliações
- Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados CAPA Ficha 20130308Documento96 páginasSistemas de Gerenciamento de Banco de Dados CAPA Ficha 20130308Cássio RamosAinda não há avaliações
- Apostila de Sistemas Operacionais 1 PDFDocumento90 páginasApostila de Sistemas Operacionais 1 PDFAnderson Goulart100% (1)
- Programação WebDocumento90 páginasProgramação WebelisabeteAinda não há avaliações
- Redes ComputadoresDocumento89 páginasRedes ComputadoresChristoph de FreitasAinda não há avaliações
- Apostila Estrutura de Dados em CDocumento152 páginasApostila Estrutura de Dados em CProfpatrick ExatasAinda não há avaliações
- E-TEC Brasil - Inglês para InformáticaDocumento92 páginasE-TEC Brasil - Inglês para InformáticaLuna BallackAinda não há avaliações
- Finalizada-Redes Computadores 21.07.15Documento112 páginasFinalizada-Redes Computadores 21.07.15Islenegomes100% (1)
- INFO - EBOOK - Rede E-Tec Brasil - Rede de ComputadoresDocumento112 páginasINFO - EBOOK - Rede E-Tec Brasil - Rede de ComputadoresSergio Gomes Ferreira100% (1)
- Material de Apoio - Algoritmo PDFDocumento160 páginasMaterial de Apoio - Algoritmo PDFGeovane LimaAinda não há avaliações
- Aplicativos para WEBDocumento140 páginasAplicativos para WEBJarbas CordeiroAinda não há avaliações
- Apostila Analise de SistemasDocumento89 páginasApostila Analise de SistemasYago SilvaAinda não há avaliações
- Fundamentos e Arquitetura de ComputadoresDocumento140 páginasFundamentos e Arquitetura de ComputadoresJCHEAVY50% (4)
- Estrutura de Dados em C PronatecDocumento152 páginasEstrutura de Dados em C PronatecAriane PaivaAinda não há avaliações
- Técnicas de Programação PDFDocumento116 páginasTécnicas de Programação PDFLuiz Henrique XavierAinda não há avaliações
- Manutencaomontagemms Cor Capa Ficha Isbn 20120828Documento116 páginasManutencaomontagemms Cor Capa Ficha Isbn 20120828Luana Araujo100% (1)
- Montagem e Manutenção de Micro PDFDocumento95 páginasMontagem e Manutenção de Micro PDFRanildo Lopes100% (1)
- INFO - EBOOK - Rede E-Tec Brasil - Software de Analise e Monitoramento de HardwareDocumento72 páginasINFO - EBOOK - Rede E-Tec Brasil - Software de Analise e Monitoramento de HardwareSergio Gomes FerreiraAinda não há avaliações
- Progr ObjDocumento136 páginasProgr Objpfind10100% (1)
- Manut MontDocumento115 páginasManut MontDimitry RodriguesAinda não há avaliações
- Rede ComputadoresDocumento166 páginasRede ComputadoresNaiaraAinda não há avaliações
- Images Stories PDF Eixo Infor Comun Tec Inf 081112 Protserv RedesDocumento80 páginasImages Stories PDF Eixo Infor Comun Tec Inf 081112 Protserv RedesMayc Gomes ChavesAinda não há avaliações
- Plano de EstudosDocumento2 páginasPlano de EstudosCurso OpsAinda não há avaliações
- Fundamentos Redes Computadores PB Capa 20100729 ISBNDocumento50 páginasFundamentos Redes Computadores PB Capa 20100729 ISBNSávio FelipeAinda não há avaliações
- Livro Técnico de RedesDocumento47 páginasLivro Técnico de RedesDan SantosAinda não há avaliações
- Montagem e Manutencao de ComputadoresDocumento116 páginasMontagem e Manutencao de ComputadoresFilipeFlixAinda não há avaliações
- Livro Redes - IEMADocumento115 páginasLivro Redes - IEMAmfomouraAinda não há avaliações
- Algoritmos EmailDocumento134 páginasAlgoritmos EmailsharingdocsAinda não há avaliações
- Eduinblocks: proposta de uma plataforma blockchain para auxiliar no processo de gestão educacionalNo EverandEduinblocks: proposta de uma plataforma blockchain para auxiliar no processo de gestão educacionalAinda não há avaliações
- Aplicativos e jogos digitais na matemática: como utilizá-los e quais resultados alcançar?No EverandAplicativos e jogos digitais na matemática: como utilizá-los e quais resultados alcançar?Ainda não há avaliações
- Programação Básica Com VisualgNo EverandProgramação Básica Com VisualgAinda não há avaliações
- Da internet para a sala de aula: Educação, tecnologia e comunicação no BrasilNo EverandDa internet para a sala de aula: Educação, tecnologia e comunicação no BrasilNota: 3 de 5 estrelas3/5 (2)
- Oficina de Robótica no processo educacionalNo EverandOficina de Robótica no processo educacionalAinda não há avaliações
- Ferramentas Tecnológicas Para O Ensino: Educação Digital De QualidadeNo EverandFerramentas Tecnológicas Para O Ensino: Educação Digital De QualidadeAinda não há avaliações
- Tecnologias e inovações nas práticas pedagógicas: Trajetórias e experiênciasNo EverandTecnologias e inovações nas práticas pedagógicas: Trajetórias e experiênciasAinda não há avaliações
- A Utilização Da Informática Educativa No Ensino Fundamental Ii:No EverandA Utilização Da Informática Educativa No Ensino Fundamental Ii:Ainda não há avaliações
- Percurso científico-pedagógico de construção da UC de “Artes e Multimédia”: sentido de partilha (roteiros de aprendizagem)| ambiente tecnológico (elearning)| foco de inovação (MOOC)No EverandPercurso científico-pedagógico de construção da UC de “Artes e Multimédia”: sentido de partilha (roteiros de aprendizagem)| ambiente tecnológico (elearning)| foco de inovação (MOOC)Ainda não há avaliações
- Engenharia de Software para Ciência de Dados: Um guia de boas práticas com ênfase na construção de sistemas de Machine Learning em PythonNo EverandEngenharia de Software para Ciência de Dados: Um guia de boas práticas com ênfase na construção de sistemas de Machine Learning em PythonAinda não há avaliações
- Vin Dicarlo - Jogo Natural EstruturadoDocumento33 páginasVin Dicarlo - Jogo Natural EstruturadoRRodrigo Kaster100% (2)
- A Persuasão - Estratégia para Uma Comunicação InfluenteDocumento115 páginasA Persuasão - Estratégia para Uma Comunicação InfluenteRafael Santos LemosAinda não há avaliações
- Como Canversar Com Mulheres Na Hora Da SeduçaoDocumento10 páginasComo Canversar Com Mulheres Na Hora Da SeduçaoManuel Musse80% (5)
- Como Lidar Com MulheresDocumento185 páginasComo Lidar Com Mulhereseduquartieri1100% (3)
- A Arte Secreta Da Hipnose ConvertDocumento384 páginasA Arte Secreta Da Hipnose ConvertMarcelloAugusto100% (1)
- Comandos NMAPDocumento9 páginasComandos NMAPMarcelloAugustoAinda não há avaliações