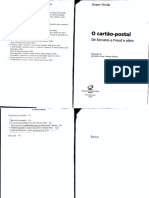Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
1 PB
1 PB
Enviado por
Lucas Santos0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações12 páginasTítulo original
55708-70222-1-PB
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações12 páginas1 PB
1 PB
Enviado por
Lucas SantosDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 12
Do conceito de inoperosidade no recente
vulto de Giorgio Agamben
Daniel Arruda Nascimento
1
Resumo: O trabalho exposto a seguir se dispe a examinar o conceito de inoperosit, pro-
posto por Giorgio Agamben, j nas ltimas fases do seu projeto denominado Homo Sacer,
e apontado como um dos possveis veculos de evaso do diagnstico da hipertrofa do
poder soberano e da vida nua. Procedendo ento leitura e anlise de Il regno e la gloria,
publicado em 2007, e Nudit, de 2009, dever o texto que se inicia no somente recupe-
rar a gnese de tal conceito como tentar demonstrar de que modo ele se apresenta para
aqueles que se disponibilizam na tarefa de pensar a poltica contempornea, sem deixar,
evidentemente, de se questionar a respeito de sua fora de penetrao. Importa ainda
investigar como se daria a absoro conceitual da noo de inoperosidade e as vias possveis
de desarticulao dos dispositivos do poder, operadores tanto da relao entre direito e
violncia, quanto da relao entre valorao cultural e saber.
Palavras-chave: Filosofa poltica Giorgio Agamben inoperosidade.
O esforo de empreendimento flosfco promovido por Giorgio Agam-
ben certamente mais conhecido em virtude de seu projeto Homo Sacer, iniciado
em 1995, com a primeira publicao de Homo sacer: il potere sovrano e la nuda vita.
Trata-se de um programa produtivo de longa durao e o ponto em que se en-
contra atualmente ainda nos remete ao diagnstico sombrio e hermtico l visua-
lizados. Dialogando com Carl Schmitt, Agamben havia mostrado que o conceito
de soberania, to relevante na constituio de um estado civil de ordem e de
paz, revelava alguns paradoxos difceis de serem ignorados: o soberano est ao
1 Professor Adjunto da Universidade Federal do Piau. Graduado em Direito pela Uni-
versidade Federal Fluminense, Mestre em Filosofa pela Pontifcia Universidade Catlica
do Rio de Janeiro e Doutor em Filosofa pela Universidade Estadual de Campinas. E-mail
danielnascimento@voila.fr.
Nascimento, D. A., Cadernos de tca e Filosofa Poltca 17, 2/2010, pp.79-101. 80
Do conceito de inoperosidade no recente vulto de Giorgio Agamben
81
mesmo tempo dentro e fora do ordenamento jurdico; sendo o soberano a per-
sonifcao do excepcional, a regra no vive seno da exceo; a relao poltica
originria a relao de excluso, de abandono. Com Walter Benjamin e outros,
Agamben havia ressaltado que vivemos hoje num virtual e permanente estado
de exceo, aquele estado de suspenso da lei no qual tudo se torna novamente
possvel, inclusive a violncia impune. Com Michel Foucault, Agamben havia
asseverado que o resultado da biopoltica moderna, consubstancializada no cl-
culo e na deciso sobre a vida, a vida nua, a vida desprovida de proteo. Mais:
sem desprezar as diferenas conceituais e histricas, podemos dizer que, do
ponto de vista da biopoltica, democracia e totalitarismo chegam a resultados
semelhantes
2
. A leitura assdua dos textos do flsofo italiano nos coloca, con-
tudo diante de uma interrogao, convertida em problema: indagamo-nos pelo
que vir depois do diagnstico.
O que h depois do diagnstico? H algo que exija nossa ateno, nosso
pensamento ou nossa ao? H qualquer coisa aps a identifcao e a descrio
minuciosa das circunstncias de uma situao que se apresenta para anlise? O
que fazer com um prospecto sombrio de tal monta nas mos? Essas e outras per-
guntas derivadas so comuns quando nos deparamos com um modo de flosofar
que parece comprometido to somente com a crtica do que v. Esquecemo-nos
que nem toda crtica precisa trazer anexada a si laudas de propostas. Saber iden-
tifcar os problemas e express-los de maneira inteligvel j possui uma relevncia
extraordinria. So os problemas que nos levam adiante na difcil tarefa da flo-
sofa. Nada impede que um flsofo termine o seu percurso, ou ao menos parte
dele, com um imenso e negro ponto de interrogao, tal como Nietzsche pode
faz-lo em Crepsculo dos dolos
3
. Talvez tambm Agamben se insira na tradio
do que Karl Jaspers nominou de profetas da comunicao indireta, ou seja, aqueles
mestres que se recusam a serem profetas, que somente estimulam, chamam a
ateno, criam um estado de intranqilidade, que tornam as coisas problemticas
e difcultosas, mas no do prescries, no ensinam como viver, no oferecem
2 NASCIMENTO, Do fm da experincia ao fm do jurdico.
3 Prlogo de NIETSzCHE, Crepsculo dos dolos, p. 07.
nada de positivo
4
. Talvez por esse motivo seja mtodo tpico de Agamben cor-
tar o curso do desenvolvimento da argumentao para retornar posio original
e tomar a questo por um outro ngulo, s vezes interpondo novos conceitos
balizantes. Mostrar os pontos obscuros de seu tempo, mapear os fenmenos,
carreg-los com aquela intensidade peculiar ao pensamento flosfco, o que
torna um flsofo contemporneo ao seu tempo. Os escritos de Agamben esto
para a flosofa poltica como os flmes de Federico Fellini para o cinema: menos
do que ter realmente algo a dizer, eles surgem com a deliberada inteno de expor
ao ridculo, ajustando o foco, e alargar as feridas, fazendo doer.
Apesar disso, h momentos em que o flsofo italiano acena para alter-
nativas possveis. Entre eles, o que reputo ter maior relevncia se consubstancia
na evocao de um conceito anelar, com o qual promete o revrbero de um dia-
paso de longo alcance. Refro-me ao conceito de inoperosit, traduzido aqui por
inoperosidade. Nas linhas que se seguem, preparo a compreenso da formao do
conceito nos dois livros que, ao fnal da primeira dcada do sculo vinte e um,
o lanam defnitivamente, embora um prefcio integrado La comunit che vie-
ne, publicado em 2001, j tenha individualizado e se reportado inoperosidade
como o paradigma da poltica que vem ou, de modo ainda mais enigmtico,
como uma operao na qual o como substitui integralmente o que
5
. Bus-
quemos, por enquanto, entrever o que patenteia e tenciona o flsofo com a
interveno do novo conceito.
O momento em que o conceito de inoperosidade aparece, pela primeira
vez, com toda a sua lucidez conceitual se afna com a publicao de Il regno e la
gloria, em 2007. A gnese do conceito se d nitidamente em trs passos. Primeiro,
trata-se de mostrar como o paralelo entre monarquia humana e monarquia divina
no pode ser esquecido sem que se perca um dado importante de compreenso
do poder poltico. A seguir, como a noo de inoperosidade, tanto no caso da
monarquia divina quanto naquele da monarquia humana, j se insere desde o
incio no mbito de seus atributos prprios. Ao fnal, como torna-se necessrio,
4 JASPERS, Psicologa de las concepciones del mundo, pp. 487-488.
5 AGAMBEN, La comunit che viene, pp. 92-93.
Nascimento, D. A., Cadernos de tca e Filosofa Poltca 17, 2/2010, pp.79-101. 82
Do conceito de inoperosidade no recente vulto de Giorgio Agamben
83
cada vez mais, pensar um novo modo de inoperosidade que nos auxilie na aber-
tura de novos caminhos polticos.
O campo inicial no qual Agamben situa sua refexo sobre a genealogia
teolgica da economia e do governo a disputa terica entre Carl Schmitt e Erich
Peterson, dois adversrios do sculo vinte que, apesar de tudo, dividiam pressu-
postos teolgicos comuns, acerca da admissibilidade e das vicissitudes da teologia
poltica. Ambos, ainda que os consideremos equivocados em suas escolhas e
convices pessoais, prestam um valoroso servio ao entendimento de fen-
menos polticos enraizados historicamente. Enquanto o primeiro, com sua tese
lapidar, enuncia que todos os conceitos decisivos da moderna doutrina do Esta-
do so conceitos teolgicos secularizados
6
, o segundo, atravs da anlise detida
de textos teolgicos clssicos, herdados por ns mesmo que indiretamente ou
como referncia desconhecida, expe a afnidade de imagens entre o poltico e
o teolgico. De acordo com o estudo de Peterson, acompanhado por Agamben,
Eusbio de Cesareia, telogo cristo do sculo quatro, estabelece uma prxima
correspondncia entre a vinda de Cristo sobre a terra como salvador de todas
as naes e a instaurao por Augusto de um poder imperial sobre toda a terra,
confrmada posteriormente com a reunifcao e restaurao original promovida
por Constantino
7
. Paulo Orsio, historiador cristo prximo a Agostinho, no
sculo cinco, se utilizando da imagem do recenseamento romano, defenderia o
paralelismo entre a unidade do imprio mundial e a revelao cumprida pelo
nico Deus. Em todos os casos, o fo condutor da interpretao sempre reivin-
dica a visibilidade de um poder monrquico, concebido como o nico capaz de
garantir a unidade harmnica e eliminar a possibilidade de contradio, uma vez
que um poder dividido em partes sempre conta com a hiptese de oposio entre
elas. A monarquia traria o elemento de coerncia e coeso desejado por qualquer
poder. imagem de uma monarquia indivisa nem mesmo a opulncia do dogma
trinitrio teria o condo de fragilizar: Gregrio de Nissa, pouco antes do Conc-
lio de Constantinopla que, no ano de 381, afrmou defnitivamente sua doutrina,
6 SCHMITT, Politische Theologie, p. 49 apud AGAMBEN, Il regno e la gloria, p. 14.
7 AGAMBEN, Il regno e la gloria, p. 22.
havia j consagrado a tese segundo a qual a Trindade, ainda que comportando
trs modos de ser, seria nica na sua substncia. Deus seria uno na substncia
e trino na economia, sem dissoluo de comunho
8
. O desafo para os telogos
sempre foi o de demonstrar como se poderia, admitida a diversidade de fun-
es, manter ainda a unidade irrenuncivel notemos que a economia trinitria
comporta uma diversidade de funes, aparentes especialmente nos atributos de
louvao dirigidos a cada uma das pessoas: o Pai, criador de tudo o que existe,
o Filho, redentor, salvador, senhor e juiz, o Esprito Santo, transmissor da vida
e comunicador do amor divino (elementos distintos na doxologia crist). Outro
desafo era de evitar, com relao concepo de Deus, a fratura entre ontologia
e prtica, entre ser e agir. Se Deus decide governar o mundo, algo que diverge de
si em substncia, esse governo no pode estar separado de sua natureza unitria.
A possibilidade de tal governo no pode permitir que o indcio de diversidade
seja compreendido associativamente com qualquer espcie de politesmo.
Temos ento na monarquia, o poder emanado de uma nica fonte, o mo-
delo de perfeio. A imagem de um poder capaz de ser e agir sem contradio, sem
que suas partes ou suas ordens sejam viciadas por uma crise de oposio, habita o
senso comum popular de um perodo que se inicia em tempos imemoriais, tanto no
mbito teolgico quanto no poltico, desde a proclamao do monotesmo consa-
grao dos grandes reis e compilaes promovidas pelos Cdigos de Hamurabi e
Ur-Nammu, e viceja at os nossos dias. Mesmo Montesquieu, aquele que deixaria
teoria poltica ocidental a concepo formal da doutrina da tripartio do poderes,
8 Vejamos como se d a argumentao de Gregrio: trs so as mais antigas opinies
sobre Deus: a anarquia, a poliarquia e a monarquia. [...] A anarquia , de fato, sem ordem; a po-
liarquia a guerra civil e, neste sentido, anarquia e sem ordem. Ambos conduzem ao mesmo
fnal, a desordem, e assim dissoluo. A desordem prepara a dissoluo. Ns, ao contrrio,
honramos a monarquia; mas no aquela monarquia que circunscrita a uma s pessoa
tambm o uno, se entra em guerra civil contra si mesmo, produz multiplicidade mas aquela
que mantida unida por uma igual dignidade de natureza, por um acordo de pensamento, de
identidade de movimento, do convergir em unidade do que provm de si, de um modo que
impossvel natureza gerada. De tal modo, mesmo que diferente por nmero, quanto subs-
tncia no se divide. [...] Isto para ns o Pai, o Filho e o Esprito Santo [...] (GREGRIO
DE NISSA, Or., XXIX, 2, p. 694 apud AGAMBEN, Il regno e la gloria, p. 25).
Nascimento, D. A., Cadernos de tca e Filosofa Poltca 17, 2/2010, pp.79-101. 84
Do conceito de inoperosidade no recente vulto de Giorgio Agamben
85
toma os maiores cuidados para que sua sugesto no seja vista apenas como uma
mera diviso: a distino dos poderes legislativo, executivo e judicirio proposta
como meio efcaz de garantia da liberdade poltica, mas cumpre o que promete
somente se eles agem coordenadamente na consecuo dos mesmos fns. Se uma
relao viciosa insanvel se alojar no sistema de diviso de poderes, o resultado
justamente o oposto do que a princpio se desejaria: um confito exorbitante levaria
ao enfraquecimento do Estado e derrocada dos auspcios de liberdade
9
.
O segundo passo, consumado por Agamben, realizado por duas ofen-
sivas que se completam e possuem como elo de ligao a mesma fnalidade: mos-
trar como o conceito de inoperosidade marca a concepo do poder monoltico.
Por um lado, trata-se de compreender como a tradio aristotlica, herdada pela
teologia ocidental, se presta com o maior rigor defesa da inoperosidade origin-
ria do divino. Por outro, como a visibilidade da inoperosidade do poder poltico
mundano, cristalizada na fgura do rei, produz fundamento e se torna desejada
pelo iderio de majestade.
De acordo com a anlise de Agamben, no tratado pseudoaristotlico So-
bre o mundo, a oposio binria entre essncia (ousa) e potncia (dnamis) constitui
o paradigma da distino entre ser e agir divinos. Utilizando-se de passagens do
mencionado escrito, o flsofo italiano esclarece que:
os antigos flsofos que afrmaram que todo o mundo sensvel
pleno dos deuses, enunciaram um discurso que convm no
ao ser de Deus, mas sua potncia. Enquanto Deus reside,
em verdade, na regio mais alta dos cus, a sua potncia se
difunde por todo o cosmos e causa da conservao de to-
das as coisas que esto sobre a terra. [...] Ele no trabalha
cansativamente por si prprio, mas faz uso de uma potncia
indefectvel, mediante a qual domina at mesmo aquelas coisas
que parecem muito longe dele
10
.
9 MONTESQUIEU, O esprito das leis, Livro XI (especialmente o captulo VI).
10 AGAMBEN, Il regno e la gloria, p. 85. Algumas referncias foram suprimidas para tor-
nar mais fuido o texto.
Peterson, ao comentar o opsculo, no seu Monotesmo como problema poltico,
com o objetivo de provar que le roi regne, mais il ne gouverne pas, separa tambm arkh
e dnamis. Deus seria o pressuposto para que a potncia tenha ao no cosmos,
mas, por isso mesmo, pelo fato de ser pressuposto, ele mesmo no seria potncia.
Anterioridade lgica e autonomia de conduta distinguem essncia e potncia.
Em todo caso, a fonte da discusso que se desenrola durante todo o pe-
rodo flosfco medieval encontra sua raiz no texto aristotlico, no qual o autor
justifca o incio da relao natural de causalidade pela incurso de um Primeiro
Motor Imvel. Esforando-se para garantir uma passagem lgica da imobilidade
mobilidade, da transcendncia imanncia, Aristteles oferece, no livro XII
de sua Metafsica, o paradigma para os telogos interessados na compreenso da
distino entre reino e governo, entre o ser de Deus e a sua ao sobre o mundo.
Lemos no captulo oito: como no pode haver nenhum movimento que no
tenha por fm seno a si mesmo ou a um outro movimento (1074a), o primeiro
princpio ou ser primeiro no suscetvel de ser movido, quer em si mesmo, quer
acidentalmente, mas diga-se antes que ele que produz o movimento primeiro,
movimento eterno e nico (1073a)
11
. A origem de todo movimento ontolgico,
toda relao de causalidade presente no curso da natureza e, em ltima anlise,
de toda passagem entre dnamis e enrgeia, potncia e ato, ocupada pelo Pri-
meiro Motor Imvel. Um Primeiro Motor Imvel, relacionado com o divino
pelo prprio Aristteles, deve ser tomado como princpio e as qualidades que
o defnem sero expostas uma a uma: ele anterior, eterno, imvel, inaltervel,
imaterial, atualidade pura, necessrio, auto-sufciente, indivisvel, uno e separado
do sensvel. Embora no seja possvel concluir defnitivamente se o flsofo gre-
go endossa sem reservas uma tese monotesta ou politesta, ou monocintica ou
policintica, isto , se essa substncia uma s ou mais de uma (1073a), o fato
que tal disputa perde aqui o seu relevo na medida em que, admitida uma esfera
nica de Entidade Imvel
12
, so tantos os motores imveis quanto forem os
movimentos independentes e eternos, no contraditrios entre si. De qualquer
11 ARISTTELES, Metafsica.
12 MERLAN, Os motores imveis de Aristteles, p. 34.
Nascimento, D. A., Cadernos de tca e Filosofa Poltca 17, 2/2010, pp.79-101. 86
Do conceito de inoperosidade no recente vulto de Giorgio Agamben
87
maneira, o ponto nevrlgico da teoria aristotlica para a economia teolgica ser
a passagem da imobilidade para a mobilidade e a possibilidade de concebermos
algo separado que existe por si mesmo (1075a). E o captulo que adquirir uma
especial importncia para a refexo de Agamben ser o dcimo, no qual Aris-
tteles coloca a questo da relao entre o supremo bem e o bem do mundo. A
temos a passagem da transcendncia para a imanncia, ou melhor, o problema
da relao entre transcendncia e imanncia do bem, que se torna assim aquele da
relao entre ontologia e prtica, entre o ser de Deus e a sua ao
13
. Acrescente-
se que a partir de ento no possvel ignorar, no que diz respeito transcen-
dncia, o paralelo entre poder divino e poder humano, sugerido mesmo pela
metfora do comandante e de seu exrcito, usada no texto aristotlico (1075a), o
que permite a Agamben concluir que:
em ltima instncia, o motor imvel como arch transcendente
e a ordem imanente (como physis) formam um nico sistema
bipolar e, malgrado a variedade e a diversidade das naturezas,
a casa-mundo governada por um princpio nico. O poder
todo poder, seja humano ou divino deve manter juntos estes
dois plos, deve ser, isto , igualmente, reino e governo, norma
transcendente e ordem imanente
14
.
No plano da mediao monrquica humana, a transcendncia do rei
justifcada em razo de uma funo mgico-religiosa e de sua proteo contra a
corrupo do mundo e a possibilidade de debilidade. O lingista francs mile
Benveniste, profusamente consultado por Agamben, explica que documentado
apenas em itlico, celta e indiano, ou seja, nos extremos ocidental e oriental do
mundo indo-europeu, rex pertence a um grupo antiqssimo de termos referen-
tes religio e ao direito
15
. Onde a palavra latina regio possui uma expresso ge-
13 AGAMBEN, Il regno e la gloria, p. 98, ligeiramente modifcado.
14 AGAMBEN, Il regno e la gloria, p. 97.
15 BENVENISTE, O vocabulrio das instituies indo-europias, volume II, p. 09.
omtrica e designa o ponto atingido em linha reta, rectus consiste analogamente
no reto tal como esta linha que se traa e d origem concepo de regra. A
partir de ento, reto ser o que se ope ao que torto, curvo, desviante:
Deve-se partir dessa noo totalmente material em sua origem,
mas pronta a se desenvolver no sentido moral, para entender
a formao de rex e do verbo regere. Essa dupla noo est
presente na importante expresso regere fnes, ato religioso, ato
preliminar da construo; regere fnes signifca literalmente tra-
ar as fronteiras em linhas retas. a operao executada pelo
grande sacerdote para a construo de um templo ou de uma ci-
dade, e que consiste em determinar o espao consagrado no terre-
no. Operao cujo carter mgico evidente: trata-se de delimitar
o interior e o exterior, o reino do sagrado e o reino do profano, o
territrio nacional e o territrio estrangeiro. Esse traado efetua-
do pela fgura investida dos mais altos poderes, o rex
16
.
O pargrafo mostra no somente a estreita ligao entre o religioso e o
jurdico, que desde o incio impregna as diversas manifestaes aparentemente
dspares, como expe com uma clareza meridiana a vocao real transcendncia
e separao do que possa ser contaminado pelo profano. Algo que nos faz re-
cordar a mais refnada descrio da transcendncia no sculo vinte, j fragilizado
na capacidade de divinizar reis: a imagem kafkiana do poder, em que dominantes
encastelados ou escondidos em tribunais s escuras, nunca se do a conhecer,
mas governam somente por meio de uma delegao incontvel de funcionrios
arranjados hierarquicamente, com um poder que promete ser sempre maior do
que a princpio se julga conhecer.
Com esclio em documentos de peritos cannicos medievais, Agamben
dir que a ignorncia, a velhice, a loucura ou a doena de um rei ou um prnci-
pe no implicavam necessariamente na sua deposio, mas na separao entre
16 BENVENISTE, O vocabulrio das instituies indo-europias, volume II, p. 14.
Nascimento, D. A., Cadernos de tca e Filosofa Poltca 17, 2/2010, pp.79-101. 88
Do conceito de inoperosidade no recente vulto de Giorgio Agamben
89
a dignidade, que resta irremovvel de sua pessoa, e o exerccio, transmissvel a
um administrador
17
. A tendncia considerar que a possibilidade de diviso do
poder seja mesmo um efciente subterfgio sua permanncia e manuteno.
Em Stato di eccezione, Agamben j havia se detido na refexo sobre o tema, quan-
do dedica um captulo separao entre auctoritas e potestas oriunda do Direito
Romano, fonte que maior infuncia irradiou sobre toda a formao do direito
ocidental. Tanto nas esferas privadas quanto na pblica, soube a tradio pol-
tica de Roma condicionar a perfeio dos atos jurdicos conjugao de dois
operadores distintos e complementares. No mbito do direito privado, para que
uma coisa existisse juridicamente, seria necessria a relao de dois elementos, de
dois sujeitos: aquele munido de auctoritas, por um lado, e, por outro, aquele que
toma a iniciativa do ato em sentido estrito, ou seja, aquele que detinha o poder
de realizao, aquele munido de potestas. A, auctoritas deriva de auctor e auctor era
aquele que podia aperfeioar e tornar vlido um ato jurdico produzido por um
outro (por exemplo, quando o pai intervinha para tornar vlido o ato jurdico
de um flho, como no caso em que este ltimo contraa matrimnio). No nos
deve causar espanto que em um sistema patriarcal a auctoritas derive da condio
de pater. J no mbito do direito pblico, auctoritas designava a prerrogativa do
Senado romano. A maioria dos historiadores concorda que o Senado s agia
mediante provocao (dos magistrados ou dos comcios populares), no por ini-
ciativa prpria, e a sua manifestao era menos que uma ordem e mais que um
conselho. A iniciativa pelo ato ou a sua realizao efetiva fcava sob o poder de
outros. Vemos novamente a dualidade dos elementos, reproduzindo a anterior.
Haveria portanto um sistema binrio entre auctoritas e potestas: somente pelo con-
curso dos dois operadores que no se confundem entre si poderia surgir o ato
jurdico perfeito
18
. Na falta de qualquer um deles, o que se verifcaria era o projeto
17 AGAMBEN, Il regno e la gloria, p. 113.
18 AGAMBEN, Stato di eccezione, pp. 95-100. Essa dualidade foi tambm explorada por
Hannah Arendt. Nas formas de governo especifcamente autoritrias, a fonte da autori-
dade deve estar alm da esfera do poder (Que autoridade?, pp. 150-151). No que diz
respeito ao imprio romano, uma frase do jurisconsulto Marco Tlio Ccero d conta da
diviso: cum potestas in populo auctoritas in senatu sit, enquanto o poder reside no povo, a au-
de uma armao inacabada e incapaz de produzir efeitos. Algumas fguras do
gnero so ainda bastante presentes nos sculos subseqentes e em nossos dias.
Na moderna teoria poltica, a elaborao da doutrina parlamentarista permite a
distino entre Chefe de Estado e de Governo, talvez na atualidade a forma mais
visvel da articulada ciso poltica entre ser e agir, onde o primeiro apenas desem-
penha preponderantemente a funo de representante do Estado, smbolo da
unidade e do liame moral nacional, ocupando uma posio exterior e acima das
disputas polticas cotidianas. Mais uma vez, o poder escalonado mostra-se pers-
picaz no que pouco havia sido descoberto por Maquiavel, preocupado mais com
a concentrao que com a difuso. Faltava ao flsofo forentino a sensibilidade
prpria do olhar poltico contemporneo, o que no falta ao preciso comentrio
de Agamben: a verdadeira razo da distino entre poder primrio e secundrio,
titularidade e execuo, que essa a condio necessria ao bom funcionamen-
to da mquina governamental
19
.
O vnculo entre inoperosidade e glria vir reforar a tese que associa a
monarquia inabdicabilidade do modo inoperoso de ser. Isto porque a imagem
da glria, tanto na tradio crist, quanto na tradio judaica que a precede, guar-
toridade repousa no Senado (De Legibus, 3, 12, 38 apud ARENDT, Que autoridade?,
p. 164). Com relao ao signifcado da palavra auctor para o direito romano, Agamben
nota que o termo deriva do verbo augere, aperfeioar, aumentar, acrescer. Dizendo isso,
o flsofo quer frisar o carter derivado e complementar da ao do auctor: ela age sobre
uma atividade alheia j existente mas, ao mesmo tempo, participa da sua criao. Ao se
referir mesma palavra, Hannah Arendt enfatiza a sua relao com o sentimento reli-
gioso romano. Para a poltica romana, a autoridade correspondia convico do carter
sagrado da fundao, dos esforos dos antepassados na fundao de uma cidade que
deveria permanecer pela eternidade. Nesse contexto, o verbo augere s encontrava o seu
sentido mais prprio quando aliado ao verbo re-ligare, na recuperao do passado e na re-
lao do presente com a tradio, e traduzido como o aumentar da fundao. A extenso
da palavra augere aparece, portanto, quando notamos que na cidade romana os dotados
de autoridade eram os ancios, o Senado e os patres, que a obtinham por transmisso dos
antepassados. Ademais, a fora coercitiva dessa autoridade estava ligada fora religiosa
coercitiva do auspices, espcie de consulta aos orculos para saber se aprovavam ou desa-
provavam as decises humanas (Que autoridade?, pp. 162-165).
19 AGAMBEN, Il regno e la gloria, p. 117.
Nascimento, D. A., Cadernos de tca e Filosofa Poltca 17, 2/2010, pp.79-101. 90
Do conceito de inoperosidade no recente vulto de Giorgio Agamben
91
da a memria de um Deus inoperoso, paradigma posterior ocupao do trono
terreno. O que o sbado judaico seno a revelao da inoperosidade como a di-
menso mais prpria de Deus e dos homens que a ele se dirigem? O que a vida
eterna prometida pelos telogos do cristianismo seno a cesso de toda atividade,
inclusive litrgica? A Carta aos Hebreus, escrita por aquele que uniria nas primeiras
comunidades crists as tradies antigas e novas, no exige do leitor nem mesmo
um esforo de exegese: ela denomina de inoperosidade a beatitude que aguarda
o povo de Deus. Paulo se refere inoperosidade como uma promessa e como a
condio dos que iro ingressar no reino, e na glria, de Deus. Algo retomado
posteriormente por Agostinho, quando reconhece a converso condicional e f-
nal dos crentes como um tornar-se sbado, glorioso e inoperoso. Mas:
se a condio ps-judicial coincide com a glria suprema e se
a glria nos sculos dos sculos tem a forma de um sbado
eterno, o que resta interrogar propriamente o sentido desta
intimidade entre glria e sabatismo. Ao incio e ao fm do po-
der mais alto est, segundo a teologia crist, no uma fgura da
ao e do governo, mas da inoperosidade. [...] A glria, tanto
na teologia quanto na poltica, precisamente o que toma o
posto do vazio impensvel que a inoperosidade do poder
20
.
Podemos dizer que toda a argumentao de Agamben prepara o seu ter-
ceiro passo, dado somente nas ltimas pginas de Il regno e la gloria, ainda que
timidamente. Nele aparecem os contornos expressivos que permitem ao leitor
visualizar o que desde o incio o conduzia:
Se compreende agora a funo essencial que a tradio da f-
losofa ocidental assegurou vida contemplativa e inopero-
sidade: a prtica propriamente humana um sabatismo que,
tornando inoperosas as funes especfcas do vivente, as
20 AGAMBEN, Il regno e la gloria, p. 265.
abrem em possibilidade. Contemplao e inoperosidade so,
neste sentido, os operadores metafsicos da antropognese
que, liberando o vivente homem do seu destino biolgico ou
social, o consigna quela indefnvel dimenso que estamos
habituados a chamar de poltica. [...] O poltico no nem uma
bios, nem uma zo, mas a dimenso em que a inoperosidade
da contemplao, desativando as prticas lingsticas e corp-
reas, materiais e imateriais, incessantemente abre e remete ao
vivente. Por isso, na perspectiva da oikonomia teolgica da qual
traamos aqui a genealogia, nada mais urgente que a incluso
da inoperosidade nos prprios dispositivos
21
.
Il regno e la gloria termina portanto com a escalao de um legado, um
terreno de ao e uma tarefa: a interveno do conceito de inoperosidade abre
aos viventes novas possibilidades; o corte a seccionado os porta dimenso que
chamamos de poltica; compete aos viventes, liberados de prticas que atrofam e
enviados ao espao frtil da poltica, incluir a inoperosidade nos dispositivos, tor-
nar inoperosos os dispositivos que o dominam. Voltaremos a isso mais adiante.
Vejamos antes como o flsofo italiano no parece ainda satisfeito com a delimi-
tao conceitual a que se props.
Em Nudit, publicado por Agamben em 2009, dois novos captulos, com
estratgias diferentes, mas com a mesma referncia original e fnalidade, qual
seja, fechar o cerco em torno do conceito de inoperosidade, viro tona. Um
captulo sobre as qualidades do corpo glorioso, isto , aquela realidade corporal
que, segundo a tradio teolgica crist, sucederia o corpo humano conhecido,
aps a morte e ressurreio do vivente. Trata-se ao mesmo tempo de um dogma
de f e um problema para os telogos, uma vez que, se por um lado, devam os
beatos possurem o mesmo corpo que haviam sobre a terra, ainda que incompa-
ravelmente melhor, por outro, torna-se difcil explicar como uma tal converso
pode se dar. Primeiro, porque seria preciso saber como ocorre a transmigrao
21 AGAMBEN, Il regno e la gloria, p. 274.
Nascimento, D. A., Cadernos de tca e Filosofa Poltca 17, 2/2010, pp.79-101. 92
Do conceito de inoperosidade no recente vulto de Giorgio Agamben
93
material. Se o destino terreno do corpo conhecido, ele decompe-se e resulta
em p, como possvel que exista uma identidade de matria entre ambos os
corpos? Seria razovel imaginar que cada gro de p decomposto retornaria ao
seu mbito estrutural, sem engano, como num passe de mgica? Segundo, por-
que seria preciso compreender como funcionaria a fsiologia do corpo glorioso.
Alguns rgos e membros do corpo humano, tais como aqueles responsveis
pelas funes de nutrio e reproduo, ainda que inteiramente recompostos,
perderiam sua razo de ser: uma realidade paradisaca no comporta crescimento
de nenhuma maneira, visto que consiste numa realidade numrica perfeita. O
conceito de perfeio, todavia, no admite nem contradio nem inutilidade. Se
formos fis aos ditames da razo, no podemos admitir que uma parte do corpo
glorioso seja portada sem qualquer utilidade, subsista em vo. Tudo isso levar
Agamben, no rastro de uma intuio de Toms de Aquino, a concluir que cer-
tos rgos e membros do corpo glorioso sero desconsiderados de sua operao
fsiolgica especfca original e revigorados numa funo mostruria diversa. Os
rgos e membros do corpo glorioso conhecero um novo uso a partir de uma
dotao exclusivamente ostensiva, tero como funo a exibio de uma virtude: a
capacidade de gerar e de crescer
22
. Assim como as publicidades que se utilizam da
exibio de corpos nus o fazem sem que eles estejam disponveis em suas funes
sexuais primordiais ou como pinturas em museus de arte expem a virtude esttica
da beleza. A glria do corpo ressurreto comunica ento a inoperosidade dos beatos.
A inoperosidade, contudo, no inerte: o que nela desativado no a potncia em
si, que permanece, mas a fnalidade e a modalidade do exerccio da potncia. O que
nela desorientado o uso mais bvio. E um novo uso possvel.
Em um segundo captulo, Agamben nos informa que a inoperosidade
divina comunicada aos homens pela festa do sbado hebraico. Ao povo judeu o
sbado sagrado: a tradio judaica ensina que, aps seis dias de criao do mun-
do e de tudo o que nele existe, Deus havia descansado no ltimo dia da semana
e consagrado-o com a cesso de todo trabalho. A condio de inoperosidade di-
vina, de algum modo permanente aps concluda a sua obra, ento transmitida
22 AGAMBEN, Nudit, p. 139.
aos homens pela instituio da festa sabtica, de cuja matriz derivaria toda outra
festividade, religiosa ou no. Herdamos o sentido original da festa: festejar to-
mar um tempo apenas para celebrar com a absteno de todo trabalho de fna-
lidade produtiva. Tudo aquilo que se faz na festa est liberado na sua economia,
da necessidade de produzir bens destinados conservao da vida. Um modo de
neutralizar os gestos, a ao e as obras humanas, confundindo a sua razo de ser.
Assim como a dana subverte os movimentos ordinrios do corpo ou um gesto
perde o seu poder de alcance para subsistir somente no que possui de provocati-
vo. Pela suspenso dos motivos e das fnalidades, os gestos e as aes promovem
a desativao de valores e poderes vigentes. Certas determinaes reconhecidas
como basilares de uma moralidade constituda perdem o seu poder de atrao e
de infuncia sobre a conduta humana. Os valores, por exemplo, enquanto pre-
ceitos carregados de signifcao, sempre sobrepostos ao fato biofsico, nortes
indicadores que em ltima instncia decidem um julgamento ou uma escolha,
mesmo que de modo no consciente, deixam de ser reconhecidos enquanto tal.
A desativao inibe a radiao que antes se mostrava irresistvel, protege como
pela abertura de um guarda-chuva dos impactos antes ordinariamente esperados.
Trata-se da gnese de uma transformao substancial das condies de realidade.
No sem motivao que para a tradio judaica o sbado antecipe o tempo
messinico, no somente pela comunho condicional, mas especialmente porque
a inoperosidade sabtica apresse a vinda do Messias. O movimento de tornar ino-
peroso consiste no equivalente terreno da transformao messinica esperada
23
.
Assim como as transformaes sociais que ordinariamente, como ex-
presses da cultura cambiante e afastando-se do que j fora constitudo pela
norma positivada, geram zonas de atrito, reduzindo a efccia e a validade dos
23 AGAMBEN, Nudit, pp. 155-156. Antes, em Il regno e la gloria, por pelo menos duas
vezes Agamben ressalta a prxima relao entre inoperosidade e movimento messinico.
Se o messias desativa e torna inoperosos tanto a lei quanto os anjos (anjos a servio
da administrao terrena), viver no messias signifca revogar e tornar inoperosa, a todo
instante e em todo aspecto, a vida que vivemos [...] e a inoperosidade que aqui tem lugar
no simplesmente inrcia ou repouso, mas , ao contrrio, a operao messinica por
excelncia (AGAMBEN, Il regno e la gloria, p. 184 e pp. 271-272).
Nascimento, D. A., Cadernos de tca e Filosofa Poltca 17, 2/2010, pp.79-101. 94
Do conceito de inoperosidade no recente vulto de Giorgio Agamben
95
dispositivos legais, talvez a inoperosidade leve tais zonas de atrito ao limite,
modifcando o sentido do seu uso, talvez a inoperosidade leve ao limite qual-
quer dispositivo, seja de que natureza ele for. Ao fnal de Il regno e la gloria,
como vimos, Agamben salienta que nada mais urgente para a poltica de nos-
so tempo que a incluso da inoperosidade nos prprios dispositivos sem, no
entanto, explicar o que entende pelo termo dispositivo. Isso ele o faz somente
em outro texto que traz como ttulo Che cos un dispositivo?, publicado poucos
meses antes apenas um opsculo, pequeno, mas exemplar, no qual encon-
tramos todos os elementos de seu modo de fazer flosfco: a capacidade de
identifcar e de resgatar conceitos colhidos na histria da flosofa, torcendo-
os e fazendo-os vigorar com uma nova luz, a naturalidade com que dialoga
com pensadores de diferentes tempos e reas do conhecimento, a delicadeza
de inserir esboos de refexes sobre questes complexas l onde elas inicial-
mente no teriam lugar, por tratar o texto de um outro tema, sem que isso soe
forado demais, a habilidade na maneira de relacionar noes ou argumentos
que aparentemente nenhuma relao poderiam ter ou de introduzir suas dis-
cusses preparando o leitor e deixando-o fascinado e sem defesa, e at e
agora eu diria se cuidar de um ponto fraco a artimanha de convencer o leitor
mais pela beleza da sua escritura ou imposio de uma concluso impecvel
que pela transparncia na argumentao.
O ponto de partida para a reconstituio do conceito de dispositivo
ser para o flsofo italiano a herana de Michel Foucault, para quem o termo,
segundo a opinio do primeiro, ocuparia uma posio estratgica. A hiptese
de Agamben que dispositivo derive de positividade, uma palavra que, de acordo
com Jean Hyppolite, professor de Foucault, corresponde na obra de Hegel,
dialtica entre liberdade e constrangimento, entre razo e histria, ou, me-
lhor dizendo, ao prprio elemento histrico, ao que vem impresso na alma
do vivente atravs da coero
24
. Todo poder cultural externo e, num segundo
momento, todo poder cultural interiorizado pelos indivduos, concorre ento
para a caracterizao da positividade, palavra que, por sua vez, possui a raiz ter-
24 AGAMBEN, Che cos un dispositivo?, pp. 08-10.
minolgica em dispositio, expresso que os padres latinos usavam para traduzir
do grego oikonomia (administrao da casa, administrao do mundo)
25
.
O que signifca afnal o termo dispositivo para Foucault? Lemos numa
entrevista de 1977 o seguinte:
um conjunto absolutamente heterogneo que compreende dis-
cursos, instituies, estruturas arquitetnicas, decises regula-
tivas, leis, medidas administrativas, enunciados cientfcos, pro-
posies flosfcas, morais e flantrpicas, em resumo: tanto
o dito quanto o no-dito, eis os elementos do dispositivo. O
dispositivo a rede que se estabelece entre esses elementos. [...]
de natureza essencialmente estratgica, implica uma certa ma-
nipulao de relaes de fora, de uma interveno racional e
harmnica de fora, seja para orient-la em uma certa direo,
seja para bloque-la, ou para estabiliz-la e utiliz-la. O dis-
positivo sempre inscrito em um jogo de poder e, ao mesmo
tempo, sempre ligado aos limites do saber, que dele derivam e,
na mesma medida, o condicionam
26
.
Agamben se apropria evidentemente da qualifcao do flsofo fran-
cs, fundada na relao entre rede, estratgia, poder e saber, mas alarga o seu
alcance para incluir
qualquer coisa que tenha de qualquer modo a capacidade de
capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar
e assegurar os gestos, as condutas, as opinies e os discursos
dos seres viventes. No apenas as prises, os manicmios, o
Panptico, as escolas, a confsso, as fbricas, as disciplinas, as
25 AGAMBEN, Che cos un dispositivo?, pp. 15-17.
26 FOUCAULT, Dits et crits, vol. III, pp. 299-300 apud AGAMBEN, Che cos un disposi-
tivo?, pp. 06-07.
Nascimento, D. A., Cadernos de tca e Filosofa Poltca 17, 2/2010, pp.79-101. 96
Do conceito de inoperosidade no recente vulto de Giorgio Agamben
97
medidas jurdicas etc., nas quais a conexo com o poder em
certo sentido evidente, mas tambm a caneta, a escritura, a lite-
ratura, a flosofa, a agricultura, o cigarro, a navegao, os com-
putadores, os telefones celulares e porque no a linguagem
mesma, que talvez o mais antigo dos dispositivos, no qual h
milhares e milhares de anos um primata provavelmente sem
perceber as conseqncias para as quais ia ao encontro teve
a inconscincia de fazer-se capturar
27
.
A refexo encaminhada por Agamben, desde o incio de seu projeto
Homo Sacer, havia nos levado ao quadro do declnio das instituies jurdicas na-
cionais e internacionais, ou do uso ttico do direito apenas como instrumento
poltico dominante, produzido por uma forma de soberania relativamente nova,
apoiada no estado de exceo permanente e na fragilidade da vida nua. Temos
agora os ncleos da expresso indicada por Agamben ao fnal de seu diagnstico
como possibilidade de desenlace e o que pode servir de motivao e nos levar
adiante na tarefa de pensar a poltica do nosso tempo: o flsofo salienta que
preciso tornar inoperosos os dispositivos.
O homem poltico comum, ao perceber-se de frente para os aparelhos do
direito, est to confuso e entregue quanto os protagonistas das narrativas kafkia-
nas. A exemplo do que o sculo vinte realizou com a experincia humana, parece
querer o sculo vinte e um levar a cabo o que se poderia chamar de colapso jurdico
do Estado de Direito
28
. Todavia, se por um lado, adentramos num ambiente jur-
dico inconsistente e rarefeito, fruto de um processo antigo e lento, ou melhor, de
processos graduais de diferentes naturezas, que ocorrem de modo concomitante ou
intrincado e que de alguma maneira cooperam para amarrar sempre mais as malhas
27 AGAMBEN, Che cos un dispositivo?, pp. 21-22.
28 Lemos em AGAMBEN, Stato di eccezione, p. 111: O estado de exceo alcanou hoje
o seu mximo desdobramento planetrio. O aspecto normativo do direito pode ser assim
impunemente suprimido e contestado por uma violncia governamental que, ignorando
no mbito externo o direito internacional e produzindo no mbito interno um estado de
exceo permanente, pretende, todavia, aplicar ainda o direito.
do poder, por outro notamos que a intensa submisso do poltico e do jurdico aos
interesses econmicos adquire sempre maiores propores. Nosso tempo aquele
em que o poder assume primordialmente a forma da economia e do governo
29
. A
atual hegemonia dos processos e interesses econmicos sobre os polticos reduz
a vida democrtica ao mnimo necessrio e as decises polticas fundamentais so
tomadas pelo mercado, no pela vontade popular
30
. Coube a Agamben a virtude de
captar como as novas confguraes do poder demandam tambm a articulao de
novos dispositivos. No seria provavelmente errado defnir a fase extrema do de-
senvolvimento capitalista que estamos vivendo como uma gigantesca acumulao
e proliferao de dispositivos
31
. Esses dispositivos so como pontos magnticos
disseminados por todo o campo poltico, como nervos que lanam suas termi-
naes em todas as direes. Somos todos presos em dispositivos de poder. E a
pergunta que aqui exige uma resposta a seguinte: se no possvel, nem desejvel,
elimin-los, como desativ-los? Como us-los de outro modo?
29 AGAMBEN, Il regno e la gloria, p. 09. Mais adiante, o autor dir que a vocao econ-
mico-governamental das democracias contemporneas no um incidente de percurso,
mas parte integrante da hereditariedade teolgica da qual so depositrias (Il regno e la
gloria, p. 160).
30 BERCOVICI, Constituio e estado de exceo permanente, p. 178. A conjuno entre esta-
do de exceo e supremacia econmica parece ter dado origem a um instituto hbrido:
com a globalizao, a instabilidade econmica aumentou e o recurso aos poderes de
emergncia para sanar as crises econmicas passou a ser muito mais utilizado, com a
permanncia do estado de exceo econmico (p. 179). Com relao ao amlgama da
vontade popular, a ambigidade semntica da palavra povo (que pode signifcar tanto o
corpo poltico universal quanto a parcela de indivduos excludos da poltica) facilita a ex-
cluso via processo industrial. O nosso tempo nada mais que a tentativa implacvel
e metdica de preencher a fssura que divide o povo, eliminando radicalmente o povo
dos excludos. Esta tentativa mancomuna, segundo modalidades e horizontes diversos,
direita e esquerda, pases capitalistas e pases socialistas, unidos no projeto em ltima
anlise vo, mas que se realizou parcialmente em todos os pases industrializados de
produzir um povo uno e indiviso. A obsesso do desenvolvimento to efcaz, em nosso
tempo, porque coincide com o projeto biopoltico de produzir um povo sem fratura
(AGAMBEN, Homo sacer: o poder soberano e a vida nua, p. 185).
31 AGAMBEN, Che cos un dispositivo?, p. 23.
Nascimento, D. A., Cadernos de tca e Filosofa Poltca 17, 2/2010, pp.79-101. 98
Do conceito de inoperosidade no recente vulto de Giorgio Agamben
99
Para concluir, temos outra interrogao: em que nos ajuda o novo con-
ceito de inoperosidade? Trata-se de um condutor destinado fertilidade ou de
apenas mais uma entonao idioptica do imperativo produtivo flosfco? Qual
o seu grau de absoro e penetrao conceitual? Quais as vias possveis de de-
sarticulao dos dispositivos do poder? H momentos histricos precisos em
que a inoperosidade pode ser encontrada no seu estado fenomnico? Se for da
natureza dos dispositivos ser operante, toda desativao equivaleria a uma eli-
minao. Se, por exemplo, a conexo entre direito e violncia for fundante, no
ser possvel pensar qualquer espcie de atribuio de direito sem violncia. Nem
mesmo a hiptese de ilustrao paulina, encontrada por Agamben em Il tempo che
resta na qualidade de um modelo histrico de inoperosidade alternativa, resolveria
a questo na Carta aos Romanos, uma querela entre os primeiros cristos havia
exposto a oposio entre a antiga lei e a nova f, minimizada por Paulo com a
idia de que a lei seria cumprida mas somente o seria se desprovida de seu ele-
mento puramente normativo, o que corresponderia a uma lei qualifcada e trans-
fgurada pela f
32
. Nem mesmo a hiptese de Walter Benjamin de Zr Kritik der
Gewalt, evocada por Agamben em Stato di eccezione, atinente tentativa de salvar a
violncia divina, ou revolucionria, da dinmica da violncia que pe e conserva
o direito institucional
33
, iluminaria os passos do poltico contemporneo.
possvel que Giorgio Agamben venha ainda a debruar-se sobre o
conceito de inoperosidade e sobre as questes que a sua assuno desperta.
Ao leitor que o acompanha facultada a espera. Nada obsta, porm que o
flsofo italiano no nos d mais nem uma palavra sobre isso e nos deixe
apenas com as interrogaes. Talvez elas convoquem a outros. Talvez elas
32 AGAMBEN, Le temps qui reste: um commentaire de lptre aux Romains, p. 151. Mais
adiante, a leitura da carta paulina realizada pelo flsofo concluir que o evento messini-
co esvazia de fora a lei, sem, entretanto destru-la (p. 156).
33 AGAMBEN, Stato di eccezione, p. 69. Ser tambm nesse captulo que Agamben far
aluso imagem do direito somente estudado, no mais praticado, compreendido como
porta da justia, imagem concebida por Benjamin no seu ensaio sobre a obra de Franz
Kafka (cf. BENJAMIN, Magia e tcnica, arte e poltica, p. 164).
convenham a ns, na tarefa de novamente pensar o poltico, esse mbito de
estudos que no se permite nunca defnir de maneira permanente.
On the concept of inoperosity in the recent
philosophy of Giorgio Agamben
Abstract: This work aims to examine the concept of inoperosit proposed by Giorgio
Agamben in the last phases of his project entitled Homo Sacer and pointed as a pos-
sible vehicle of evasion of the diagnosis of sovereign power and bare lifes hypertrophy.
Proceeding to the reading and analysis of Il regno e la gloria, published in 2007, and Nudit,
published in 2009, the text that follows might not only reclaim the genesis of the concept
but it might also try to demonstrate how the concept arises to those that dedicate them-
selves to the task of thinking contemporary politics, without leaving behind the question
about its pervasion force. In this context it is also important to investigate how the no-
tion of inoperosity may be conceptually absorbed as well as to study the appropriated ways
to disarticulate the dispositives of power which are operative principles both to the
relation between law and violence, as the relation between culture and knowledge.
Keywords: Political philosophy Giorgio Agamben inoperosity.
Referncias bibliogrfcas
AGAMBEN, G. La comunit che viene. Torino: Bollati Boringhieri, 2001.
______. Homo sacer: il potere sovrano e la nuda vita. Torino: Piccola Biblioteca Ei-
naudi, 2005.
______. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua. Trad. Henrique Burigo. Belo Ho-
rizonte: Editora UFMG, 2004.
______. Il tempo che resta: un commento alla Lettera ai Romani. Torino: Bollati Borin-
ghieri, 2000.
______. Le temps qui reste: um commentaire de lptre aux Romains. Trad. Judith Re-
vel, Paris: Bibliothque Rivages, 2000.
Nascimento, D. A., Cadernos de tca e Filosofa Poltca 17, 2/2010, pp.79-101. 100
Do conceito de inoperosidade no recente vulto de Giorgio Agamben
101
______. Stato di eccezione. Torino: Bollati Boringhieri, 2004.
______. Che cos un dispositivo?. Roma: Nottetempo, 2006.
______. Il regno e la gloria: per una genealogia teologica delleconomia e del gover-
no. Vicenza: Neri Pozza, 2007.
______. Nudit. Roma: Nottetempo, 2009.
ARENDT, H. Que autoridade?. In: Entre o passado e o futuro. Trad. Mauro W.
Barbosa de Almeida. So Paulo: Perspectiva, 1972.
ARISTTELES. Metafsica. Trad. Leonel Vallandro. Porto Alegre: Globo, 1966.
BENJAMIN, W. Magia e tcnica, arte e poltica: ensaios sobre literatura e histria da cul-
tura, Obras escolhidas I. Trad. Sergio Paulo Rouanet. So Paulo: Brasiliense,
1994.
______. Crtica da violncia crtica do poder. In: BENJAMIN, W. Documentos de
cultura, documentos de barbrie: escritos escolhidos. Trad. Celeste H. M. Ribei-
ro de Souza, et al. Seleo e apresentao Willi Bolle. So Paulo: Editora
Cultrix; Editora da Universidade de So Paulo, 1986.
BENVENISTE, E. O vocabulrio das instituies indo-europias. Volume II. Trad. De-
nise Bottmann. Campinas: UNICAMP, 2005.
BERCOVICI, G. Constituio e estado de exceo permanente: atualidade de Weimar.
Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2004.
JASPERS, K. Psicologa de las concepciones del mundo. Trad. Mariano Marn Casero.
Madrid: Gredos, 1967.
MERLAN, P. Os motores imveis de Aristteles. Trad. Paulo Fernando Tadeu
Ferreira. In: zIGANO, Marco (org.). Sobre a Metafsica de Aristteles. So
Paulo: Odysseus Editora, 2005.
MONTESQUIEU. O esprito das leis. So Paulo: Abril Cultural, 1973. Coleo Os
pensadores.
NASCIMENTO, D. A. Do fm da experincia ao fm do jurdico: percurso de Gior-
gio Agamben. Tese (Doutorado em Filosofa). Campinas, 2010, 194 p.
Instituto de Filosofa e Cincias Humanas Universidade Estadual de
Campinas.
NIETzSCHE, F. Crepsculo dos dolos: ou como se flosofa com o martelo. Trad.
Paulo Csar de Souza. So Paulo: Companhia das Letras, 2006.
Você também pode gostar
- BENVENISTE, Emile - O Vocabulário Das Instituições Indo-Europeias 2Documento171 páginasBENVENISTE, Emile - O Vocabulário Das Instituições Indo-Europeias 2livros do desassossego100% (2)
- AVELAR, Idelber - Perspectivsmo Ameríndio e Direitos Não-HumanosDocumento16 páginasAVELAR, Idelber - Perspectivsmo Ameríndio e Direitos Não-Humanoslivros do desassossego100% (2)
- Mario Perniola - Do SentirDocumento68 páginasMario Perniola - Do Sentirlivros do desassossegoAinda não há avaliações
- ANTELO, Raul - A Poesia Não Pensa-AindaDocumento67 páginasANTELO, Raul - A Poesia Não Pensa-Aindalivros do desassossegoAinda não há avaliações
- GIFFORD, Terry - Ecocrítica Na Mirada Da Crítica AtualDocumento18 páginasGIFFORD, Terry - Ecocrítica Na Mirada Da Crítica Atuallivros do desassossegoAinda não há avaliações
- Resumo Sobre o Olhar John Berger PDFDocumento2 páginasResumo Sobre o Olhar John Berger PDFlivros do desassossegoAinda não há avaliações
- CAMPOS, Álvaro de - Saudação A Walt WhitmanDocumento5 páginasCAMPOS, Álvaro de - Saudação A Walt Whitmanlivros do desassossegoAinda não há avaliações
- LATOUR, Bruno - Imaginar Gestos Que Barrem o Retorno Da Produção Pré-CriseDocumento7 páginasLATOUR, Bruno - Imaginar Gestos Que Barrem o Retorno Da Produção Pré-Criselivros do desassossego100% (1)
- DERRIDA, Jacques - Alguns Envios Do Cartão-PostalDocumento11 páginasDERRIDA, Jacques - Alguns Envios Do Cartão-Postallivros do desassossegoAinda não há avaliações
- LONDERO, Rodolfo Rorato, TAKARA, Samilo - Tempo, Depressão e Sociedade Deadline PDFDocumento19 páginasLONDERO, Rodolfo Rorato, TAKARA, Samilo - Tempo, Depressão e Sociedade Deadline PDFlivros do desassossegoAinda não há avaliações
- HANSEN, João Adolfo (AUTOR) e TELLES Norma (AUTOR+A)Documento28 páginasHANSEN, João Adolfo (AUTOR) e TELLES Norma (AUTOR+A)livros do desassossegoAinda não há avaliações
- Revista Anhangá #2 - em Guerra Contra A Civilização e o Progresso Humano Desde o SulDocumento152 páginasRevista Anhangá #2 - em Guerra Contra A Civilização e o Progresso Humano Desde o Sullivros do desassossego50% (2)
- LLANSOL, Maria Gabriela - A Literatura-Muitas VozesDocumento4 páginasLLANSOL, Maria Gabriela - A Literatura-Muitas Vozeslivros do desassossegoAinda não há avaliações