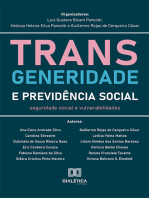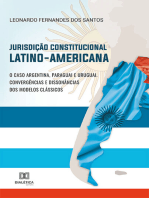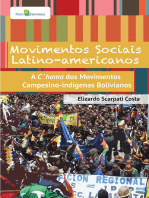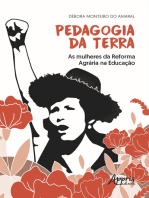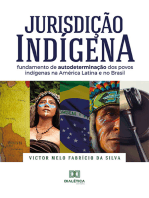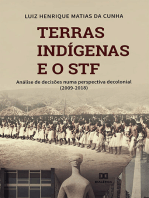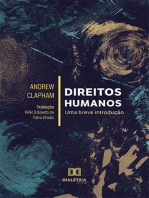Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
AVELAR, Idelber - Perspectivsmo Ameríndio e Direitos Não-Humanos
Enviado por
livros do desassossegoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
AVELAR, Idelber - Perspectivsmo Ameríndio e Direitos Não-Humanos
Enviado por
livros do desassossegoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Perspectivismo ameríndio e direitos não
humanos1
Idelber Avelar
RESUMO
Este trabalho parte da premissa desenvolvida por Dipesh Chakrabarty em um ensaio recente,
“The Climate of History”. Segundo Chakrabarty, no Antropoceno – a nova era em que os seres
humanos causam dano de tal magnitude ao meio ambiente que passam a ser agentes geológicos
capazes de interferir com os processos mais básicos da Terra –, já não se sustenta a tradicional
distinção, relativamente estável desde Hobbes e Vico, entre história natural e história humana. O
trabalho argumenta que as discussões recentes acerca do Antropoceno renovam a relevância do
perspectivismo ameríndio, desenvolvido pelo antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro,
e baseado na observação de uma recorrente teoria dos povos ameríndios acerca de um estágio de
indiferenciação originária entre humanos e animais, no qual a condição original comum não é a
animalidade, como costuma ser o caso na filosofia ocidental, mas a humanidade mesma. A abundância
de narrativas ameríndias nas quais os animais, as plantas, a Terra e os fenômenos metereológicos
veem a si mesmos como humanos é então analisada como um impulso antropomórfico que contém
– paradoxo só na superfície – um grande potencial antiantropocêntrico. Afinal, num mundo em que
todos podem ser humanos, “ser humano não é tão especial”. O contraste entre o antropocentrismo
ocidental e o antropomorfismo ameríndio é então desenvolvido com referência às Constituições do
Equador e da Bolívia, que pela primeira vez conferem aos animais, às plantas e aos corpos d’água
a condição de sujeitos jurídicos dotados de direitos. A conclusão aponta para o conceito de direitos
não humanos como tarefa política urgente para a era do Antropoceno.
Palavras-chave: Antropoceno. Perspectivismo. Direitos não humanos. Antropocentrismo.
Antropomorfismo.
Amerindian perspectivism and non-human rights
ABSTRACT
This paper starts from a premise developed by Dipesh Chakrabarty in the essay “The Climate
of History”. According to Chakrabarty, in the Anthropocene – a new era in which human beings
do damage of such magnitude to the environment that they become geological agents capable of
altering the most basic physical processes of the Earth –, a dichotomy that had been relatively
stable since Hobbes and Vico experiences a major crisis. The article argues that recent debates
around the Anthropocene renew the relevance of Amerindian perspectivism, developed by Brazilian
anthropologist Eduardo Viveiros de Castro. Ameridian perspectivism springs from a recurrent theory
1
Este artigo é uma tradução de “Amerindian Perspectivism and Non-Human Rights”, no prelo com a revista Alter/
Nativas, da Ohio State University. A tradução foi feita pelo próprio autor. Para obras publicadas em outras línguas
que não o inglês, as citações foram refeitas a partir das línguas originais, como nos casos de Foucault, Clastres e
Lévi-Strauss, ou foram usadas as edições brasileiras correspondentes, como no caso de Ludueña e Agamben.
Idelber Avelar é Professor do Departamento de Espanhol e Português da Tulane University (New Orleans,
EUA).
Direito e Democracia Canoas v.17 n.2 p.5-20 jul./dez. 2016
Direito e Democracia, v.17, n.2, jul./dez. 2016 5
by Amerindian peoples, according to which an originary state of indifferentiation between humans
and animals was based on a shared humanity, not a shared animality. That is to say, whereas for
us humans are former animals, for Amerindians animals are former humans. I then analyze the
abundance of Amerindian narratives in which animals, plants, and meteoreological phenomena see
themselves as humans as expressions of an anthropomorphic impulse that paradoxically contains
an anti-anthropocentric potential. After all, as Viveiros de Castro puts it, in a world where all can
be human, “being human is not that special”. The article then makes reference to Ecuador’s and
Bolivia’s constitutions, which for the first time confer on animals, plants, and bodies of water the
status of juridical subjects endowed with rights. The conclusion develops the notion of non-human
rights as an urgent political task in the Anthropocene.
Keywords: Anthropocene. Perspectivism. Non-human rights. Anthropocentrism.
Anthropomorphism.
1 ANTROPOTÉCNICA E TANATOPOLÍTICA
O conceito de direitos humanos sempre esteve atravessado pelo problema de
sua necessária, mas impossível, universalidade. Por um lado, os direitos humanos não
significariam nada se o conceito não se estendesse à totalidade dos homens e mulheres,
a toda a comunidade humana na Terra. Por outro, as origens europeias de sua formulação
geram dúvidas sobre sua universalidade e sobre o que está em jogo cada vez que eles
são evocados ou defendidos. A tensão entre o universal e o particular está no centro
das lutas em torno dos direitos humanos, e meu objetivo aqui não é resolvê-la, e sim
colocá-la em diálogo com reflexões desenvolvidas nas últimas décadas pelo antropólogo
brasileiro Eduardo Viveiros de Castro sob a rubrica do perspectivismo ameríndio e com
minhas próprias observações das experiências boliviana e equatoriana na produção de
Constituições que redefinem o alcance dos direitos humanos. Esse diálogo se insere no
contexto que Dipesh Chakrabarty recentemente designou, num ensaio notável, rasura
da fronteira entre natureza e cultura, à luz da inédita crise ambiental provocada pela
mudança climática. O objetivo aqui será perguntar o que acontece com os direitos
humanos a partir do momento em que levamos em consideração algumas críticas recentes
ao antropocentrismo, fio condutor que une o ensaio de Chakrabarty, as Constituições
andinas e a obra de Viveiros de Castro.
Ilustre entre as reflexões contemporâneas sobre os direitos humanos é a referência
feita pelo filósofo italiano Giorgio Agamben às origens do termo na Revolução Francesa.
Em Homo sacer: o poder soberano e a vida nua, Agamben parte de Hannah Arendt para
mostrar que na própria Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, há uma disjunção
entre os dois termos que designam os sujeitos dos direitos, na medida em que “homem”
supostamente inclui “cidadão”. Há algo aporético, portanto, na conjunção “e” que conecta
“homem” e “cidadão”, já que o segundo termo parece estar incluído no primeiro. Agamben
mostra como os direitos supostamente naturais, biológicos adquiridos pelos humanos no
próprio ato de nascer (tal como previstos pelo Artigo 1 da Declaração: Les hommes naissent
et demeurent libres et égaux en droits) são assombrados pelo requisito paradoxal de que
esses direitos sejam validados por referência a uma construção histórica, não natural, o
Estado nação. O Artigo 3 da mesma Declaração estabelece que os direitos humanos se
6 Direito e Democracia, v.17, n.2, jul./dez. 2016
remetem a um poder soberano: Le principe de toute souveraigneté réside essentiellement
dans la nation, a mesma nação, aponta Agamben, que está etimologicamente relacionada
a naissance, nascimento. Os direitos humanos amarram, então, a biologia à política.
A hipótese de Agamben, bem fundamentada, é que se o homem só é sujeito dos
direitos humanos na medida em que ele também é um cidadão, as massas desprovidas
de cidadania seriam um índice dos limites do conceito. Não ocorre por acaso, a partir da
Primeira Guerra Mundial, “a introdução, na ordem jurídica de muitos Estados europeus,
de normas que permitem a desnaturalização e a desnacionalização em massa dos próprios
cidadãos” (2007, p.138-39). França (1915), Bélgica (1922), Itália (1926) e Áustria
(1933) oferecem alguns dos precedentes das Leis de Nuremberg de 1935 que dividiam
“os cidadãos alemães em cidadãos a título pleno e cidadãos de segundo escalão” (2007,
p.139). Como já sabido à exaustão, o conceito de homo sacer – o portador daquela vida
que pode ser aniquilada sem sacrifício ou luto – emerge no contexto das reflexões de
Agamben sobre a dificuldade de se distinguir as condições de refugiado e apátrida, ou
seja, por um lado a (supostamente) temporária exclusão do espaço soberano no qual são
validados os direitos humanos e, por outro, a condição de estar desprovido de qualquer
referência a tal espaço. Em “Além dos direitos humanos”, breve texto de 1993 que prepara
a meditação mais longa publicada dois anos depois como Homo sacer, Agamben toma
“os quatrocentos e vinte e cinco palestinos expulsos pelo Estado de Israel” (1998, p.24)
como emblemas da terra de ninguém habitada pelo Homo sacer. Ao vincular a condição
própria à humanidade com a soberania de um Estado nação, portanto, os direitos humanos
passam a ser assombrados pelo seu exterior. Para Agamben, em vez de nos emancipar
do poder soberano, os direitos humanos “têm o efeito de nos inscrever ainda mais – com
base em nossa ‘vida nua’ – dentro dos mecanismos do Estado biopolítico” (LECHTE;
NEWMAN, 2012, p.523).
Os dois sujeitos de direitos explicitamente mencionados na Declaração dos direitos
do homem e do cidadão seriam, portanto, o homem como ser que nasce e o homem
enquanto ser submetido à soberania do Estado nação. O uso da forma masculina aqui
é deliberado, e reforça a natureza aporética da junção entre “homem” e “cidadão”. Na
medida em que eram excluídas da categoria de cidadão, as mulheres estariam supostamente
incluídas na de “homem”, utilizada como metonímia de “ser humano”. Mas essa própria
inclusão imaginária reinstala a aporia de um substantivo de gênero específico supostamente
representando toda a humanidade.2 Para Agamben, a acoplagem entre a vida como fato
biológico e a vida como experiência politicamente qualificada não possui a estrutura de
uma oposição binária simples. Agamben argumenta que os gregos distinguiam entre zoé,
como a vida não qualificada (compartilhada por humanos, deuses, animais não humanos)
e bíos, a vida qualificada própria aos humanos. Nisso, ele seguia Michel Foucault, que
definiu a era moderna como o momento em que a vida natural começou a ser incluída
2
Em The Disorder of Women: Democracy, Feminism, and Political Theory, Carole Pateman faz a interessante
observação de que, dos três grandes componentes do slogan da Revolução Francesa – igualdade, liberdade,
fraternidade –, este último sempre foi o menos estudado e interrogado, o que se relaciona com a aporia descrita
acima, pela qual, de um termo explicitamente marcado, se exige que represente a humanidade enquanto tal.
Direito e Democracia, v.17, n.2, jul./dez. 2016 7
nos cálculos e mecanismos do poder estatal e, portanto, a esfera da política se tornou
propriamente biopolítica. A partir de 1977, os seminários de Foucault no Collège de
France começaram a focalizar a “passagem do ‘Estado territorial’ ao ‘estado populacional’
e o crescimento vertiginoso na importância da vida biológica e na saúde da nação como
problema para o poder soberano” (AGAMBEN, 1999, p.11). Agamben vai mais além,
no entanto, e argumenta que zoé, ou seja, a vida nua, tem “o singular privilégio de ser
aquilo sobre cuja exclusão se funda a cidade dos homens” (1999, p.15). A modernidade
repousa, segundo Agamben, numa simultânea captura e exclusão da vida, de forma que
“a política não conhece outro valor que a vida mesma” (1999, p.17).
No entanto, há razões para crer que a separação entre zoé e bíos era bem menos
clara no pensamento grego do que sugeria Agamben. Eis aí o ponto de partida do
argumento do filósofo argentino Fabián Ludueña, em seu notável La comunidad de los
espectros. É verdade que já em seu seminário A besta e o soberano, Jacques Derrida
havia notado que a dicotomia entre uma esfera geral, da vida não qualificada (zoé),
e a vida qualificada com atributos humanos (bíos), era insustentável e, na realidade,
ausente do texto aristotélico. Ludueña vai além e argumenta que isolar essas duas
dimensões não era possível porque “a política não era um suplemento à vida – agora
definida como bíos – acrescentado a posteriori a um substrato constituído por uma zoé
primária, como mantinha Agamben” (2010, p.30). Em outras palavras, não há política
que transcenda o fato biológico da vida em si ou que se mantenha incontaminado por
ela. A política já é, desde sempre, administração da zoé. De acordo com as releituras
de Derrida e Ludueña, então, o próprio gesto de separar uma dimensão propriamente
humana da vida (ou seja, a bíos) da bruta animalidade que atende pelo nome de zoé já
seria uma técnica na produção da humanidade, um dispositivo para domesticar o zoé
e domar politicamente a animalidade. A substância primordial da política não deveria,
então, atender pelo nome de biopolítica, como em Foucault ou Agamben, e sim por
zoopolítica (NODARI, 2012, p.2).
Ludueña chama de antropotécnica o conjunto de dispositivos, práticas discursivas,
disciplinas, métodos e técnicas através das quais as comunidades humanas operam sobre
sua natureza animal de forma a “guiar, expandir, modificar ou domesticar seu substrato
biológico, visando à produção daquilo que a filosofia, em um primeiro momento, e,
logo a seguir, as ciências biológicas e humanas se acostumaram a chamar de ‘homem’
(LUDUEÑA, 2013, p.34-36). La comunidad de los espectros é uma notável tour de force
sobre como a Teologia e o Direito forneceram duas poderosas instâncias dessa operação
antropotécnica. Por oposição ao argumento de Agamben, o que está em jogo na produção
da humanidade para Ludueña não é somente a exclusão do zoos, do animal. A política
colocou-se, desde sempre, uma tarefa: “a arte da domesticação do animal humano”
(LUDUEÑA, 2013, p.176), num processo que é sempre coextensivo com a eugenia. De
mãos dadas com a zoopolítica enquanto produção seletiva da vida, argumenta Ludueña,
encontrava-se a tanatopolítica, que regulava o descarte da progênie defeituosa que pudesse
estragar o patrimônio biológico da espécie (LUDUEÑA, 2013, p.838). Tratava-se, então,
também da regulação e da produção da morte. Ludueña apresenta abundante evidência de
que a relação entre zoé e bíos não é de exclusão constitutiva, como argumenta Agamben,
8 Direito e Democracia, v.17, n.2, jul./dez. 2016
mas de conjunção na qual a própria administração da animalidade foi uma técnica na
produção do homem.
Em sua resenha de La comunidad de los espectros, de Ludueña, o ensaísta e editor
brasileiro Alexandre Nodari observou o vínculo entre censo e censura, na medida em
que “a contagem dos bens e da população; a redistribuição desta, de acordo com cálculos
governamentais, em classes; o registro dos nascimentos e das mortes, etc. permitiria
uma melhor organização da república, facilitando a detecção e correção de elementos
improdutivos (os vagabundos) pelo censor” (NODARI, 2011, p.3).3 Tanto na resposta
aristotélica à eugenia platônica como no cristianismo, Ludueña identifica intentos de
produzir uma antropotécnica que exigisse que a vida fosse separada de sua intensidade,
força e animalidade, as quais teriam então que ser medidas, confinadas, calculadas,
emolduradas. O cristianismo depois pensaria a imortalidade como o atributo chave que
separa o humano do animal. A invenção cristã do homem passa por uma eliminação
metódica do animal primordial: para São Tomás de Aquino, os animais não humanos
“não teriam lugar no Reino dos Céus” (NODARI, 2011, p.4). A Grécia socrática e o
cristianismo compartilham essa tentativa de purgar a animalidade do humano, de abolir a
animalitas própria ao humano. Poder-se-ia, inclusive, argumentar que há uma continuidade
entre a antropotécnica do cristianismo e aquela do humanismo moderno. De Descartes
a Heidegger, os animais tendem a aparecer no texto filosófico precisamente quando se
está definindo a essência da humanidade. Em Descartes, a operação antropotécnica tem
lugar na equação entre mente e alma, e na definição dos animais como seres maquínicos
desprovidos de alma ou de consciência. Em La comunidad de los espectros, Ludueña
se mostra cético, com toda a razão, ante as alternativas à antropotécnica que vêm sendo
propostas, do projeto de uma “biopolítica afirmativa” à ilusória tentativa de esvaziar o
patriarcalismo cristão com um retorno aos seus fundamentos paulinos, tal como se vê
em Alain Badiou ou Slavoj Žižek. Em vez de escapar das antropotécnicas estabelecendo
um caminho que supostamente as eludiria, o objetivo aqui será, então, perguntar o que
acontece com elas quando tomamos em consideração uma série de elaborações recentes
no Direito, na antropologia e nos Estudos Culturais que têm questionado nossa herança
antropocêntrica.
2 SOBRE O IMPACTO DO ANTROPOCENO NOS
ESTUDOS CULTURAIS
O Antropoceno, conceito cunhado pelo ecologista Eugene Stoermer e depois usado
amplamente pelo químico atmosférico e Prêmio Nobel Paul Crutzen, designa a era
3
Um dos grandes momentos da tese “Censura: Ensaio sobre a ‘servidão imaginária’“, de Alexandre Nodari, é a
recuperação do vínculo entre censo e censura, na medida em que esta também implica “a criação de um regime
de controle e medição do sensível” (NODARI 2012, p.10). A biopolítica de Michel Foucault é um bom marco para
se pensar as relações entre censo e poder, mas os vínculos com a censura permanecem obnubilados, já que o
paradigma foucaultiano entende o poder como produção do dizível. A tese de Nodari é um grande contraponto
a esse paradigma.
Direito e Democracia, v.17, n.2, jul./dez. 2016 9
geológica à qual a Terra estaria agora em transição. O advento da era anterior, o Holoceno
– que substituíra a última era do gelo, ou o Pleistoceno, por volta de dez mil anos atrás –
coincidiu com a emergência das instituições que viemos a associar à civilização, como
o as cidades, a agricultura, a escrita e as religiões organizadas tal como as conhecemos.
O Holoceno é o período mais quente no qual supostamente estamos no momento, mas
“a possibilidade da mudança climática antropogênica coloca a questão de seu término”.
É o que argumenta o historiador indiano Dipesh Chakrabarty num ensaio intitulado “O
clima da História: Quatro teses”:
Agora que os humanos – graças ao nossos números, à queima de combustíveis
fósseis e outras atividades relacionadas – nos tornamos agentes geológicos no
planeta, alguns cientistas propuseram que reconhecêssemos o começo de uma
nova era geológica, na qual os humanos agimos como os grandes determinantes
do meio ambiente do planeta. O nome que cunharam para esta nova era geológica
é o Antropoceno. (2009, p.208-9)
Este ensaio de Chakrabarty, uma das grandes meditações do nosso tempo, sugere
que uma distinção com a qual já estamos acostumados, a saber, tempo geológico versus
tempo humano, pode estar se aproximando de sua crise definitiva. A temporalidade da
Terra como processo longo e extenso, que engloba um tempo humano que empalidece
e encolhe em comparação com ele, precisa agora ser compreendido no contexto de um
conjunto de atividades que têm o poder de causar dano permanente, significativo ao
planeta. Se um dia pensamos que os fatos geológicos eram tão grandiosos que nada que
os humanos fizéssemos seria capaz de mudá-los, nós precisamos agora pensar o fato de
que o desmatamento, a desertificação, a queima de combustíveis fósseis, a acidificação
dos oceanos e várias outras atividades humanas destrutivas transformaram os processos
mais básicos da Terra. Em outras palavras, o tempo antropológico alcançou o tempo
geológico.
A principal conclusão tirada por Chakrabarty acerca do advento do Antropoceno
é que já não seria possível escrever as histórias da globalização, do capital e da cultura
sem tomar em conta, ao mesmo tempo, a história da espécie. Há tantos de nós cortando
tantas árvores e queimando tantos fósseis que a história de nossa cultura já não pode
ser separada da história da natureza. Enquanto que durante o Holoceno poder-se-ia
argumentar em defesa de uma separação mais ou menos clara entre a natureza e a cultura,
uma distinção relativamente estável entre a temporalidade do planeta e a temporalidade
da história humana, nós nos tornamos agentes geológicos em tal grau que é a própria
dicotomia entre natureza e cultura que deve ser questionada. Enquanto que “durante
séculos, os cientistas pensaram que os processos da Terra eram tão grandes e poderosos
que nada que pudéssemos fazer poderia mudá-los […] que as cronologias humanas eram
insignificantes em comparação com a vastidão do tempo geológico” (ORESKES apud
CHAKRABARTY, 2009, p.206), a nossa época é caracterizada por uma convergência
inédita entre ecologia e cultura, em virtude da qual já não é possível separar a história
10 Direito e Democracia, v.17, n.2, jul./dez. 2016
humana da história natural. Como aponta Chakrabarty, só recentemente os seres humanos
nos tornamos agentes geológicos ao ponto em que a dinâmica da história humana começou
a impactar a história natural. Devemos, portanto, “colocar as histórias globais do capital
para conversar com a história da espécie humana” (2009, p.212).
A separação entre história humana e história natural foi relativamente estável
desde Hobbes e Vico. Dada sua trajetória em décadas recentes, as ciências humanas se
encontram numa encruzilhada bem particular quando essa dicotomia entra em colapso. Se
tivéssemos que escolher um fio condutor que as atravessa por todo o século XX, ele seria
a culturalização que acompanha o chamado giro linguístico das humanidades. A crítica
culturalista da naturalização tem sido um dos traços distintivos das ciências humanas
ao longo do último século, se não o seu traço estruturante, definidor. O desvendamento
como cultural de algo que se pressupunha natural tem sido o café com leite de nossas
disciplinas há décadas. Nessa operação, a natureza ocupa a posição de horizonte que está
permanentemente recuando, uma espécie de limite móvel que se afasta e constitui um
campo que nunca está presente, nunca encarna uma existência positiva. Trata-se de um
modelo no qual nunca sabemos o que é a natureza; só sabemos o que ela não é e o que
o outro, equivocado, pensou que ela era. Ao longo do século XX, a natureza tem sido
uma presença constante nas ciências humanas, mas sempre negativamente, como objeto
de uma operação de desnaturalização. A nova inseparabilidade entre história humana e
história natural desafia as ciências humanas a que compreendam a natureza de forma outra
que simplesmente através das lentes de uma crítica culturalista da naturalização. Ou seja,
já não é suficiente desvelar o solo cultural de conceitos, noções e hábitos pressupostos
como naturais. Na urgência da crise ecológica que se vive hoje, já não podemos nos dar
ao luxo de não encarar a questão da natureza como positividade.
O desafio seria, então, pensar a natureza como positividade, ou seja, dar conta
da physis de uma maneira que não replique simplesmente as conhecidas operações
de desnaturalização. Minha hipótese aqui é que esse seria um dos requisitos para uma
compreensão diferente de direitos humanos, em sintonia com Constituições como as do
Equador e da Bolívia (promulgadas, respectivamente, em 2008 e 2009), que expandiram a
noção de sujeito de direitos para além da espécie humana. Trata-se apenas superficialmente
de um paradoxo: precisamente no Antropoceno, o período marcado pela centralidade
humana na mudança climática, é necessário remover o antropós de sua posição como
sujeito e alvo único de nosso estatuto jurídico. Para realizar essa tarefa, o perspectivismo
ameríndio de Eduardo Viveiros de Castro tem se mostrado um aliado.
3 PERSPECTIVISMO AMERÍNDIO: O ANIMAL COMO
EX-HUMANO
As sociedades ameríndias acumulam uma gama de conhecimentos no que
poderíamos chamar de uma compreensão não antropocêntrica do mundo. O antropólogo
brasileiro Eduardo Viveiros de Castro é o responsável pela sua sistematização teórica
mais sofisticada, que foi se gestando nas últimas décadas sub a rubrica de perspectivismo
Direito e Democracia, v.17, n.2, jul./dez. 2016 11
ameríndio. Deve se apontar de antemão que “perspectivismo” aqui não é redutível a
relativismo, subjetivismo ou qualquer outro dos termos correlatos na tradição filosófica
ocidental. Na realidade, o perspectivismo ameríndio, argumenta Viveiros de Castro, deve
ser entendido como ortogonal à oposição entre relativismo e universalismo (1996, p.115).
Não se trata de que os ameríndios acreditem que diferentes espécies vejam o mundo de
diferentes perspectivas. Trata-se, na verdade, do oposto: todas as espécies veem o mundo
da mesma maneira, “o que muda é o mundo que veem” (VIVEIROS DE CASTRO, 2009,
p.853). Em outras palavras, o perspectivismo ameríndio não é um multiculturalismo
porque uma perspectiva não é uma representação. Segundo Viveiros de Castro, o
perspectivismo ameríndio seria melhor compreendido como um multinaturalismo, no
qual diferentes espécies experienciam e veem diferentes mundos. A diferença entre as
percepções ameríndia e ocidental de corpo e de alma é ilustrada por uma anedota narrada
por Lévi-Strauss, tanto em Raça e história como em Tristes trópicos.
Emblemática para o perspectivismo, a anedota de Lévi-Strauss lembra que alguns
anos depois do encontro colonial nas Antilhas, os espanhois enviaram comissões
investigativas para averiguar se os ameríndios possuíam alma. Enquanto isso, os
caribenhos conduziam o seu próprio experimento etnográfico, submergindo cadáveres
de brancos para descobrir, depois de extensa observação, se seus corpos estavam sujeitos
à putrefação, ou seja, se eles tinham ou não tinham corpo. Viveiros de Castro toma essa
anedota como alegoria de um contraste fundamental entre o antropocentrismo ocidental
e o perspectivismo ameríndio. Do ponto de vista ocidental, independente de você ser
universalista ou relativista, a natureza, ou seja, o corpo, é aquilo que todos temos, humanos
e não humanos – e daí a dúvida dos espanhois sobre se os ameríndios tinham ou não
tinham alma. Do ponto de vista ameríndio, é o oposto. A alma, ou seja, o estatuto de
pessoa, a subjetividade, é aquilo que todos os seres vivos compartilham, tanto os animais
humanos como os não humanos. O que os diferencia são seus corpos, não a presença ou
ausência de alma, de racionalidade ou de imortalidade. Todo um edifício antropocêntrico,
compartilhado tanto por idealismos como materialismos (incluindo-se aqui o Marxismo),
havia diferenciado humanos e animais, conferindo àqueles algum atributo faltante nestes.
Para as visões de mundo ameríndias, o atributo próprios à humanidade seria uma posição
que também pode ser ocupada por outras espécies. Viveiros de Castro argumenta que essa
concepção pode ser encontrada em sociedades ameríndias de Alaska a Tierra del Fuego.
Ela transforma nossa oposição entre natureza e cultura de formas bem interessantes,
como se verá.
A importância da posicionalidade na obra de Viveiros de Castro se deixa ver já em
seu primeiro trabalho etnográfico, particularmente na reinterpretação do canibalismo
entre os Araweté, povo de língua Tupi-Guarani da Amazônia Oriental. Enquanto que
um dos fundadores da sociologia brasileira, Florestan Fernandes, havia interpretado o
canibalismo Tupinambá como sacrifício, Viveiros questionou a ideia de que houvesse
uma entidade supernatural implícita no ato, a quem supostamente algo pudesse estar
sendo ofertado. Viveiros passa, então, a colocar outra pergunta, diferente da que Florestan
havia lançado: “o que exatamente é comido quando se canibaliza o inimigo?” Viveiros
tenta respondê-la descrevendo a sintaxe do ato, em vez de focalizar-se na substância do
12 Direito e Democracia, v.17, n.2, jul./dez. 2016
que é comido. Eram escassos e pouco conclusivos os testemunhos que conferiam algum
atributo aos corpos devorados, e Viveiros passa a argumentar que “o que se comia era
a relação do inimigo com seus devoradores ou, dito de outro modo, sua condição de
inimigo. O que se assimilava da vítima eram os signos de sua alteridade, e o que se
buscava era essa alteridade como ponto de vista” (2010, p.2338). O que se canibaliza é
uma perspectiva, uma posição, não uma essência ou substância. Esse postulado implica
não só uma reinterpretação do canibalismo, mas uma reflexão sobre as próprias premissas
da disciplina, já que não se trataria mais de fazer antropologia para descrever a vida vivida
do ponto de vista indígena, tal como tradicionalmente vislumbrado pela antropologia
europeia. Em vez disso, tratar-se-ia de descrever como uma determinada posição, a do
inimigo, é assumida, numa transmutação de perspectivas na qual “o ‘eu’ está determinado
enquanto ‘outro’ pelo ato de incorporação desse outro” (VIVEIROS DE CASTRO, 2010,
p.2336). Já não fazia sentido falar de uma dicotomia entre visões de mundo ocidental
e ameríndia, mas sim de uma diferença fundamental entre as formas através das quais
cada lado percebe a própria dicotomia. Enquanto que aquela a apreende sob a lógica da
contradição (as coisas são A ou B), esta concebe a dicotomia inteira como uma linha de
fuga, numa concepção essencialmente transformacional do mundo.
Um ensaio de Viveiros de Castro intitulado “O mármore e a murta: Sobre a
inconstância da alma selvagem” ajuda a desenredar essas questões. A metáfora do título
é retirada do célebre Sermão do Espírito Santo (1657), de Antônio Vieira, no qual ele
contrasta as estátuas de mármore, que demoram e levam trabalho para serem construídas,
mas não precisam de nenhum ajuste posterior, com as estátuas de murta, muito mais fáceis
de construir, mas em constante necessidade de serem podadas depois. Vieira compara
os Tupinambá encontrados pelos portugueses no Brasil a estátuas de murta, na medida
em que elas “recebem tudo o que lhes ensinam com grande docilidade e facilidade, sem
argumentar, sem replicar, sem duvidar, sem resistir; mas são estátuas de murta que, em
levantando a mão e a tesoura o jardineiro, logo perdem a nova figura, e tornam à bruteza
antiga e natural, e a ser mato como dantes eram” (VIEIRA apud VIVEIROS DE CASTRO,
2002, p.184). Se os ameríndios pareciam ter aprendido e assimilado a lição, era razoável
pressupor que eles atuariam da mesma forma no dia seguinte. Mas isso não aconteceu.
A evangelização toma então a forma de uma máquina mnemônica, um antídoto contra a
natureza supostamente amnésica dos ameríndios. Os Tupinambá, claro, só eram amnésicos
quando olhados do ponto de vista de uma concepção colonialista, baseada numa lógica
aristotélica, identitária, segundo a qual algo é ou não é.
As crônicas portuguesas dos séculos XVI e XVII estão repletas da perplexidade
causada pela resposta ameríndia à evangelização: eles não pareciam opor às crenças
religiosas portuguesas um conjunto estruturado de crenças próprias. Eles não reagiam
insistindo numa versão contraditória do mundo, uma cosmogonia alternativa para competir
com a cristã. Eles pareciam maleáveis, miméticos e aceitadores dos valores portugueses
apenas para, num segundo momento, esquecer tudo e passar a outra coisa. Em outras
palavras, o que deixava os portugueses estupefatos não era que houvesse um conjunto
de crenças completamente diferente em jogo. Era o fato de que os Tupinambá pareciam
operar fora da lógica aristotélica da identidade e da não contradição. Como nota Viveiros,
Direito e Democracia, v.17, n.2, jul./dez. 2016 13
para os ameríndios não era uma questão de “impor maniacamente sua identidade sobre
o outro, ou recusá-lo em nome da própria excelência étnica; mas sim de, atualizando
uma relação com ele […], transformar a própria identidade. A inconstância da alma
selvagem, em seu momento de abertura, é a expressão de um modo de ser onde ‘é a
troca, não a identidade, o valor fundamental’“ (2002, p.206). Assim como Pierre Clastres
nos havia convidado a pensar o paradoxo de um poder não coercitivo, uma posição de
autoridade baseada no desprovimento,4 é a imagem de uma religião sem um conjunto
fechado de crenças e uma ordem cultural não baseada na exclusão do outro que deve ser
compreendida aqui. Os portugueses encontraram, como inimigo, não outro dogma, mas
a indiferença e a inconstância ante todo dogma. A ausência de uma posição propriamente
evangélica, dogmática ante a crença está vinculada a uma concepção essencialmente
transformacional do mundo, na qual a humanidade e a animalidade são entendidas em
termos bem diferentes dos nossos.
Viveiros de Castro nota que se há uma noção virtualmente universal no pensamento
ameríndio, é a de um estado originário de indiferenciação entre humanos e animais.
Mas “a condição original comum aos humanos e animais não é a animalidade, mas a
humanidade” (1996, p.119), já que os mitos ameríndios com frequência relatam a história
de como os animais são o que são porque perderam atributos próprios aos humanos.
Enquanto os ocidentais pressupomos, de alguma forma, que nós somos ex-animais (na
medida em que as narrativas do antropocentrismo ocidental invariavelmente relatam
a passagem de uma animalidade que todos compartilhamos com os não humanos em
algum momento do passado para a especificidade da essência humana que hoje só nós
possuímos), o pensamento ameríndio nos convida a pensar os animais como ex-humanos.
Numa palestra intitulada “A morte como quase acontecimento”, Viveiros de Castro narra
alguns dos muitos mitos ameríndios que contam a história de como as onças – animal
chave aqui, já que é o predador por excelência no bioma amazônico – livram-se de suas
peles e se revelam como pessoas quando estão longe dos humanos. É importante não
reduzir essa dinâmica à nossa conhecida oposição entre aparência e essência. Não se trata
de que o corpo é entendido como mera roupagem que esconde a verdadeira essência,
mas todo o contrário. A própria roupagem é entendida como corpo. Lembremos que, em
muitas sociedades ameríndias, as máscaras animais são “dotadas do poder de transformar
metafisicamente a identidade de seus portadores, quando usadas no contexto ritual
apropriado. Vestir uma roupa-máscara é menos ocultar uma essência humana sob uma
aparência animal que ativar os poderes de um corpo outro” (VIVEIROS DE CASTRO,
1996, p.133). A humanidade permanece nos animais como força visível somente aos olhos
daquela própria espécie ou da figura transespecífica do xamã. As ontologias ameríndias
com frequência recorrem à roupagem como componente de metamorfoses, dispositivos
desse “mundo altamente transformacional” (RIVIÈRE apud VIVEIROS 1996, p.117).
O resultado seria, então, que apesar de que nós nos vemos como pessoas, essa percepção
4
Em Sociedade contra o estado, Pierre Clastres resolve a questão aparentemente paradoxal de uma forma de
poder não coercitivo ao assinalar sociedades ameríndias nas quais se exige do chefe a generosidade extrema e
a obrigação de manter-se desprovido de bens materiais. O sistema se baseia na premissa de que “o chefe não
transmite nada senão sua dependência sobre o grupo” (2011, p.45).
14 Direito e Democracia, v.17, n.2, jul./dez. 2016
difere da forma como as outras espécies nos veem e veem a si mesmas. As onças também
se veem como pessoas. Aos olhos dela, não somos senão presa, um porco selvagem.
Viveiros localiza na etnografia amazônica uma série de referências a uma teoria
ameríndia segundo a qual a forma como os humanos vemos os animais não humanos
(assim como outras subjetividades que povoam o universo: os mortos, os fenômenos
meteorológicos, até mesmo os objetos e artefatos) é bem diferente da forma como esses
seres veem os humanos e a si mesmos. Tipicamente, os humanos veem a si mesmos como
humanos, os animais como animais, e os espíritos (quando os veem) como espíritos; mas
os predadores e os espíritos, segundo as cosmogonias ameríndias, veem os humanos como
presa, ou seja, como animais. Por outro lado, as presas veem os humanos como espíritos
ou como predadores, enquanto os predadores e os espíritos veem a si mesmos como
humanos. Eles apreendem-se, ou se tornam, antropomorfizados, e experienciam seus
próprios hábitos sob o signo da cultura, não da natureza. Veem sua própria comida como
comida humana (as onças veem o sangue como cauim, por exemplo) e “seus atributos
corporais (pelagem, plumas, garras, bicos etc.) como adornos ou instrumentos culturais,
seu sistema social como organizado do mesmo modo que as instituições humanas (com
chefes, xamãs, festas, ritos etc.)” (VIVEIROS DE CASTRO, 1996, p.117).
Quando a onça te vê, é ela a pessoa. Ela é a dotada de atributos de pessoa. Tu és
presa. Em outras palavras, enquanto que o debate ocidental entre relativismo e objetivismo
se dirige ao problema da primazia de uma posição de sujeito em relação ao objeto (ou
vice-versa), no perspectivismo ameríndio tem-se outro sistema, no qual a própria posição
de sujeito é variável e pode ser ocupada por humanos, animais não humanos, espíritos e
até plantas ou fenômenos meteorológicos.
Do postulado de um estado primordial de indiferenciação entre animais humanos
e animais não humanos, no qual a condição originária é a humanidade, e não a
animalidade, se desprendem algumas conclusões. Enquanto que o pensamento ocidental
está acostumado a pensar a natureza como terreno comum a partir do qual as culturas se
diferenciam entre si (as narrativas de nossa humanização são, invariavelmente, relatos de
um movimento que parte da natureza rumo à cultura), as narrativas ameríndias contam
como os animais perderam atributos mantidos pelos humanos. Os animais podem ser,
então, para os ameríndios, ex-humanos. Para nós, evidentemente, trata-se do oposto: nós
somos, de alguma forma, ex-animais que adquirimos um atributo de humanidade, seja
ele a imortalidade, a consciência da temporalidade, a racionalidade ou a capacidade de
produzir e reproduzir seus próprios meios de subsistência. “Os europeus nunca duvidaram
que os índios tivessem corpos (também os animais os têm); os índios nunca duvidaram
que os europeus tivessem almas (também os animais e os espectros dos mortos as têm)”
(VIVEIROS DE CASTRO, 2011, p.432). Em conclusão, não há essência humana quando
a humanidade se torna um conceito puramente posicional.
O conceito de equivocação de Eduardo Viveiros de Castro pode ajudar na
compreensão da irredutibilidade do perspectivismo ameríndio a um simples relativismo.
O antropólogo brasileiro elabora o conceito a partir da proposição de que a anedota de
Lévi-Strauss narrada no início desta seção não é somente “sobre” o perspectivismo,
Direito e Democracia, v.17, n.2, jul./dez. 2016 15
mas é “ela mesma perspectivista, instanciando o mesmo marco ou estrutura manifesta
nos incontáveis mitos ameríndios que tematizam o perspectivismo interespecífico”
(VIVEIROS DE CASTRO, 2004, p.9). Um exemplo, lembra Viveiros, são as variações
da história de um protagonista humano que se perde na floresta e chega a um povoado,
cujos habitantes o convidam a uma cabaça de cerveja de mandioca. No momento seguinte,
ele aparece aterrorizado ao ver que lhe serviram uma cabaça lotada de sangue humano. A
questão aqui não é somente que o mal-entendido seja constitutivo de como o antropólogo
percebe o nativo, como incontáveis antropólogos já apontaram. No caso dos ameríndios,
a “realidade” que o antropólogo tenta descrever é ela mesma estruturada e constituída
através de um conjunto de ‘mal-entendidos’“ e conceitualizações desses mal-entendidos,
o que confere à noção de equívoco um sentido diferente daquele conferido pela lógica
aristotélica. Para Viveiros de Castro, equivocação, neste caso, não seria um simples erro,
ilusão ou desleitura. A equivocação “é uma categoria propriamente transcendental da
antropologia, uma dimensão constitutiva do projeto de tradução cultural da disciplina.
Ela expressa um estrutura de jure, uma figura imanente à antropologia. Não é meramente
uma facticidade negativa, mas uma condição de possibilidade do discurso antropológico”
(VIVEIROS DE CASTRO, 2004, p.11). Enquanto que erros ou enganos pressupõem um
fracasso dentro de um determinado jogo linguístico, a equivocação é “aquilo que tem lugar
no intervalo entre diferentes jogos linguísticos” (idem p.11). O perspectivismo ameríndio
descrito acima é, então, ele mesmo uma teoria da equivocação, não só um caso dela. O
mero construtivismo, ou seja, o conhecido argumento de que não há uma realidade prévia
ou natural e que o real é, ele mesmo, constituído pelo discurso, mostra-se claramente
insuficiente para dar conta do fenômeno. Há um mundo de diferença entre “um mundo no
qual o primordial é experienciado como transcendência nua, pura alteridade antiantrópica”
(ou seja, o mundo do empirismo naturalista que o construtivista desmantela) e, por outro
lado, “um mundo de humanidade imanente, no qual o primordial toma forma humana (o
que não o torna necessariamente tranquilizador), pois ali onde tudo é humano, o humano
é algo completamente outro” (idem, p.16).
Como um mundo no qual “tudo é humano” poderia nos servir como antídoto ao
antropocentrismo? Não seria esta uma contradição em termos? Aqui pode ser instrutiva
a análise que propõe Viveiros de Castro da estrutura pronominal que subjaz à experiência
ameríndia. Enquanto que o pronome de primeira pessoa “eu” é a instância propriamente
dotada de alma ou espírito e o pronome de terceira pessoa “ele/ela” é a esfera impessoal
da natureza, na segunda pessoa tu, “a Sobrenatureza é a forma do Outro como Sujeito”
(VIVEIROS DE CASTRO, 1996, p.135). Viveiros relata aqui um encontro arquetípico
frequentemente narrado nas sociedades ameríndias: um homem, sempre sozinho na
floresta, vê um ser que inicialmente lhe parece um animal, mas que termina sendo
sempre um espírito ou um morto que lhe fala. Essa interpelação – para evocar a cena
althusseriana com a qual ela mantém alguns paralelos – transforma o protagonista num
ser objetificado pela outra entidade. Ao olhar para ela, ao dar a volta, o personagem deixa
de ser humano e se converte em mera presa. As palavras ameríndias que traduzem “ser
humano” tendem a funcionar, “pragmática, se não sintaticamente, menos como nomes e
mais como pronomes” (VIVEIROS DE CASTRO, 2011, p.371). E aqui é a distinção entre
16 Direito e Democracia, v.17, n.2, jul./dez. 2016
o nosso antropocentrismo e o antropomorfismo ameríndio que deve ser compreendida.
Em vez de ver a humanidade dotada de atributos de quais os animais estão desprovidos
– como na clássica fórmula marxiana, “os animais produzem unilateralmente, os homens
produzem universalmente” –, o pensamento ameríndio vê a humanidade como um ponto
de vista. Nós nos vemos como humanos, mas as onças também se veem como humanas.
Elas nos veem, por sua vez, como presa. Trata-se de um deslocamento radical no conceito
de humanidade: se todos podem ser humanos, nós não somos nada de muito singular ou
especial. O antropocentrismo ocidental e o antropomorfismo ameríndio, então, não apenas
não se confundem, como implicam, na verdade, posturas diametralmente opostas ante o
mundo e as outras espécies. O antropomorfismo ameríndio é antiantropocêntrico.
4 O CONCEITO DE DIREITOS NÃO HUMANOS
As lições do perspectivismo ameríndio adquirem relevância renovada quando
as vemos à luz da situação descrita no artigo de Chakrabarty citado no começo deste
trabalho, a chegada de uma nova era na qual os seres humanos se tornaram uma força
destrutiva de tal magnitude que adquiriram o estatuto de agentes geológicos. Nossos
conceitos de desenvolvimento, tanto o capitalista como o socialista, pressupõem, mesmo
que silenciosamente, que os recursos são infinitos e as possibilidades de explorá-los,
ilimitadas. Esse modelo também tem como premissa um conceito de racionalidade
humana baseado na sujeição e exploração dos animais não humanos e da natureza.
Enfrentados pela primeira vez com a visão concreta de uma escassez global de água
e de outros recursos naturais, assim como com o fato de que a atividade humana já
excedeu a capacidade produtiva biológica do planeta (o World Wildlife Fund chegou
à conclusão de que a humanidade já está usando recursos equivalentes a um planeta e
meio), temos que questionar a própria primazia do humano e a exclusividade da espécie
humana como único sujeito de direitos. Na área jurídica, uma bibliografia copiosa tem
questionado as limitações da concepção antropocêntrica de Direito (NASH, 1989,
p.13-32; RODRIGUES, 2008, p.197-213; BEVILAQUA, 2011, p.86-99).5 Cada vez se
oferece mais fundamentação jurídica para que animais e a própria natureza adquiram
a condição de sujeitos dotados de direitos. Tanto a Constituição equatoriana de 2008
como a boliviana de 2009 estão imbuídas do saber dos povos ameríndios. O Artigo 255
da Constituição da Bolívia estabelece o princípio da “harmonia com a natureza, defesa
da biodiversidade e a proibição da apropriação privada para uso e exploração exclusiva
de plantas, animais, micro-organismos e qualquer matéria viva”. Indo além da simples
concessão de direitos aos sujeitos não humanos, outros estudiosos apontaram que não é
5
A interseção entre o Direito e os estudos do meio ambiente já é um vasto campo, sobre o qual não tenho condições
de falar como especialista. Para aqueles que, como eu, vão se aproximando do problema, o primeiro capítulo do
clássico The Rights of Nature, de Roderick Nash, que parte de John Locke, oferece um relato útil do conflito entre
o antropocentrismo da teoria do direito natural e uma “noção mais fraca, mas persistente, que leva diretamente
ao conceito de comunidade expandida sobre o qual se sustenta a ética ambientalista” (19-20). Ciméa Barbato
Bevilaqua, “Chimpanzés em juízo”, resenha dois processos judiciais, um no Brasil e outro em Serra Leoa, nos
quais chimpanzés foram reconhecidos como sujeitos jurídicos.
Direito e Democracia, v.17, n.2, jul./dez. 2016 17
suficiente fazer da natureza um sujeito jurídico se não questionamos quanto da natureza
entrou na construção do nosso próprio conceito de propriedade (FIGUEROA, 2006,
p.16-7). Ou seja, a própria compreensão do mundo natural como objeto numa relação
de propriedade na qual os humanos são sempre sujeitos deve ser repensada: “há muita
natureza na noção de propriedade” (FIGUEROA, 2006, p.16).
Quando se trata desse laço renovado entre questões ecológicas e culturais, a América
Latina não é um terreno entre outros. Num contexto de devastação sem precedentes do
meio ambiente, a Amazônia, como a maior reserva de biodiversidade do planeta, concentra
hoje algumas das batalhas ecológicas e políticas mais decisivas de nosso tempo. Na
Bolívia, a construção de uma estrada que atravessaria o Parque Tipnis, em violação de
terras indígenas, mobilizou grande resistência e forçou o governo de Evo Morales a ceder.
No Peru, a capitulação do governo de centro-esquerda de Ollanta Humala a uma agenda
desenvolvimentista tem trazido dano severo ao bioma amazônico, em geral em parceria
com empreiteiras brasileiras. No Brasil, país de origem desse modelo, o governo de Dilma
Rousseff tem se notabilizado por uma concepção da Amazônia como lugar a ser colonizado
e rentabilizado para o capitalismo, mormente através das onipresentes hidrelétricas e da
expansão da fronteira do agronegócio – concepção, aliás, herdada da própria ditadura
militar sob a qual Dilma havia sido torturada. Em particular, a construção da usina de
Belo Monte, com danos irreparáveis ao rio da diversidade nacional, o Rio Xingu, tem sido
fonte de uma série de questionamentos, ecológicos, jurídicos, energéticos e econômicos.
Foi num desses questionamentos que um Procurador da República explicitamente referiu-
se à jurisprudência antropocêntrica como ultrapassada e, através de uma analogia com
a expansão do estatuto jurídico aos escravos no século XIX, argumentou que os direitos
da natureza estavam sendo violados.6
A crise ecológica sem precedentes da qual somos agentes e, junto com animais,
plantas e a natureza como um todo, vítimas, é um caso claro do que Timothy Morton
chamou de “hiperobjetos”, ou seja, objetos que desafiam nossa percepção do tempo e
do espaço, posto que estão “distribuídos de tal maneira pelo globo terrestre que não
podem ser apreendidos diretamente por nós, ou então que duram ou produzem efeitos
cuja duração extravasa enormemente a escala da vida humana conhecida” (DANOWSKI
2012: 2). A crise ecológica é, então, ao mesmo tempo, óbvia e invisível, urgente e dilatada,
especificamente contemporânea e radicalmente intempestiva. Como se deduz de todo
o anterior, a própria urgência do conceito de direitos não humanos é um produto da
razão antropocêntrica, assim como um lembrete de seus limites e fracassos. O paradoxo
final pode bem ser este: a mais poderosa crítica da razão antropocêntrica vem hoje das
narrativas ameríndias estruturadas a partir da antropomorfização de animais não humanos,
espíritos, plantas e corpos d’água. O que permanece para ser resolvido é o dilema: será
ou não tarde demais para aprender com eles neste mundo em que, se tudo é humano, ser
humano já não é tão especial?
6
Há uma vasta bibliografia documentando a ilegalidade e os impactos ecocidas da Usina de Belo Monte. Para
uma compilação comentada de cinquenta textos que detalham esse ataque aos direitos dos povos indígenas da
região do Xingu, ver Idelber Avelar “Cinquenta leituras sobre o ecocício de Belo Monte”.
18 Direito e Democracia, v.17, n.2, jul./dez. 2016
REFERÊNCIAS
AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua. Trad. Henrique Burigo.
Belo Horizonte: UFMG, 2007.
______. “Al di là dei diritti dell’uomo”. In: Mezzi senza fine: notte sulla politica. Torino:
Bolatti Boringhieri, 1998, p.20-29.
AVELAR, Idelber. “Cinquenta leituras sobre o ecocídio de Belo Monte. Primeira Parte”.
Disponível em: <http://revistaforum.com.br/idelberavelar/2011/11/24/bibliografia-
comentada-50-leituras-sobre-o-ecocidio-de-belo-monte-1%C2%AA-parte/>. Acesso
em 05 maio 2016.
______. “Cinquenta leituras sobre o ecocídio de Belo Monte. Segunda Parte”. Disponível
em: <http://revistaforum.com.br/idelberavelar/2012/01/31/bibliografia-comentada-
50-leituras-sobre-o-ecocidio-de-belo-monte-2%C2%AA-parte/>. Acesso em 05 maio
2016.
BADIOU, Alain. Saint Paul: La fondation de l’universalisme. Paris: PUF, 1997.
BEVILAQUA, Ciméa Barbato. “Chimpanzés em Juízo: Pessoas, Coisas e Diferenças”.
Horizontes Antropológicos 17.35 (2011): 65-102.
CHAKRABARTY, Dipesh. “The Climate of History: Four Theses”. Critical Inquiry 35
(2009): 197-222.
CLASTRES, Pierre. La Société contre l’Etat: Recherches d’anthropologie politique.
Paris: Minuit, 2011 [1974].
CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador. 2008. Disponível em: <http://www.
asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf >.
CONSTITUCIÓN del Estado Plurinacional de Bolivia. 2009. <http://www.justicia.gob.
bo/index.php/normas/doc_download/35-nueva-constitucion-politica-del-estado>
DANOWSKI, Déborah. “O hiperrealismo das mudanças climáticas e as várias faces do
negacionismo”. Sopro 70 (2012): 2-11.
FIGUEROA, Isabela. “Povos indígenas versus petrolíferas: controle constitucional na
resistência”. Sur, Revista Internacional de Direitos Humanos 3.4 (2006): 49-79.
FOUCAULT, Michel. Naissance de la biopolitique: Cours au collège de France (1978-
1979). Paris: Seuil, 2004.
LECHTE, John and Saul Newman. “Agamben, Arendt and Human Rights: Bearing
Witness to the Human”. European Journal of Social Theory 15.4 (2012): 522-536.
LEVI-STRAUSS, Claude. Race et histoire. Paris: Gallimard, 1987.
______. Tristes tropiques. Paris: Plon, 1955.
LUDUEÑA, Fabián. A comunidade dos espectros I. Antropotecnia. Trad. Alexandre
Nodari e Leonardo D’ávila. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2013. Ed. Kindle.
MORTON, Timothy. The Ecological Thought. Boston: Harvard UP, 2010.
NASH, Roderick. The Rights of Nature: A History of Environmental Ethics. Madison:
University of Wisconsin Press, 1989.
NODARI, Alexandre. Censura: Ensaio sobre a “servidão imaginária”. Ph.D. Dissertation.
Florianópolis: Federal University of Santa Catarina, 2012.
______. “Fabricar o Humano: Resenha de La comunidad de los espectros, de Fabián
Ludueña”. Sopro 50 (2011): 2-10.
Direito e Democracia, v.17, n.2, jul./dez. 2016 19
PATEMAN, Carole. The Disorder of Women: Democracy, Feminism, and Political Theory.
Stanford: Stanford UP, 1989.
RODRIGUES, Danielle Tetu. O Direito & Os Animais – Uma Abordagem Ética, Filosófica
e Normativa. Curitiba: Juruá, 2008.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Araweté: os deuses canibais. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1986.
______. A Inconstância da Alma Selvagem e Outros Ensaios de Antropologia. 2nd Edition.
São Paulo: Cosac Naify, 2011.
______. Metafísicas caníbales: Líneas de antropología posestructural. Trans. Stella
Mastrangelo. Buenos Aires and Madrid: Katz, 2010. Ed. Kindle.
______. A Morte como Quase Acontecimento”. Public Lecture. Disponível em: <http://
www.youtube.com/watch?v=Zdz8U9_8YVU>.
______. “Perspectival Anthropology and the Method of Controlled Equivocation”. Tipití
2.1 (2004): 3-22.
______. “Os Pronomes Cosmológicos e o Perspectivismo Ameríndio”. Maná 2.2 (1996):
115-144.
ŽIŽEK, Slavoj. The Puppet and the Dwarf: The Perverse Core of Christianity. Cambridge,
Mass.: MIT Press, 2003.
20 Direito e Democracia, v.17, n.2, jul./dez. 2016
Você também pode gostar
- Desigualdade, Diferença, Política: Análises Interdisciplinares em Tempos de PandemiasNo EverandDesigualdade, Diferença, Política: Análises Interdisciplinares em Tempos de PandemiasAinda não há avaliações
- Direitos Humanos no Contexto Atual: Desafios em efetivar o positivadoNo EverandDireitos Humanos no Contexto Atual: Desafios em efetivar o positivadoAinda não há avaliações
- Arapiuns+5: O Ordenamento Territorial IncompletoNo EverandArapiuns+5: O Ordenamento Territorial IncompletoAinda não há avaliações
- Zona de amortecimento de unidade de conservação da naturezaNo EverandZona de amortecimento de unidade de conservação da naturezaAinda não há avaliações
- Saúde indígena em tempos de pandemia: movimentos indígenas e ações governamentais no BrasilNo EverandSaúde indígena em tempos de pandemia: movimentos indígenas e ações governamentais no BrasilAinda não há avaliações
- Tolices sobre Pernas de Pau: um comentário à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789No EverandTolices sobre Pernas de Pau: um comentário à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789Ainda não há avaliações
- Direitos Emergentes na Sociedade Global: Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSMNo EverandDireitos Emergentes na Sociedade Global: Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSMAinda não há avaliações
- Insurgência e Descolonialização Analética da América LatinaNo EverandInsurgência e Descolonialização Analética da América LatinaAinda não há avaliações
- Educação em perspectiva crítica: inquietudes, análises e experiênciasNo EverandEducação em perspectiva crítica: inquietudes, análises e experiênciasAinda não há avaliações
- O Antropoceno e a (in)justiça ambiental: os efeitos do mercúrio causados pelo garimpo nos guardiões da florestaNo EverandO Antropoceno e a (in)justiça ambiental: os efeitos do mercúrio causados pelo garimpo nos guardiões da florestaAinda não há avaliações
- Conflitos socioambientais: uma abordagem interdisciplinarNo EverandConflitos socioambientais: uma abordagem interdisciplinarAinda não há avaliações
- A Questão Alimentar e o Desenvolvimento dos Territórios: Diálogos a Partir da Experiência do Território Vertentes em Minas GeraisNo EverandA Questão Alimentar e o Desenvolvimento dos Territórios: Diálogos a Partir da Experiência do Território Vertentes em Minas GeraisAinda não há avaliações
- Léopold Senghor e Frantz Fanon: Intelectuais (pós) coloniais entre o político e o culturalNo EverandLéopold Senghor e Frantz Fanon: Intelectuais (pós) coloniais entre o político e o culturalAinda não há avaliações
- Transgeneridade e Previdência Social: seguridade social e vulnerabilidadesNo EverandTransgeneridade e Previdência Social: seguridade social e vulnerabilidadesAinda não há avaliações
- Gestão de Risco Alimentar: Uma Política Tributária Indutora da AgroecologiaNo EverandGestão de Risco Alimentar: Uma Política Tributária Indutora da AgroecologiaAinda não há avaliações
- Questão Agrária no Brasil e Argentina: práxis e consciência em movimentoNo EverandQuestão Agrária no Brasil e Argentina: práxis e consciência em movimentoAinda não há avaliações
- Jurisdição Constitucional Latino-Americana: O caso Argentina, Paraguai e Uruguai. Convergências e dissonâncias dos modelos clássicosNo EverandJurisdição Constitucional Latino-Americana: O caso Argentina, Paraguai e Uruguai. Convergências e dissonâncias dos modelos clássicosAinda não há avaliações
- Com o Mundo nas Costas: Profissionais do Sexo, Envelhecimento e SaúdeNo EverandCom o Mundo nas Costas: Profissionais do Sexo, Envelhecimento e SaúdeAinda não há avaliações
- Perpectivas latino-americanassobre o constitucionalismo no mundoNo EverandPerpectivas latino-americanassobre o constitucionalismo no mundoAinda não há avaliações
- Movimentos sociais latino-americanos: A chama dos movimentos campesino-indígenas bolivianosNo EverandMovimentos sociais latino-americanos: A chama dos movimentos campesino-indígenas bolivianosAinda não há avaliações
- A emergência das catástrofes ambientais e os direitos humanosNo EverandA emergência das catástrofes ambientais e os direitos humanosAinda não há avaliações
- Fundamentos e Processos de uma Sociologia de Acção - 2ª ed.: O Planeamento em Ciências SociaisNo EverandFundamentos e Processos de uma Sociologia de Acção - 2ª ed.: O Planeamento em Ciências SociaisAinda não há avaliações
- A Consulta Prévia, Livre e Informada: Instrumento de democracia e inclusão de comunidades indígenasNo EverandA Consulta Prévia, Livre e Informada: Instrumento de democracia e inclusão de comunidades indígenasAinda não há avaliações
- Entre a subjetividade do intérprete e a objetividade do método científico: o problema hermenêutico da aplicação em GadamerNo EverandEntre a subjetividade do intérprete e a objetividade do método científico: o problema hermenêutico da aplicação em GadamerAinda não há avaliações
- Estudos atuais em Psicologia e Sociedade: Volume 1No EverandEstudos atuais em Psicologia e Sociedade: Volume 1Ainda não há avaliações
- Juventudes Indígenas no Brasil: mobilizações e direitosNo EverandJuventudes Indígenas no Brasil: mobilizações e direitosAinda não há avaliações
- Dignidade humana ecocêntrica: do antropocentrismo moderno à deep ecology contemporâneaNo EverandDignidade humana ecocêntrica: do antropocentrismo moderno à deep ecology contemporâneaAinda não há avaliações
- Governança global e justiça ambiental face aos desafios das mudanças climáticasNo EverandGovernança global e justiça ambiental face aos desafios das mudanças climáticasAinda não há avaliações
- Pedagogia da Terra: As Mulheres da Reforma Agrária na EducaçãoNo EverandPedagogia da Terra: As Mulheres da Reforma Agrária na EducaçãoAinda não há avaliações
- Direitos humanos e sociedade: Perspectivas, enquadramentos e desafiosNo EverandDireitos humanos e sociedade: Perspectivas, enquadramentos e desafiosAinda não há avaliações
- Jurisdição Indígena: fundamento de autodeterminação dos povos indígenas na América Latina e no BrasilNo EverandJurisdição Indígena: fundamento de autodeterminação dos povos indígenas na América Latina e no BrasilAinda não há avaliações
- Ecossistema Das Iniciativas Sociais No BrasilNo EverandEcossistema Das Iniciativas Sociais No BrasilAinda não há avaliações
- Vida e Luta Camponesa no Território: casos em que o campesinato luta, marcha e transforma o território capitalistaNo EverandVida e Luta Camponesa no Território: casos em que o campesinato luta, marcha e transforma o território capitalistaAinda não há avaliações
- Discriminação racial nas relações de trabalhoNo EverandDiscriminação racial nas relações de trabalhoAinda não há avaliações
- Geopolítica e memória: Uma discussão do processo de desenvolvimentoNo EverandGeopolítica e memória: Uma discussão do processo de desenvolvimentoAinda não há avaliações
- Sociologia ambiental: Possibilidades epistêmicas e realidades complexasNo EverandSociologia ambiental: Possibilidades epistêmicas e realidades complexasAinda não há avaliações
- Trabalhadores no tribunal: conflitos e justiça do trabalho em São Paulo no contexto do golpe de 1964No EverandTrabalhadores no tribunal: conflitos e justiça do trabalho em São Paulo no contexto do golpe de 1964Ainda não há avaliações
- Sobrecarga processual do STF: Crítica à abstratização dos efeitos do controle concreto de constitucionalidade e alternativas de racionalizaçãoNo EverandSobrecarga processual do STF: Crítica à abstratização dos efeitos do controle concreto de constitucionalidade e alternativas de racionalizaçãoAinda não há avaliações
- Privatização e mercantilização da água: bem comum sob domínio privadoNo EverandPrivatização e mercantilização da água: bem comum sob domínio privadoAinda não há avaliações
- Terras indígenas e o STF: análise de decisões numa perspectiva decolonial (2009-2018)No EverandTerras indígenas e o STF: análise de decisões numa perspectiva decolonial (2009-2018)Ainda não há avaliações
- Direitos humanos contra-hegemônicos e o caso da Clínica do TestemunhoNo EverandDireitos humanos contra-hegemônicos e o caso da Clínica do TestemunhoAinda não há avaliações
- Debates geográficos e a produção de contraespaçosNo EverandDebates geográficos e a produção de contraespaçosAinda não há avaliações
- Trabalho e Identidades às Avessas:: Os Desafios do Serviço Social em uma Mineradora na Amazônia ParaenseNo EverandTrabalho e Identidades às Avessas:: Os Desafios do Serviço Social em uma Mineradora na Amazônia ParaenseAinda não há avaliações
- Direitos Humanos, Minorias e Ação Afirmativa: o sistema de cotas raciais no BrasilNo EverandDireitos Humanos, Minorias e Ação Afirmativa: o sistema de cotas raciais no BrasilAinda não há avaliações
- Cotas Étnico-Raciais na Unicamp: Narrativas em DisputaNo EverandCotas Étnico-Raciais na Unicamp: Narrativas em DisputaAinda não há avaliações
- Os paradigmas da biopirataria no estado do AmazonasNo EverandOs paradigmas da biopirataria no estado do AmazonasAinda não há avaliações
- Garrett Hardin - A TRAGÉDIA DOS COMUNS - TradDocumento13 páginasGarrett Hardin - A TRAGÉDIA DOS COMUNS - TradJosé Roberto Bonifácio100% (1)
- BENVENISTE, Emile - O Vocabulário Das Instituições Indo-Europeias 2Documento171 páginasBENVENISTE, Emile - O Vocabulário Das Instituições Indo-Europeias 2livros do desassossego100% (2)
- ANTELO, Raul - A Poesia Não Pensa-AindaDocumento67 páginasANTELO, Raul - A Poesia Não Pensa-Aindalivros do desassossegoAinda não há avaliações
- LLANSOL, Maria Gabriela - A Literatura-Muitas VozesDocumento4 páginasLLANSOL, Maria Gabriela - A Literatura-Muitas Vozeslivros do desassossegoAinda não há avaliações
- LLANSOL, Maria Gabriela - A Literatura-Muitas VozesDocumento4 páginasLLANSOL, Maria Gabriela - A Literatura-Muitas Vozeslivros do desassossegoAinda não há avaliações
- Zazie+edicoes Joao+adolfo+hansen Aula+maga Pequena+biblioteca+de+ensaios+2019Documento38 páginasZazie+edicoes Joao+adolfo+hansen Aula+maga Pequena+biblioteca+de+ensaios+2019Jake HeartAinda não há avaliações
- As Noites de Flores - Cesar AiraDocumento22 páginasAs Noites de Flores - Cesar AiraDídimon GuedesAinda não há avaliações
- Antelo, Raul Visão e Potênca de Não PDFDocumento102 páginasAntelo, Raul Visão e Potênca de Não PDFCassio Barbieri100% (1)
- ANTUNES, Patrícia Alexandra M - Herberto Helder-Cobra-Dispersão Poética PDFDocumento101 páginasANTUNES, Patrícia Alexandra M - Herberto Helder-Cobra-Dispersão Poética PDFlivros do desassossegoAinda não há avaliações
- ANTONIO, Maria Carolina de Araujo - A Dimensão Terapêutica Do Segredo PDFDocumento20 páginasANTONIO, Maria Carolina de Araujo - A Dimensão Terapêutica Do Segredo PDFlivros do desassossegoAinda não há avaliações
- Nietzsche e o Heráclito Que RiDocumento19 páginasNietzsche e o Heráclito Que RiThomas SamohtAinda não há avaliações
- Pequena+biblioteca+de+ensaios Wendy+brown Zazie+edicoes 2018Documento58 páginasPequena+biblioteca+de+ensaios Wendy+brown Zazie+edicoes 2018escritosAinda não há avaliações
- LATOUR, Bruno - Imaginar Gestos Que Barrem o Retorno Da Produção Pré-CriseDocumento7 páginasLATOUR, Bruno - Imaginar Gestos Que Barrem o Retorno Da Produção Pré-Criselivros do desassossego100% (1)
- SILVA, João Amadeu Oliveiera Carvalho Da - Os Selos, Outros, Últimos de HHDocumento21 páginasSILVA, João Amadeu Oliveiera Carvalho Da - Os Selos, Outros, Últimos de HHlivros do desassossegoAinda não há avaliações
- Xamã e Tecnologia IndígenaDocumento13 páginasXamã e Tecnologia IndígenaBru PereiraAinda não há avaliações
- Espelhos Partidos Têm Muito Mais Luas - Joao - FerreiraDocumento10 páginasEspelhos Partidos Têm Muito Mais Luas - Joao - FerreiraJoão Batista FerreiraAinda não há avaliações
- Viso 8 HofmannsthalDocumento12 páginasViso 8 HofmannsthalMário CoelhoAinda não há avaliações
- Latour, Bruno - Políticas Da Natureza Como Fazer Ciência Na DemocraciaDocumento208 páginasLatour, Bruno - Políticas Da Natureza Como Fazer Ciência Na DemocraciaBarbara Vieira-Souza100% (3)
- Vida Nua e Forma-De-Vida em Giorgio Agamben e Karl Marx - Violência e Emancipação Entre Capitalismo e Estado de ExceçãoDocumento26 páginasVida Nua e Forma-De-Vida em Giorgio Agamben e Karl Marx - Violência e Emancipação Entre Capitalismo e Estado de ExceçãoBruno Dos SantosAinda não há avaliações
- Dialnet RegraVidaFormaDeVida 5890751 PDFDocumento24 páginasDialnet RegraVidaFormaDeVida 5890751 PDFlivros do desassossegoAinda não há avaliações
- Resumo Sobre o Olhar John Berger PDFDocumento2 páginasResumo Sobre o Olhar John Berger PDFlivros do desassossegoAinda não há avaliações
- 175 182 1 PB PDFDocumento19 páginas175 182 1 PB PDFGiordano LeonardAinda não há avaliações
- GIFFORD, Terry - Ecocrítica Na Mirada Da Crítica AtualDocumento18 páginasGIFFORD, Terry - Ecocrítica Na Mirada Da Crítica Atuallivros do desassossegoAinda não há avaliações
- Viso 8 HofmannsthalDocumento12 páginasViso 8 HofmannsthalMário CoelhoAinda não há avaliações
- Plit0600 TDocumento443 páginasPlit0600 TJussara Rauen RibasAinda não há avaliações
- EL-JAICK, Ana Paula Grillo - Pós-Verdade Ficção FakeNewsDocumento17 páginasEL-JAICK, Ana Paula Grillo - Pós-Verdade Ficção FakeNewslivros do desassossegoAinda não há avaliações
- CAMPOS, Álvaro de - Saudação A Walt WhitmanDocumento5 páginasCAMPOS, Álvaro de - Saudação A Walt Whitmanlivros do desassossegoAinda não há avaliações
- 1909 Marinetti Manifestofuturista PDFDocumento1 página1909 Marinetti Manifestofuturista PDFAnastasia SalesAinda não há avaliações
- LONDERO, Rodolfo Rorato, TAKARA, Samilo - Tempo, Depressão e Sociedade Deadline PDFDocumento19 páginasLONDERO, Rodolfo Rorato, TAKARA, Samilo - Tempo, Depressão e Sociedade Deadline PDFlivros do desassossegoAinda não há avaliações
- LONDERO, Rodolfo Rorato, TAKARA, Samilo - Tempo, Depressão e Sociedade Deadline PDFDocumento19 páginasLONDERO, Rodolfo Rorato, TAKARA, Samilo - Tempo, Depressão e Sociedade Deadline PDFlivros do desassossegoAinda não há avaliações
- Avaliao Do Processo de Ensino AprendizagemDocumento51 páginasAvaliao Do Processo de Ensino AprendizagemTatiana da Costa SenaAinda não há avaliações
- A Invencao Do Dia Claro - Jose de Almada NegreirosDocumento62 páginasA Invencao Do Dia Claro - Jose de Almada NegreirosBruno SanromanAinda não há avaliações
- Preditores Dos Comportamentos de Redesenho Do TrabalhoDocumento9 páginasPreditores Dos Comportamentos de Redesenho Do TrabalhoJuracir MeloAinda não há avaliações
- Compulsão Alimentar: Da Teoria À Prática NutricionalDocumento18 páginasCompulsão Alimentar: Da Teoria À Prática NutricionalStephania100% (2)
- Especialista em Pessoas - Tiago BrunetDocumento266 páginasEspecialista em Pessoas - Tiago BrunetQuântica Quântica100% (5)
- V19n4a05 PDFDocumento5 páginasV19n4a05 PDFMichel AraújoAinda não há avaliações
- Estudos Sobre o Ensino de Línguas e Literaturas Na EJA No AmapáDocumento169 páginasEstudos Sobre o Ensino de Línguas e Literaturas Na EJA No AmapáNeilton NellAinda não há avaliações
- Posts em TextoDocumento24 páginasPosts em Textomarcelo m. hayeckAinda não há avaliações
- Tarot Xamânico IDocumento30 páginasTarot Xamânico IFérnanda Moura100% (1)
- Pim IV Unip 2020Documento5 páginasPim IV Unip 2020CamillaAinda não há avaliações
- Slides - Configurações Familiares AtuaisDocumento30 páginasSlides - Configurações Familiares AtuaisSabrina OliveiraAinda não há avaliações
- O Bilinguismo Como Proposta Educacional para A Educação Dos Surdos - Uma ContextualizaçãoDocumento13 páginasO Bilinguismo Como Proposta Educacional para A Educação Dos Surdos - Uma ContextualizaçãoGiovanna Glayce Marques OliveiraAinda não há avaliações
- Caderno de Apoio Ao Professor - R@io-X 11 PDFDocumento264 páginasCaderno de Apoio Ao Professor - R@io-X 11 PDFantonia44322Ainda não há avaliações
- Artigo Ed. EspecialDocumento18 páginasArtigo Ed. EspecialGesa pinheiro braazAinda não há avaliações
- Reina Lda Matt at EseDocumento152 páginasReina Lda Matt at EseMariana HarumiAinda não há avaliações
- Fox, Psicologia CríticaDocumento14 páginasFox, Psicologia CríticaAline LiliAinda não há avaliações
- Artigo - Educação Na Pandemia - A Falácia Do Ensino RemotoDocumento14 páginasArtigo - Educação Na Pandemia - A Falácia Do Ensino Remotoantonio_uchoa1697100% (2)
- 35 - Egograma - Analise TransacionalDocumento18 páginas35 - Egograma - Analise TransacionalCristiane Da Silva MeloAinda não há avaliações
- Seminário Científico: A Psicologia E A EducaçãoDocumento141 páginasSeminário Científico: A Psicologia E A EducaçãoRodrigoAinda não há avaliações
- 3553 - Saude Mental Na 3. IdadeDocumento42 páginas3553 - Saude Mental Na 3. Idadesandra campos100% (1)
- Parece Revolução, Mas É Só Neoliberalismo, Por BENAMÊ KAMU ALMUDRASDocumento12 páginasParece Revolução, Mas É Só Neoliberalismo, Por BENAMÊ KAMU ALMUDRASMario BertonyAinda não há avaliações
- Em Busca Da Visão de DeusDocumento183 páginasEm Busca Da Visão de DeusLeandro CostaAinda não há avaliações
- O Ambientalismo - BehaviorismoDocumento6 páginasO Ambientalismo - BehaviorismoANA PAULA MARTINS DA SILVA100% (2)
- Prova Psicologia EducacaoDocumento13 páginasProva Psicologia EducacaoGlaucia Andrade de OliveiraAinda não há avaliações
- Modelo Historico Escolar 1Documento2 páginasModelo Historico Escolar 1Marcone Moura100% (1)
- Roteiro de Acolhimento Ivonilde Da Silva TeodoroDocumento8 páginasRoteiro de Acolhimento Ivonilde Da Silva TeodoroGaldino lopes ChagasAinda não há avaliações
- Slides Aula 1 Livro Família Cristã - 2021Documento28 páginasSlides Aula 1 Livro Família Cristã - 2021Karlinhos KadoshAinda não há avaliações
- Faculdade Pitágoras - TCC - Atividade Discursiva - Larissa BritoDocumento2 páginasFaculdade Pitágoras - TCC - Atividade Discursiva - Larissa BritoLarissa BritoAinda não há avaliações
- 6 Manual Animacao ComunitariaDocumento122 páginas6 Manual Animacao ComunitariaArtur Furtado100% (2)