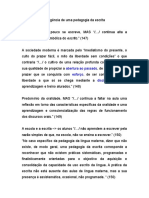Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Excertos de Estudos de Dialectologia Portuguesa (L. CIntra)
Excertos de Estudos de Dialectologia Portuguesa (L. CIntra)
Enviado por
CláudiaSilva100%(1)100% acharam este documento útil (1 voto)
126 visualizações74 páginasiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
100%(1)100% acharam este documento útil (1 voto)
126 visualizações74 páginasExcertos de Estudos de Dialectologia Portuguesa (L. CIntra)
Excertos de Estudos de Dialectologia Portuguesa (L. CIntra)
Enviado por
CláudiaSilvaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 74
COLECGKO «NOVA UNIVERSIDADE>
uistica
ESTUDOS
DE DIALECTOLOGIA
PORTUGUESA
LUIS §. LINDLBY CINTRA
(24 an, 4045)
Livraria Sé da Costa Editora
LIVRARIA SA DA COSTA EDITORA
Angus Si ds Coss, La
Rea Garrett, 100-102,
1200 LISBOA
Telefiy: 346-07 22
© Augusc Si de Cons, Lis
2 edido, 1995
Na eaps: De Joo de Bares Gramnticn
de Lingua Portuguese, com os mandanentos
(ds Santa Made igajan, Lisboa, 1539-540,
“Todas os diets reservados,
de harmonia com allem vigor
Nenhume parte dts obra pode ter rpruducide
por qualer process, inlaids foci serechpia
(n gnap. tm toric priiee tite do dtr
Impress ¢ acabameato: Publinpresores~ Aves Gifs Lda.
ISBN 972-562-3274
Depésic Legal a. 85 023/94
{NDICE
Introdugio: Sobre o interesse humano do estudo dos dialectos e falares regionais
7
1, Bnquétes au Portugal pour Atlas Linguistique de la Péninsule Tbérique 17
2. Os inguétitos realizados em Portugal para o Atlas Linguistico da Peninsula
Toérica ¢ 0 seu interesse para a dialectologia brasileira 21
3, Os ditongos decrescentes ou ¢ ei: esquema de um estudo siner6nico e diacr6-
nico 35
4, Areas lessais no tnitico portyguts 33
5. Une frontigre lexicale et phonétique dans le domaine lnguistique portugal
95
6. «Griséu», um mogarabismo algarvio 7
7._Nova propesta de clasiticagio dos dialectosgalego-portugueses 7
‘Apéndice: ORLANDO RIBEIRO: «A propésto de eas lexical no tenitGro pomtugués
(Algoma: reflexbes acerca do seu condicionamento)» 165
“Transerigao fonética 2
Abreviaturas bibliogréficas 203
indice de autores 205
Inuice de patavras 209
INTRODUCGAO
Sobre 0 interesse humano
do estudo dos dialectos
e falares regionais
De: Tivcla Redonda, n.° 19, Novembro de 1962
Parece mais préprio do linguista falar do interesse cientifico do estudo
dos falares regionais. No entanto, é do seu interesse humano que, como
tantas vezes o tenko feito verbalmente, desejaria hoje tratar por escrito.
No duro ¢ doloroso tempo que vivemos, quando, perante uma téo pre-
‘mente necessidade de acgd0, chego a pér em causa, para mim préprio,
0 direito aguela tranguila investigagdo sobre as palavras, que é em prin-
elpio a vida do filélogo, penso frequentemente na minha experiéncia
dialectoligica e encontro nela motives para prosseguir—e animar
outros a prosseguir. Recordo paisagens e, enquadrados nelas, homens ¢
mulheres. Diversos como os cendirias em que se situavam, contavam-me
histbrias, diversas tambéin. Ao fim de dois ou trés dias sentiamo-nos
or vezes verdadeiros amigos, quase irmaos. Eu no tinha podido dar-
thes sendo wm pouco de atengao, de simpatia. Eles tinkam-me dado uma
Tigo magnifica, decisiva para o meu modo de sentir e de pensar a partir
daguele momento, Atrés dos falares que tinha vindo estudar, era toda
uma fumanidade huumilde mas digna, vivendo intensamente os sentimentos
simples, lutando corajasamente pela sobrevivéncia, com que a dialecto-
logia me tinha posto em contacto. Se mais nada, no vasto terreno da
lingulstica, conservasse ton dia interesse para mim, creio que esta expe-
riéncia seria 36 por si suficiente para me obrigar a reconkecer e afirmar
que vale a pena 0 ramo de estudos para que a vida me conduzin:
Bem sei que a dialectologia nem é a inica cléncia que leva ao contacto
com os homens do campo, nem & 0 iinico meio de estabelecer esse con-
acto, Mas basla-me que seja um desses miios. E — atrever-me-ci a
10 Luis F. LINDLEY CINTRA
‘acrescentar — juntamente com a etnografia (alids, praticamente indis-
socidvel da dialectologia moderna, tal como a concebo), um dos meios
‘mais préprios para levar a um conkecimento intime do camponés, a un
descobrimento da sua. verdadeita personalidade. Através das palavras
‘que emprega, através das conversas que esas palavras sugerem € pro-
vocam, 0 homem que temos na nosta frente vaisse-nos pouco @ pouco
desvendando. O questiondrio que utilizamos, organizado por campos de
significado, serve-nos de guia na exploragdo empreendida. Cada pergunta
‘serve de ponto de partida a wna nova excursio pelo mundo do inguirido.
E que melhores caminhos se poderiam desejar do que os abertos pelas
palavras, pelos signos que representom os objectos que ele conhece as
nogdes que vivem no seu espirito?
0 processo seguido na investigacéo pelo dialectologo moderno & fécit
de descrever e creio que convém fazé-to para quem o néo conheca. Quer
‘se trate de elaborar uma monografic sobre um falar local, quer se trate
de recolher materials para um Atlas Lingulstico (grande instramento
da linguistica moderna em que, pare ox nomes de cada objecto ou para
‘as expressbes correspondentes a un mesmo concelto, num territ6rio
‘mais ou menos vasto, hd um mapa que regista no préprio lugar 0 nome
ou a expressio local), 0 investigadar dirige-se @ localidade a estudar &
procura instalar-se nela por um periodo de tempo relativamente longo,
‘$e prepara uma monografia, bastante curto (entre trés e sete dias) se
esté a recolher elementos para um Atlas em que o grande nimero de
lugares a visitar obriga a uma permanéneia breve em cada um deles.
‘Num caso como no outro, deve levar preparado wn questionario que se
destina a recolher 0 vocabuldrio central, fundamental, de qualquer habi-
tante da povoagéo, ¢ também, como as respostas serdo transcritas em
sinais fonéticos, a registar a sua promiincia, O preenchimento de um
caderno contendo as respostas ao questionério ea recolha de elenientos sobre
13 préprias «coisas» cujo nome nele fica apontado, sobre a cultura material
« espiritual da localidade, é 0 objectivo total do eolaborador de um Atlas;
é a base de estudo do autor de uma monografia, que terdé naturalmente de
ESTUDOS DE DIALECTOLOGIA PORTUGUESA u
aprofundar para além desse ponto 0 seu conhecimento das condicdes
Tocais.
Para responder ao questiondrio, terd 0 dialectélogo de procurar alguém
gue represente com fidelidade o tipo de falar caracteristico da locali-
dade —em geral wn komem ou uma mulher de meia-idade, naseidos no
lugar e ali residentes sempre ou quase sempre, analfabetos (de modo a
néo haver 0 perigo de estarem influenciados pela linguagem escrita)
Do acerto na escolha deste informador depende muitas vezes 0 éxito
de todo o trabalho.
A minha propria experiéncia & a de-um investigador de Atlas lingutstico,
Em 1953 ¢ em 1954, percorri todas as provincias portuguesas, permane-
cendo cerca de trés dias em cada uma das setenta e poucas aldeias visi-
tadas. Viajava —na compankia de um colega— de combolo ou de
‘camioneta de carreira, Quando era preciso, também a pé.
Voltei, desde entdo, esporadicamente, por diversas vezes, ao contacto
com os falares e com os falantes de vérias regides. Mas so algumas
recordagaes das exeursdes mais prolongadas de 1953-1954 que um powco
desalinhavadamente desejo reunir aqui.
A chegada as aldeias ¢ a procura de informadores: ja apontei atrés
esta iltima como uma das principais condigoes de éxito do trabalho.
Tem a vantagem de, logo de inicio, nos ir revelando aspectos da vida local
ou do tensperamento mais comum no homem da regio.
Dava gosto, por exemplo, procurar informadores na maior parte das
aldeias de Trés-os-Montes. Com 0 regedor, a quem normalmente come-
edvamos por dirigir-nos, percorriamos algumas casas. Todas as portas
se abriam. Todos nos recebiam bem e se ofereciam para nos ajudar, néo
hesitando em sacrificar umas horas ou uns dias para nos dar a conhecer
a sua fala © os seus costumes, de que se orgulham e que sabem diversos
12 Luis ¥, LINDLEY CINTRA
dos das outras regides. Sé nos restava escolher 0 informador
—e explicar as razdes da escolha, para ndo.ofender os nao escolhidos
Em compensacdo, que dificuldades no litoral —sobretudo no Minko!
Os possiveis informadores, todos eles pequenos proprietérias (como,
alids, 05 de Tras-os-Montes), residentes em casas afastadas umas das
outras, de que nos lamas sucessivemente aproximando, esquivavam-se
alegando motives variados. Ao contrério dos transmontanos, dificilmente
compreandiam 0 nosso interesse pelos seus costumes e pela sua linguagem,
Era no Veriio. Dominava-os a preveupagito de regar o mithio a horas
certas. Quen: os poderia substituir?
No Alentejo, era fiicil escother os homens que iriam responder ao
‘nosso questiondrio, Mas por motivos diversos dos de Trés-os-Montes
Aqui ndo preciséramos de procurar os informadores nas suas préprias
casas. Ndo esquecerei munca as prazas centrais de certas vilas alentefa-
nas os jornaleiros aos magotes, esperando por alguém que os viesse
contratar. Nao esquecerei também certos funcionarios de cémaras muni-
cipais a quem eu me tinka dirigido na esperanga de que me ajudassem:
46 Fl Vat alt & praca buscar um desses que para Ié estdo, um desses
mais brutos, que nunca satram de eé, que nunca viram nadal» E, dat
@ pouco, para 0 préprio jornaleiro, jé vindo a nossa presenca: «Deixa
ver os dentes!» (Tratava-se de vericar se tinha algun defeito na den-
{igo que prejudicasse a pronincia, precaucdo que éramos sempre obri-
gados a tomar.) «Tu serves! Amanké estés a tal hora na pensdo onde
estdo estes senhores! E ouve ld? Lembras-te de algum outro assim, bruto
como tu, € que também tenha boa dentadura?n Dois dias depois, no
entanto, 0 mesmo jornaleiro facia questo de estar na paragem, & parttda
da camioneta que nos levava e havia certa comogéo na nossa despedida.
Tinha sido tratado como homem, como o komem digno, nobre na sua
capacidade de sofrer um destino injusto, que um inguérito lingwistico
tinka bastado para nos revelar
Em muitas localidades, 0 nosso acesso junto dos habitantes era difi-
cultado por diversas circunstancias. A mais frequente era, naturalmente,
ESTUDOS DE DIALECTOLOGIA PORTUGUESA B
0 sermos tomados por fiscais que vinham verificar se todos pagavam os
devidos impostos. Recordo wma pobre mulher minkota que chorava amar-
gamente quando Ihe batemos & porta e perguntdmos pelo marido, nesse
momento ausente de casa... (Oxalé munca Ihe tenham batido @ porta
os verdadeiros fiscais!) Mas, por vezes, as suspeitas que recalam sobre
nds eram mais singulares: em certa aldeia estremenka tivemos uma
extraordindria dificuldade inicial em entrar em comunicagdo franca com
(05 habitantes. Acabdmos por saber 0 motivo: tinhamas sido tomados por
certa espécie de espides que, ao que parece, costiumavam enviar & sua
frente os ladries de burros!
A procura de alojamento ¢ a estadia no quarto que nos cedia o taber-
neiro, ou na casa ristica onde havia um quarto livre (na maioria das
aldeias que visitémos ndo havia nada de semelhante a wma casa de hés-
pedes ou a uma pensfo), eram outro meio valiostssino de conkecimento
Tocal.
Recordarei sempre certos serdes de Rebordaes, no distrito de Braganca,
em que junto da lareira, sentado no escano, ouvia e apontava pela noite
adiante, romances tradicionais, «cantigas de segada», que varios homens,
reyesando-se, ndo se cansavam de me cantar ou recitar. Ow a estadia em
‘Alte, no Algarve, mona casa de telhado de canico; ou em Salamonde,
no Minko, numa casa de telha va e paredes de pedra solta, enegrecidas
pelo fumo da lareira; ou em Monsanto, ou em Oleiros.
‘Sé-uma vez me faltou a coragem. O taberneiro da aldela transmontana
estava disposto a ceder-nos o tinico quarto de que dispunha—o seu
préprio quarto. Ao vé-lo, recwel, E acabou por encontrar-se outra sol
0, a casa do presidente da Junta de Freguesia local. Hoje, quase me
arrependo. Era ali que aquele homem viv.
Que maravithosas hhistérias nos contavam os informadores — ou os
seus amigos e familiares — nos intervalos do trabalho!
14 Luls F. LINDLEY crvTRA
Lembro-me neste momento da de um beirdo que tinka emigrado clan-
destinamente e conhecido, da América do Sul... 0 cais de Montevideu.
Convencido e conduzido por alguér, ele que até entiio, como tantos
tantos dos meus interlocutores e esses durante toda a vida, nem sabia 0
que era 0 mar —conseguira entrar as ocultas mum navio que se dirigia
4@ Argentina. Oculto se tinka mantido, até que, nem ele sabia explicar
porgué, 0 tinkam levado a desembarcar precipitadamente e 0 tinham
abandonado em Montevideu. «E eu ali fiquei, sozinho. E aquilo era to
grande! Sentel-me no cais € pus-me a chorar. S6 queria vir-me embora,
sé queria voltar.» Teve sorte. Viram-no, condoeram-se dele e consegut-
ram reembared-lo pouco depois pare Portugal. Da América, pouco mais
vira do que aquele grande cais.
De uma aldeia algarvia, préxima da raia, é outro tipo de recordagio
@ que conservo.
Na noite escura, do terrago da teberna em que pernoitei, situada no
alto, por cima da povoaséo, oigo cantar hinos religiosos. Ouve-se pri-
‘meiro uma vor de homen; cada frase, cada versiculo, & depois repetido
por um coro de criangas. Impressionado, escuto bastante tempo. Nada
mais quebra o siléncio da noite. Um grupo de homens, préximo de mini,
cala-se respeitosamente.
Pouco depois venho a saber que o cantor é um pastor protestante.
Desce de Mértola, pelo vale do Guidiana, de mochila as costas, e vat
de monte em monte falar de Deus ¢ ensinar céinticos aos homens ¢ as
criangas, Dorme onde & posstvel. Naquela mesma noite ficard no chilo
da sata de jantar em casa do dono da taberna,
E preciso dizer que a aldeia fica longe da sede da freguesia; a igreja
local tem o telhado arruinado ; 0 prior s6 rarissimas vezes ali vai de visita.
© taberneiro pergunta-mie que diferengas hd entre catélicos e protes-
antes: ndo consegue compreendé-las e gosta de ouvir falar 0 pastor.
Procuro no thas revelar. E, interiormente, pego a Deus que recompense
ESTUDOS DB DIALECTOLOGIA PORTUGUESA 15
© pastor. E que abra os olhos aos padres da minka igreja, que os faca
ver este exemplo, Neste aspecto haveria tanto a dizer... Por exemplo,
sobre 0 que observet logo na igreja da aldeia seguinte
‘Mas néo é possivel continuar indefinidamente a apresentar agui obser
vagdes ou recordagdes. Como amostra simples e superficial do que, para
além da recolha de factos linguisticos, significa uma investigagéa dialectal
no campo um pouco prolongada, creio que serd suficiente esta breve
‘série de apontamentas. Suficiente para pér em evidéncia 0 interesse humano
do estudo dos dialectos e falares. Suficiente também para explicar a pro-
funda e decisiva influéncia que ele pode asswnir na atitude ¢ na orienta-
io geral de wm linguista que alguma ver a ele se dedicou.
4962)
Areas lexicais
no territdrio portugués
De: Boletim de Filtogia (Lisboa), xx, 1962, pp. 273-307.
Introdugio
presente trabalho! procura ser "ma contribuigo para o estudo
da ainda tlo imperfeitamente conhe -ida estrutura lexical do tertitério
portugués. Basela-se em alguns resultados dos inquéritos que em 1953
e em 1954 realizei na companhia de Anibal Otero Alvarez, para a
parte portuguesa do Avlas Linguistica da Peninsula Ibérica
Nao deixarei de recordar, logo de inicio, que o primeiro passo na
definigdo da referida estrutura foi dado, niio h& muitos anos, por
José G. Herculano de Carvalho no livro Coisas e Palavras, publicado
em Coimbra em 19533. Partindo da anilise ¢ interpretagdo de uma
4. Redigido em 1958 e apresentado, na sua forma iniial, como comunicasso
20 I Coagresso Brasileiro de Dialectolopia e Finografa reunido, em Setembro
esse eno, na Universidade do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Bras
2 Sobre esses inqueritos, v0 Vol. 1 do Alas, com a respective introdugio, Madrid
1962, a noticia Enguétes au Portugal pour Atlas Linguistigne de la Péninsule Ibér-
‘que, que publiquei na revista Orbis, 1m, 1954, np. 417-418, © 0 artigo Alguns
‘esnudos de fondtica com base no Atlas Linguistica da Peninsula Thériea, em Anais do
Prineiva Congresso Brasileiro de Lingua Falada no Teatro (Universidade éa Babin,
1956), Rio de Janeiro 1958, pp. 186-95. [Neste volume, estudot 1 ¢ 2)
3 Coisas e Polavras. Algune problemas etnogrificos © lingwistices relacionados
com os prinitivos sistemas de debulla na Peninsula Tbivica, Coimbra 1953 (separata
de Biblos, vol. 3x00.
58 LUIS F, LINDLEY CINTRA
série de mapas em que registou a distribuigdo geografica dos virios
tipos lexicais com que se designam o antigo instrumento de debulbe
mais frequentemente denominado mrangual ¢ as suas diversas partes,
tentou, no iltimo capitulo, uma visio de conjunto que intitulou «Estru-
tura linguistica do territério portugués» ¢ que consiste na bem sucedida
indicagdo de algumas «reas ¢ centros de difusio lexieab»s
(Os mapas de Herculano de Carvalho baseiam-se em materiais excep
ionalmente ricos (do Inguérito Lingulstico por correspondéncia de
Paiva Boléo, de outro inquérito por correspondéncia que o préprio
autor realizou, de inquéritos directos, das recolhas feitas pelo Centro
de Estudos de Etnologia Peninsular). A rede de localidades considera-
das & muito densa c este facto permitehe a fixagio minuciosa e rigo-
rosa de determinadas fronteiras. A essa minticia ¢ a esse rigor deve
1 possibilidade de fazer confrontos de limites linguisticos com frontel-
as histOrieas, por vezes do maior interesse (como, por exemplo, no
caso em que a delimitagio exacta da zona relativamente pequena em
que se emprega a designagio maltal Ike permite verificar a sua quase
completa coincidéncia com os limites dos «outos de Alcobaya» ¢ do
termo de Obidos)*.
‘Os mapas que vou apresentar e comentar sio de tipo muito diverso.
‘A rede de localidades exploradas em Portugal para o ALPI é pouco
densa ¢ aparece nestas cartas ainda dimimuida pelo facto de eu s6 ter
tido nelas em conta aqueles 77 pontos do territério portugués (de um
total de 95), em que of inquéritos foram feitos nas excursdes em que
eu proprio tomei parte, Uma rede desta natureza s6 permite uma
Jocalizagio © delimitagio aproximadas das Greas dos virios tipos
Iexicais. E, no caso de «sentidos» ou «signifieados> representados por
tum grande nimero de tipos vocabulares, no ¢ impossivel que deixe
cescapar entre as suas malhas um ou mais de entre eles ou que deixe
de assinalar uma area pouco extensa de determinada designagio.
E preciso no entanto notar que estes iltimos inconvenientes $6 se tor-
nam verdadeiramente graves em certo género de mapas que procurei
4 capa as pp. 297-313 do volume citado.
SP, 308 e fig. 6.
ESTUDOS DE DIALECTOLOGIA PORTUGUESA 59
evitar entre aqueles que aqui darei 2 conhecers. Creio que, em mui-
tos outros casos, apesar do seu esquematismo, as cartas baseadas nos
materiais do ALPI dio uma ideia geral bastante cxacta do némero
¢ distcibuiglo dos tipos lexicais, suficiente para alguns fins —como
por exemplo aquele que aqui tenlio em vista’,
No principio do capitulo a que atris me referi, distingue Herculano
de Carvalho com muito acerto entre «sentidos» (objectos ou conceitos)
igualmente familiares a todos os membros da comunidade linguistica,
ppara a expresso dos quais a lingua comum e literéria dispde de uma
ou mais palavras que podem opor-se a designacées regionais, com
baté-las ¢, em condigdes favordveis, substitul-las, ¢ «sentidesy, na
expressio dos quais (em pontos em que foi esta a resposta & pergunta indirecta e
em que, perante a pergunta directa, o informador reagiu afirmando
que no se empregavam outras expressdes).
‘Uma observacdo répida da distribuicio geogrifica dos diversos tipos
indieados na carta revela-nos que 0 termo tradicional —o descen-
dente do latino MULGERE, $6 conservado na Peninsula Ibérica (ora
sob a forma de representantes de mUtcRE, ora de EMULGERE) numa
numa zona periférica (catalio, alguns dialectos aragoneses e castelha~
45 Diccionario Crltico Etimoligica de ta Lengua Castellana, 1, Madrid (1956),
P. 568,
64 Luis ®, LINDLEY CINTRA
nos da montanha de Santander, asturiano, galego}!6—é hoje em
Portugal (onde as duas variantes munger ¢ mungir jd se dooumentam
num texto do séeulo xv, 0 Diciondrio de verbos alcobacense)!7 uma
expresso propria do noroeste e de uma zona do oeste que nfo ultra~
passa em direccfio ao sul a regio de Setibal. Moger ou monger empre-
ge-se no Minho, na parte ocidental de Trés-os-Montes, no Douro
Litoral, na parte ocidental da Beira Alta, na, maior parte da Beira
Litoral, da Estremadura e do Ribatejo. Mugir ou mungir encontra-se,
regra geral, na periferia de moger ou monger. $6 na Beira Litoral,
ao norte de Coimbra, ¢ no norte do distrito de Leiria vernos esta variante
(@ iinica que entrow na lingua literéria) penetrar no interior da zona de
moger.
Por todo 0 resto de Portugal —isto é, por todo 0 Algarve, todo 0
Alentejo, toda a Beira Baixa, a maior parte da Beira Alta (abrangendo
todo o distrito da Guarda) ¢ o oriente de Trés-os-Montes — se esten-
eu a inovagio ordenhar, que hoje também domina toda a parte central
castelhana, Ieonese aragonesa da Peninsula, Da vitalidade anterior
do ropresentante de MULGERE nesta zona nos vai dar, no entanto,
uma boa prova o mapa 2
A palavra ordenhar penetrou certamente em Portugal através da
fronteira politica ¢ nenhuma relaedo deve ter com o antigo portugues
ordihar. Admitida na lingua literéria, pelo menos a partir do século xvi
—em que a empregam Diogo Bemnardes, Arrais, Fr. Pantaleo de
Aveirol#— convive hoje nela com 0 vocibulo tradicional e parece
ter sido, dos dois vocdbulos, 0 tinico transmitido ao brasileiro comum
¢ literario,
16. Y, antiga eumucir do DCELC de Conowmsas e-mnugere, emugere do DEH
de Gancia pe Dizao,
17" Bxemplos erronesmente incluldos por José P, Mactiapo, no sea Dicionéito
Eximotégieo da Lingua Portuguesa, 8. v. mugir “berras', de origem onomatopeica,
(Os correspondents latinos no Diciondric de Verbas Alcobacense sfo, no entanto, para
‘margir, emwango, ¢, para nmger, mulgeo (muleeo), © que nfo deixa margem
1 qualquer espécie de duvidas (V. Hexay H, CARTER, A Fourteenth Century-Old
Portuguese Verb Dictionary era Romance Philology, Vi, 1952-1953, pp. 82 (a.* 1050)
© 88 (a.* 1746) € cf. p. 102).
18 V. 0 dicionario de Monats ¢ 0 DELP de José Pepro MACttAno,
ESTUDOS DE
ECTOLOGIA PORTUGUESA 65
Mapa 2
© mapa 2, de aspecto extremamente simples, permite observar as
Greas das designagées que o portugués popular actual emprega para
‘bere’ da vaca. A pergunta, sempre formulada do mesmo modo
(ucomo se chama aquele saco onde as vacas tém 0 leite%), obtive ora
a resposta sibere (Sempre com a vogal posténica perdida, isto é, ubre,
ubri, ubro), ora a resposta amojo, com as suas variantes amonjo, majo,
-monjo (ou ainda amoje, moje, amoijo, moijo, etc.). Em trés localidades,
© informador pronunciou as duas palavras, fixando-se em geral, depois,
numa delas, como sendo a de emprego mais corrente.
Ubre ou tibere provém de uaER, designago latina da ‘eta’ que,
como informa o artigo respective do Dicionério de Corominas!®, j
em Horécio aparece especializado no sentido de ‘teta dos animais’ por
oposi¢do a MAMMA ‘teta de mulher’, Sé hé a registar a ligeira alteracdo
de sentido que vai de ‘cada uma das tetas de um animal’ a ‘conjunto
das tetas de um mamifero’. Apenas o castelhaino, o portugués e alguns
ialectos italianos setentrionais, réticos e franceses de leste mantiveram
esta designacéo. Em castelhano, a palavra — que era neutra em
€ feminina, em galego-portugués € geralmente masculina. Em Lagoaca,
na fronteira de Tris-os-Montes com « provincia espanhola de Zamora,
registei no entanto o seu emprego como feminina, O mapa dé uma
ideia clara da zona a que se restringe hoje em Portugal o emprego de
tibere: Minho, ocidente de Tris-os-Montes, Douro Litoral, o extremo
norte da Beira Litoral e uma pequene regido da Beira Alta. Fora desta
zona, tibere reaparece isoladamente, conforme ja disse, em Lagoa,
no oriente de Tras-os-Montes, talver como resultado dos frequentes
contactos com a Espanha através da fronteira politica: assim 0 faz
supor 0 género feminino excepcional a que me referi. Aparece isola-
damente também na Estremadura (Mafra ¢ Cartaxo) ¢ na Beira Baixa
(Monsanto), geralmente convivendo com (a)mojo, (a)monjo
Esta Ultima palavra ¢ evidentemente, como indicou Joseph M. Piel
‘num trabalho jé atrés citado20, um deverbal de (a)moger, (a)monger
19 DOELO, w, p. 62.
20 Misceldnea de eximologia portuguesa e gatega (orimeira série), p. 218,
EDP-5
6
ome
Lufs F. LINDLEY CINTRA
BSTUDOS DE DIALECTOLOGIA PORTUGUESA 67
ou de (a)mugir, (aJmungir, Apresenta a mesma oscilacio que o verbo
quanto & nasalidade ou oralidade da vogal 9 € quanto & presenga ou
auséncia do a inicial. A sua Area de emprego & hoje muito mais vasta
que a fea de tibere. Inclui todo o Algarve, todo 0 Alentejo, a maior
parte da Estremadura ¢ da Beira Litoral, o Ribatejo, a Beira Baixa, a
maior parte da Beira Alta ¢ o oriente de Trés-os-Montes. Esta grande
‘expansio permite-nos reconstituir a érea antiga, muito maior do que
‘a actual, do verbo que deu origem a este substantivo. Amojo, perante
iibere, aperece-nos como uma inovagdo que foi bem aceite, decerto
porque se tratava de uma designago relativamente motivada (para
empregar a terminologia saussuriana), integrada numa familia de
palavras conhecida, designacdo que se vinha opor a uma palavra ante-
ior, isolada dentro do sistema linguistico —a um signo puramente
arbitrério. Esta inovacio parece irradiar do sul ¢ do leste de Portugal.
Na literatura, s6 penetrou até agora na linguagem de certos autores
de forte cunho regionalista, como, por exemplo, Aquilino Ribeiro?!
Tere ou ubre permanece como tinica denominagio literdria geral-
mente conhecida. I também tbere, ubre, segundo creio, a tinica designa-
#0 que faz parte da linguagem comum e lveraria do Brasil22,
21 No Dicionério de Ckxpro0 pe Froumspo, 10.* ed, citase a frase «Por
entre a5 coxas 0 amojo arredondavan, de Terras do Demo, p. 128, em que o sentido
no 6, evidentemente, como supde 0 lexicdgrafo, “intumescimento produzido pelo
Ieite nos peites das mulheres nas tetas dos animais', mas sim, muito simplesmente,
‘bere’, A 10. edigéo do Diciondrio de Morass também dé sbonagces colhidas
em obras de Aquino Rinsino: «as ovelhas zorreiras, oferecendo as crias um amojo
xelarton, Volfemio, p. 304, ¢ aluzidia, encorpada, com um amojo de turinay, Terras
do Demo, p.1, 101 O sentido é novameate, em ambos os exemplo, ‘bere’ e nfo ‘intu-
mescencia das tetas retesadas e cheias de lite; apojadura que causa 0 enchimento
os vasos do leite nas tetas" (rata-se, como em CANDIDO DE FIGUEIREDO, de uma
slosa da defincio provavelmente exacta para a sua época, dada por BLUTEAU),
ou ‘grande desenvolvimento dos seios*(), como seléna refundigio de Morass, antes
o stimo passo citado.
22 Do facto de 0 Pequeno Dicionirio Brasileiro da Lingua Portuguesa incluit a
palavra anojo, repetindo a defnicio de BLUTEAU e dos dcionaristas portugueses, io
cereio que se possa conclu que a palavra vive realmente no portugués do Brasil
68 Luis LINDLEY CINTRA
Mapa 3
© mapa 3 dé a conhecer 0 limite aproximado entre as Afeas de expan-
so dos dois nomes por que € designada nos falares portugueses a
parte aquosa que se separa do leite, quando este se coagula ou quando
se forma 0 queijo’ (C. de Figueiredo). Sio eles: soro & almece (com
as variantes almice ¢ almécere, aimicere)?3, Como ¢ sabido, trata-se
dos representantes dos nomes latino ¢ arabe da referida substncia?¢.
[A designago érabe nfo vive apenas no Alentejo e nos Acores, como
indica C. de Figueiredo?’, mas em toda a parte do territério portu-
gués situada’ao sul do Tejo; penetra além disso na Estremadura ¢,
através da parte do Ribatejo situada na margem direita do rio, atinge
certas zonas da Beira Baixa e da Beira Litoral. No norte ¢ na maior
parte do centro do pafs, emprega-se 0 termo de origem latina. (A regio
fem que nenhuma designao aparece assinalada no mapa corresponde
‘a.uma zona em que, talvez por nels niio ser corrente o fabrico de quel.
1 substincia em questio € mal conhecida ¢ néo tom nome —~ pelo
‘menos nome que ccudisse com relativa facilidade & meméria dos meus
informadores.)
© arabismo almece, almice distingue-se pela particularidade euriosa
{de s6 se ter mantido — ao que parece — em falares portugueses. Embora
{i registado por Bento Pereira em 163876, néo se vulgarizou na lingua
23 Pareceurme conveniente, no mapa, distinguir por meio de ums convengio
especial, as variantes com eutixa étono almécere, alnicere (no registadas nos dicio-
nnérios) das formas simples almece ¢ clmice.
24 YA. Sreiaen, Contibucién a la fonéica del hispanc-drabe y de los arabismos
en ef iberoroménico 9 el scliano, Macrid 1992, p. 368, M. 1. Waarsn, Alguns
farabismos do portugués em Biblos, x, 934, pp. 427-453, e J. P. Macuano, Comen-
ris alguns arabismos do Dicionirio de Nascontes no BaF, vi, 1940, p. 272,
© DELP, 5. v.
24D, A. Tavanes DA SiLvA, Esbozo don vocabulério agricola regional, Lisboa
1944, p. 43, regste apenas a variante aimeice como alentsjana,
26) Thesoura da Lingoa Portuguesa, Visboa 1647 (liceagas de 1638), fol. 9: valmece
do queio, Casei compressi defuuiumm>, V. DELP, s. v. A variante almice fl j6 rego-
‘ada pela primeira vez por BLUTEAU.
ESTUDOS
DB DIALECTOLOGIA PORTUGUESA
Ose
@ ims
MAPA 3
o
70 UIs F, LINDLEY CINTRA
comum ¢ literéria de Portugal, que continua 2 empregar normalmente
soro. Também & este nome de origem latina, segundo creio, o ‘nico
corrente na lingua comum e literdria do Brasil27.
Mapa 4
No mapa 4 observase a distribuigo dos adjectives com que se
designa a fémea (vaca, ovelha, cabra, etc.) ‘estéril’. Sdo apenas dois
1 tipos lexicais com grande expansio e serdo eles os tinicos que aqui
terei em conta: maninha e mackorra. (Quanto aos outros, limito-me a
indicar que alguns consistem na utilizacdo, neste scutide, do adjective
que, mais correntemente, qualifica 0 animal que nao deu cria em
determinado ano ~—é 0 caso de forra ou de alfeira.)
‘Da origem das dus palavras de que vou tratar ocupou-se Joseph
M, Piel em 1950 na Revista de Fortugal, séric A, Lingua Portuguesa,
‘para refutar etimologias absurdas propostas pouco antes por H. Jan-
ner?8, Esta nota foi republicada em 1953 no volume Miscellinea de
Etimologia Portuguesa € Galega*®. Mais recentemente, referiu-se &
ctimologia dos dois voedbulos J, Co:sminas3®. Como ambos estes
autores nos dizem, maninka remonta — assim o tinham afirmado tam-
bém G. Roblfs e Meyer-Libke— a uma palavra de substrato,
“MANUS que significava ‘estéri’ e também ‘macho’ no sentido de
‘mulus’. Dessa antiga palavra —aperentada com a basea mando, mana,
¢ também, como indica Corominas (citando Walde-Hioffmann), com
latina mannus, de provavel origem iliria, e com o tipo * MANDTUS, repre-
sentado em albanés, alem&o do Tirol, romeno, italiano ¢ engadino—
também provém o cast. mafiero, O substrato a que pertence, mais do
ue ibérico, como Ihe chama Piel, talvez so deva classificar, em vista
27 0 Pequeno Dicionério Brasileiro da Lingua Portuguesa nem. sequer acolhe
almese as sua variante.
28 Na revista Flologia (Buenos Aires, 1 pp. 151-164.
29 Nas pp. 205-207.
39 DCELC, s. vx. macho, 1, pp. 175-116, e matero, ibid, pp. 251-252. V.,
também, sobre marino, Senavia DA Suva Nevo, Histria da Lingua Portuguesa,
[Rio de Janeiro 1952 (1957), pp. 283-28.
BSTUDOS DE DIALECTOLOGIA PORTUGUESA
MAPA 4
1
n Luis F. LINDLEY CINTRA
da zona em que o termo deixcu descendentes, de mediterrneo (ou
Igure?), como o faz Corominas. Quanto & formagdo de um derivado
com o sufixo ina, -inw (* MANNINA) parece exclusiva do latim his-
inico ocidental
Machorra, palavra evidentemente detivada de macho, do latim Mas-
CULUS (Como machia, sinénimo que recolhi num ‘inico ponto), apre-
senta também, curiosamente, na sua constituicéo, um elemento pre-
romano, 0 suf. depreciativo -orra, -orro, pouco frequente em portu-
gués31.
Creio que o mapa nos faz ver com bastante clareza que esta tiltima
designacdo ¢ a mais recente ¢ que deve ter ponctrado em Portugal
através da'fronteira politica de leste e nordeste, proveniente de um
foco de expanstio que deve estar no centro da Peninsula32. Maninha
conserva-se como designagdo propria de todo 0 centro e ocidente de
Portugal, incluindo 0 ocidente co Alentejo e do Algarve —além do
Ribatejo, da Estremadura, da maior parte das Beiras ¢ do Douro
Litoral. Mantém-se ainda em algum ponto do Minho € do leste de
‘Trés-os-Montes, donde esti no entanto a ser desalojada, como do
Alentejo, pela designagao concorrente.
Certas formas que recolhi no Algarve parecem merecer atengio
especial. Sao elas: malina em Sagres, Alte e Fuseta, manina em Marme-
ete (Monchique); esta éltima ouvisa também em Santana (Sesimbra).
Caracterizam-se pela conservagao do -n- intervocilico do sufixo sem
a nasalaydo da vogel i, perda de consoante © subsequente diferencia-
gio do F nasal em -inh-, normais sm portugués. Penso que estas Formas
se devem explicar através da manutengo, neste vocdbulo da lingua-
gem corrente, de uma das caracteristicas fundamentais que opunham
0 falar dos mogérabes do Centro e Sul de Portugal a0 dos reconquis-
31 Y, Joseri HD. ALLEN Jk, Portuguese Word Formation with Sufes, Phi
ladelphia 1941, § 25, p. 26. Como ai se'8, a origem prelatina do sufixo foi sugerida
or Mevee-LOpke e admitida por HANSSEN, REINHARDSTOETTNER e J. J. NUNTS.
22 Mackorra, no sentido de csterila, masculan, aparece j& no Diciondrio de
Nebrila em 1495 ¢ estd incluide no Diccionario da Real Academia Expaiola, sem
‘qualquer restrigio quanto A rea de emprego. Gacela de Diego, no seu DEEH, dé
© termo como eastelhano, na sua forma feminina, restringindo 0 masculino machorro,
‘no sentido de ‘estril’, 20 salmantino.
ESTUDOS DF DIALECTOLOGIA PORTUGUESA B
tadores provenientes do Norte, Tem sido varias vezes observada a
persisténcia dessa caracieristica na toponfmia do Sul e Centro do pais.
Leite de Vasconcelos}? © Menéndez Pidal3* citaram os casos de
Odiana, Fontanas, Madroneira (Beja), Molino (Evora), Fontanelas
Ginira)38. Mas ereio que ndo foi apontada até agora —a nio ser de
Passagem por Serafim da Silva Neto35%i— a conservagao do -n-
23 Primeiro ne RLu, x1, 1908, p. 384, no breve artiga Romango mozerdbice,
mais tarde © numa forma mais completa nas Lipdes de Fiologie Portuguesa, public
ceadas pela primeira vez em 1911. V. na 2. ed. ¢ dima revista pelo autor, datada
e Lisbos 1926, as pp, 293 ¢ 328. Cr. também a alusio a «o gue de tal romango
Imogérabe} possa estar hoje representado no onoméstico da Estremedure, Alen.
{cio ¢ Algarve, ena linguagem corrente dos povos das mesmas provinciasy (p. 17)
Que me conste, nunca Lerre DE Vascoxcutos chegou a apresentar exemplos colhi-
dos na linguagem corrente do Sul, mas apenas no onoméstico, Ao fazé-o eu adui,
desejo chamar a atengdo para esta frase, escrita em 1911, e prestar mais uma vez
hhomenageri a extraordinéria penetragao ¢ capacidade de previséo do grande Mestre.
(Os passos citados podem ser consultados na 3.* © mais recente edicao das Ligdes
de Filologia Portyguesa.... prefaciada © anoteda pot SERAM DA SuLVA Neto, Rio
de Janeiro 1959, pp. 268, 303 e 16-17)
234 Em Origenes del espufol, § 901: na 3. ed, p. 432. Tanta Letts De Vascon-
ceLos como Menéxpsz Pipat associa, 20s estos de conservacio de 1, citados
8 seguir, casos, mais raros, de conservagie de +l: Mérola, Molina Evora).
95 Recentemente, jé depois de redivico e apresentado este trabalho no Congresso
Brasileiso de Dialeciologia de 1958, apsrecen o artigo de José G. HERCULANO DE
CARVALHO, Mogarabiomo linguistco ao Sul do Mondego, na Revista Portuguesa de
Histirta, vi, 1959 (publicada em 1961), pp. 277-284, em que eos exeinplos aduzidos
pelos autores jécitados, se acrescentsm dois que t&m o extraordindrio interesse de
sor nomes de lugar situados na regiéo imediatamente a0 sul do rio Moadego, por.
tanto muito mais ao norte do que todos os anteriormente apontades. Tratase de
Arenal (concelho de Condsiea) < avetLaxate e Malga (cone. de Coimbra) < ma-
{LAaGA, Hmncuzano De CaRvacHo completa, numa nota desse artigo, a lista de topé-
‘nimos derivados de rowtaNa, menciouados por Lsrre DE VascoNceLOS € M. PIDAI
Fontana (Lisboa), Fonranas (Evora e Ferreira do Alentejo), Fontanal (Sines © Sere
tiago do Cacém), Fontanais (Odemira e Portel), Fontanelas (2 vezes e nko apenes
1 no cone, ¢e Sintra) (p. 278)
Ssbis “Num passo, pouco claro, da sua Histéria da Lingua Portuguese, Rio de
“encico 1952 (1957), em aue a propésito do «contacto interso e multimode» que,
absixo do Mondego, anulou a «antinomia linguistca entre © Sul consetvador ¢
© Norte inovador», na época da Reconquista, aludin a um voedbulo da linguagem
corrente slentgjana, em que parece ter reconhecide um caso de conservagio de
14 Luis F, LINDLEY CINTRA
intervocélico em algumas palavres do Iéxico comum nos falares meri
Gionais portugueses. Além de manina, malina, citarei aquis6 donina,
{que recolhi em virios pontos do Algarve, atonina e rosmanino (Boli-
queime)37, ponente, que me recordo de ter ouvido em quase todos
fs meus inquértos algarvios, maganéra © romanéra, formas normais,
nfo 86 no Algarve como em todo 0 Baixo Alentejo, dos nomes das
drvores que no resto de Portugal tém, entre outros, 08 nomes de macieira,
romanzeira*, © manhana, hortelona, mithana, formas vivas em Mar-
rmelete (Monchique)39. A influércia da mesma camada étnica se deve
aliés atribuir, segundo me parece, a conservagio do -n- intervocélico
‘nos diminutives aleniejanos e algarvios do tipo manita, macanita,
granite, franganito, etc.§®,
nero. © paso &o sean: «Quo Bk disratesveates se
{orn fo era, tls igi ogi, aera e 0 pene,
es trrk, ceramante,abundante Gocmentgio, Queto, dese tree tila
tm cremplo. Tate de mondo / mado qv ocopa ua Are qu engloba Murst
{feauen cones «ord de Vila Rll, Tivos Mont), Pengo (Tess
‘Stone ¢Penedono (sito de Vis, ata Al) —e que, no Alentejo, nara
Fess com a forma misan»(P 390) As exmpestopninos dados por Lam
De Visconctuan, free nant DA SuvA Nero ina raeénca na p. 38. No
Contec opus ss cto no momento es rei pela pri vez 0 par
frafo aque serelere ea not, pelo au esa prc easio lida em Porto Alsg>
& cisbutda acs conresstas em forma poicopiads, 230 conta 0 fase aoe
Sou screen, reordand conovidnnent © unde logo bor amigo ee
mmturanene dspace,
sneer a docmentaglo mais completa que Manos veto reunindo em
ingoitos crests perorento movoerates cies, ara um extdo especie
mene sonsapado a este arto
+r" Beompls reeds e anavelnent comunicdor pel misha anign alone
Dnt Masia Autre Dots Gatto,
St Na topenimia reams, sand © Disonro Coroprfco de Forget
de Autnco Conta, manera e Romancrr t0 concelo de Grito lm de
tava qin de Romane eo AI, cu nome tales sje de aigem Teonest 0a
trina,
> Bremols ressados na disertfo delenit da nha atin luna
anu Paulina Bio Ruano, apeseniada a Faculide de Lets de Litho,
om B58,
40 E claro que o -n- no é, cm todos os diminutivos meridionais em -nito, 0
resuado da comesvario de eiaogco, Mas a terminsio =n, tom prove
STUDOS DE DIALECTOLOGIA PORTUGUESA 8
No caso especial da palavra manina, matina, de que nos ocupamos,
a permanéncia desta particularidade fonética mocérabe, tem o inte-
resse de nos provar a antiguidade da fixagio deste tipo lexical na parte
metidionat do territério portugués. Termo de orjgem prelatina incor-
porado no Iatim hispénico, jé vivia, certamente, no momento da iava-
sto muculmana, na zona ocidental em que hoje se mantém. Nem a
diviséo introduzida pela referida invasio, nem os posteriores movi-
rmentos da Reconquista, impediram a sobrevivéncia ou afectaram essen-
cialmente a distribuicio geografica deste vocabulo, de empzego, pelo
‘menos inicialmente, restrito & linguagem do criador de gado.
Mapas Se 6
No sett importante livro sobre 2 «diferenciago lexical das inguas
roménicas»4!, Gerhard Robilfs tratou, em linhas muito gerais, dos
rnomes com que nestas linguas se designam a ‘cria da ovelha’ ¢ a ‘ria
da cabra’42, Em dois dos mapas que apresenta no fim do volume,
procurou representar esquematicamente as ireas de expansio de cada
um desses nomes (mapas 34 ¢ 44).
E precisamente as designagdes das orias da ovelha e da cabra no
territério portugues que esto dedicados os meus mapas 5 ¢ 6, Per-
miter-nos eles verificar que a imagem que nos dio os esquemas de
G. Rohlfs da distribuigdo das designagdes esta excessivamente simpli-
ficada, pelo menos no que diz respeito ao extremo ocidental dz Penin-
sula [bérica.
No caso dos nomes da ‘cria da ovelha’, & divisio do territério lin-
vyelmente 0 seu foco de irradiaggo nos casos do tipo manite, de mano por mite, sra-
ilo, de grano por grdo, macanita, de mapana por mapa, maga, franganite, de fen
sano por frangdo, em que 0 era. Dai se propagou aos casos do tipo canite, de can,
‘anit, de pan, etc, 0 até a palavras de introdusgo tardia na Kagua, como pirunito,
4e pirl por peru
4 Dia lexikalische Differensierang der romanisehen Sprachen, Munique 1954
Podge, agora, consultarse também a tradugio espanhola de Mawust. ALVaR: Dife-
renclaciin lexica de las lenguas roménicas, Madrid 1960 (Publicaciones de 1a RFE,
x).
42 Pp, 48-49 e 65-09, Na tradugdo espanhola, pp. 84-85 e 110-116,
16
Luis F. LINDLEY CINTRA
ESTUDOS DE DIALECTOLOGIA PORTUGUESA 1
guistico portugués, do ponto de vista lexical, em duas zonas: a de
anko © a de cordeiro, suposta por Rohlf, corresponde, na realidade,
uma divisio em trés areas distintas: a de anho, 2 de cordeiro ea de
borrego. A rea maior & justamente a que Rohlf no considerou,
por julgar, baseando-se na definiglo do Diciondrio da Academia Espa-
hola, que borrego «designa geralmente uma certa idade do cordeiron’,
A verdade é que, na vasta zona indicada no mapa 5 € que abrange todo
© Alentejo e Algarve, o Ribatejo © parte da Estremadura, a maior
parte da Beira Baixa, alguns pontos da Beita Litoral, o leste da Beira
Alta e 0 extremo oriental de Trs-os-Montes, borrego é a resposta que
uum informador dé sem hesitagdo & mesma pergunta («como & que s€
chama a eria da ovelha?») @ que, no Minho, no Douro Literal e no
extremo ocidental de ‘Tris-os-Montes, responde: arvho, e, numa faixa
formada pelo resto de Tras-os-Montes, ocidente da Beira Alta, a maior
parte da Beira Litoral ¢ grande parte da Estremadura (com esporidi-
cas extenstes até a0 centro da Beira Alta e ocidente da Beira Baixa),
responde cordeir.
£ bem conhecida a origem destas trés designagbes. Anko & a propria
denominagae latina, AGNUS, mantida apenas em duas zonas periféricas
da Romania: a Itélia meridional (Luednia, Apilia, Calabria) e a Sar-
denha, por um lado, a Galiza e a zona indicada de Portugal, por outro
Cordeiro provém do adj. latino-vulgar “ coRDaRivs, derivado de
+ Assim o indica auma nota, p. 95. Efectivamente © Diccionario de fa Real
Academia Espaiota define Borrego, ga ‘cordero”¢ ‘cordera de uno a dos afios’. Tam-
bém © Diciondrio de C. pe FiGueiespo define borrago ‘vordelro que no tem mais
de um ano’. BLUTEAU, no século xvmE, definia-o: «Em algumas partes he cordeiro
{Ht Totmado, e de seis ou mais mezes.» Vocabulario portuguese latino, i, 1712, §. v
“Ma tradugso espanhola do livro de G. ROWLES, MANUEL ALAR anoia: «En el
sur peninsular — Portugal, Espasa — borrego es voz casi universal para designar
1 la eria de In oveia, sin distincién de edad» Baseinse evidentemente, quanto &
Expanhe, nos resultados dos seus inquéritos para o Atlas Linguisico-Emogrifico
‘da Andoluzia, que, como se ¥®, concordam perfeitamente neste aspecto com os dos
meus para 0 lar de Peninsula Tbériea (a parte da nota referente a Portugal esd j
bbuscada no mapa 5 deste estudo, que Azvan conheceu em Porto Alegre, onde tar
‘bém partcipou no 1 Congresso Brasileiro de Dialecto
44 G. Ronis, op. cit, p. 48 (aa tradugio espunhola, p. 84).
B Luis F, LINDLEY CINTRA
‘CORDUS que significa ‘tardio’. Chamavam-se «agni cordi» os cordeiros
nascidos tardiamente, em Fevereiro em vez. de Novembro-Dezembro,
particularmente apreciados, conforme diz Roblfs, como «ordeiros
pascais»; «ordi dicuntur agai qui post tempus nascuntur», explicava
Varrio43. $6 no centro de Hispania (portugués, castelhano, cataliio
ocidental) © em parte do gascio4®, este adjectivo adquiriu o sentido
do substantivo que acompanhava. © aparecimento desta inovagio
lexical foi explicedo por A. Steiger pela necessidade de encontrar solu-
go para a situagZo criada em cestelhano pela colistio homonimica de
afio< AGNUM com. afio< ANNUMST. E provivel que esteja efectiva-
mente nessa homonimia a cause da inovagio. Uma ver adopteda a
nova designasio, ela expandit-se, no entanto, em direcgo ao ocidente,
‘para além dos limites em que se tornava estritamente «necesséria»,
isto é, para além da fronteira da evolugio -NN-> -f-, conquistando
anho a maior parte do terreno que a antiga designasio ocupava e redu~
zindo a sua area de emprego ao pequeno recanto actual48, Posterior-
mente, outra inovagio terminolégica iria roubar-lhe —-em Portugal
como em Espanha — uma grande, ser’do a maior parte, do territério
45 V, Conowanas, DCELG, 1, p. 993, s. ¥. cordero.
46 Segundo Conoomwas, loc. cit. NO calabrés aparece curdascu no sentido
de ‘eordeiro tard.
47 Boletin dela Real Academia Espaiola, x, 1923, p. 177. Como lemibra M. ALVAR,
num aditameato A nota de Rows refereate a esta explicagio de A. SimoE,
‘0 ditainativo ain, por nilo haver ez relagdo a ele 0 mesmo perigo de coliske homo-
‘nimiee, pode persist em castelhano com 0 sentido principal jé dado por CovaR-
-nummas, €e ‘vellén fino del cordero de un ac’, com que aparece em muitos textos
imedievsis, © também no de ‘cordero de un afc’ (v, Estudios dedicados a Menéndez
‘Plast, Madrid 1951, pp. 102-103, e Lae Fueros de Septiveda, Segovia 1953, pp. 676
‘617, Em portugues, aninho (de ankinko, por dissimilagao) esta registado por C. Ds
Ficuamspo, como Frovincianismo alestejano, no sentido de‘ da primeira tosquia,
18 de carneiro ou de ovelha de um ano’. Neste sentido de “lS de borrege’, segundo
1 explicagio do préprio informador, ouvi, recentemente, 0 termo nos arredores
de Serpa. TAVARES DA SILVA regista-> no Alto Alentejo (Eshogo dium vocabuliio
agricola restonal, Lisboa, 1944, pe, 52).
48 A fixagio de cordeiro em tetslorio galego-portugués no sentido de ‘agnss
{muito antiga. No DELP, de Jost Piro MAcHADO, a palavra aparece documet-
tada como adj, no sée, xx, como sust. nas Znguirsdes de 1220.
ESTUDOS DE DIALECTOLOGIA PORTUGUESA 9
conquistado. O scu éxito talvez se explique, como num caso anterior-
mente considerado, pelo facto de se teatar de um voedbulo relativamente
motivado, apoiado em, pelo menos, outro de sentido conhecido, 20
asso que cordeiro é uma designacio puramente arbitréria, no inte-
grada numa familia de palavras. Borrego provinha efectivamente de
borra “li grosseira’, do lat. tardio mURRA, e apoiava-se nesse outro
termo49. © seu foco de expansio é certamente contro-meridional’®,
Penetrou em Portugal através da fronteira de teste. Documenta-se a
sua presenga a par de cordero (como adjectivo?) na Guarda (no Foral
Novo da cidade) no ano de 151054. Nao parece ter atingido a linguagem
49 V, Conominas, DCELG, 1, p. 493, 5. ¥, bora € pe. 495, 8. ¥. borrero,
58 Corowinas dava, em 1954, como mals antiga abonacio da palavra, 0 texto
dos inventérios aragoneses de 1374, No seu recente Breve Diccionario Etimoligico
dela Lengua Castellana, Madrid 1961, p. 100, recua essa data para 1308, mas cita
orro que aparece no sentido de “borrego" no Libro de Alexandre, por volta de 1250,
le considera-o como um derivado regressivo de Borrego que ja exstria portanto antes
dessa ata
51 4B de cordeiros horager cabritos ou leitocens nam pagaram portage»,
Arquivo Histbrico de Portugal, 1, p. 99. Exemplo eitado pot José P. MAcHAno,
DELP, 1, 393, No mesmo Diciondrio se reista, a seguir, orre no sbevlo sum: «De
boro VI denaries dent in decimon, passo colhido nos PMH, Leges, p. 785 (ou
seja nos Foros de Castelo Bom, que, como indiquei no meu livro A Linguagert dos
Foros de Castelo Rodrigo, Lisboa 1959, estio escritos em latim com mistura de for-
‘mas Ieonesas —¢ nio portuguesas, como er José P, MactAbo). Esta forma borro
nfo se deve confundir com @ que citei na nota 50 © que significa "borsego": 20 com
trio do que a sua colocasio no DELP leva a cre, trala-se de uma forma antiga
de burro “asno’, como 0 revela cleramente o contexto, na parte alo transcrite por
J.P. Macuao: «Por borrico que dampno fecerit I denarium. De borro VI denatios
{dentin decimo. Et de potro aud de muleto 1 quinta»» A mesma conclusto leva 0
confronto com 0 passe correspondente do texto dos Foros de Castelo Rodrigo, Vil,
5, onde em lugar de borro se 18 Borice. Nestes ikimos Fores pertencentes & mesma
familia, mas de Hinguagem mista galego-portuguesa ¢ leonesa (ms. da 2.* metade do
séeulo xm), 6 sempre cordeyro(s) © neme do animal de que nos ocupamos (, 47,
v1, 33, vi, 2, vn, 445); também aparece cordeyrinas (in, 449), na portagem inca
nos Foros, ereio que no sentido de ‘lk de cordeiro ou cordeira, isto &, com o mesmo
signifieado que 0 ano das varias portagers espanholss a que aludi na nota 47: «De
carga de azeyte: de bests cavalar, L* tercia; © de asno, 1* quaria. De cordeyrinas
© de cabrias, la carga de bestia mayor, L* tecia; © de asno, L* quarta.» No mesmo
texto aparece borra, ¥, 27; no sentido de «ll grosseiray: «Qui borra fare o metire
Você também pode gostar
- Referencial AlfaiateDocumento76 páginasReferencial AlfaiateCláudiaSilva0% (1)
- Manual CLC5 AlfaiateDocumento35 páginasManual CLC5 AlfaiateCláudiaSilvaAinda não há avaliações
- Português 5Documento11 páginasPortuguês 5CláudiaSilvaAinda não há avaliações
- Português 6.ºDocumento12 páginasPortuguês 6.ºCláudiaSilvaAinda não há avaliações
- Português 6.ºDocumento10 páginasPortuguês 6.ºCláudiaSilvaAinda não há avaliações
- Português 6.ºDocumento11 páginasPortuguês 6.ºCláudiaSilvaAinda não há avaliações
- Neoplatonism oDocumento2 páginasNeoplatonism oCláudiaSilvaAinda não há avaliações
- Português 6.ºDocumento12 páginasPortuguês 6.ºCláudiaSilvaAinda não há avaliações
- Quadro Analitico ComparativoDocumento2 páginasQuadro Analitico ComparativoCláudiaSilvaAinda não há avaliações
- Cavaleiro AndanteDocumento1 páginaCavaleiro AndanteDinamo ClaroAinda não há avaliações
- A Urgencia de Uma Pedagogia Da Escrita-1Documento6 páginasA Urgencia de Uma Pedagogia Da Escrita-1CláudiaSilvaAinda não há avaliações
- Da Inseparabilidade Entre o Ensino Da Lingua e o Ensino Da Literatura PDFDocumento3 páginasDa Inseparabilidade Entre o Ensino Da Lingua e o Ensino Da Literatura PDFCláudiaSilvaAinda não há avaliações