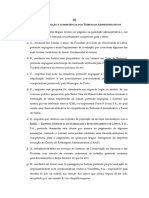Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O STF E A Questão Dos Suplentes CARLA CRISTINE KARPSTEIN, Advogada Especialista em Direito Eleitoral, Professora
Enviado por
api-56840246Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O STF E A Questão Dos Suplentes CARLA CRISTINE KARPSTEIN, Advogada Especialista em Direito Eleitoral, Professora
Enviado por
api-56840246Direitos autorais:
Formatos disponíveis
O STF E A QUESTÃO DOS SUPLENTES
CARLA CRISTINE KARPSTEIN, Advogada especialista em direito eleitoral, professora
da Escola Superior de Advocacia, da Pós Graduação da UNICURITIBA e da Escola da
Magistratura.
A matéria eleitoral é, indiscutivelmente, a área mais dinâmica do direito
brasileiro. Tão inconstante que vem aproximando nosso dia a dia jurídico daquele
existente no Common Law, onde as decisões dos tribunais substituem os atos
legislativos. Vários exemplos desse ativismo judicial tem se apresentado na nossa
história recente, encampados principalmente pelo TSE, como no caso da verticalização e
da infidelidade partidária.
O entendimento de alguns Ministros do STF, em casos concretos ainda não
definitivos, de que a suplência, no caso de vacância no mandato, deve ser exercida pelo
primeiro suplente do partido, mesmo nos casos onde houve coligação proporcional, é
mais uma dessas situações inusitadas que se apresenta. Situação essa de extrema
insegurança jurídica.
Tal raciocínio deriva da fidelidade partidária que, por sua vez, advém do
entendimento de que uma democracia estável só se mantém com partidos fortes, que só
se tornam consistentes quando detém de fato e de direito o poder dos mandatos obtidos
nas urnas. Embora pareça de uma simplicidade irritante tal raciocínio – e daí demandar
as decisões liminares de alguns Ministros do STF – há flagrante conflito de normas e
princípios estabelecido.
Sim, a regra da fidelidade partidária – aquela onde mudar de agremiação
partidária, sem justa causa, estando no exercício do mandato gera a perda deste – é
válida e importante para o fortalecimento da democracia. Mas manter a estabilidade do
processo eleitoral, respeitando-se as regras pré estabelecidas no que tange aos
registros de candidatura, à formação de coligações e à assunção de mandato também o
é.
Todo o emaranhado da legislação eleitoral que hoje temos no Brasil –
incluindo-se aí as Resoluções editadas pelo TSE e sua jurisprudência – convergem, sem
nenhuma dúvida, para a preservação dos efeitos das coligações proporcionais no que
tange aos reflexos eleitorais gerados, incluindo-se, por óbvio e essencialmente, a ordem
de suplência. Suplência que é, afinal, o fim primordial da formação da coligação
proporcional, dando chance ao partido com menor densidade eleitoral de obter de fato o
poder.
O Código Eleitoral, ainda que um tanto desatualizado, mantém clara e
válida a regra contida nos artigo 109 e 1101, onde as Coligações se equiparam aos
partidos para os fins de formação do quociente eleitoral. A confusão se estabelece com o
disposto no artigo 1122 do mesmo diploma legal, que omite em seu texto o termo
“coligação”, dando margem à interpretações diversas, como aquela hoje tomada por
alguns ministros do STF. Mas nossa legislação eleitoral deve ser, obrigatoriamente,
interpretada de forma sistemática e não estanque; se todo o conjunto legislativo equipara
a Coligação ao partido para efeitos eleitorais, essa é a intenção inequívoca do legislador.
A polêmica começou quando, ainda em dezembro de 2010, o STF
concedeu liminar, em sede de Mandado de Segurança, determinando a posse do
primeiro suplente do PMDB de Rondônia (que participou das eleições de 2006 coligado
proporcionalmente) na vaga do ex-deputado Natan Donadon (PMDB-RO), que havia
renunciado ao mandato para escapar das sanções da Lei da Ficha Limpa. A Mesa
Diretora da Câmara dos Deputados acatou a decisão do STF e deu posse ao deputado
João Batista (PMDB-RO) na vaga então ocupada por Agnaldo Muniz (PSC-RO), que era
o primeiro suplente da coligação que elegeu dois deputados em Rondônia em 2006.
Cabe destacar que tal precedente tem sutilezas únicas: Muniz, o primeiro
suplente da Coligação, havia concorrido nas eleições de 2006 pelo PP, que fazia parte
da coligação, mas trocou de partido (PSC) antes de assumir o cargo, razão esta que
fundamentou o pedido de posse do suplente do PMDB. Portanto, o fundamento utilizado
pelo STF para conceder a liminar e determinar a posse do suplente do PMDB não foi
apenas a fidelidade partidária ou o princípio de que o mandato pertence ao partido, mas
especialmente manter a representatividade de tal partido na Câmara Federal. Vejamos.
Quando um mandatário se licencia para exercer outra atividade no Poder
Público (uma Secretaria de Estado ou Ministério, por exemplo), a representatividade
daquele partido ao qual ele pertence está preservada, ainda que não esteja exercendo o
seu mandato diretamente na casa da leis para o qual foi eleito. Assim, não há que se
falar em garantia de posse a suplente da própria agremiação, quando tal partido
concorreu coligado proporcionalmente nas eleições, já que isso afetaria as condições em
que participou e se saiu no respectivo pleito.
No caso de perda definitiva de mandato, o entendimento hoje esboçado
pelo STF (e ainda não definitivo) de que o mandato pertence ao partido, nos parece o
mais correto, pois manteria intacta a representatividade daquela agremiação partidária
que acabou por perder uma das vagas conquistadas na eleição.
Porém, na esteira do entendimento esboçado pelo STF no caso de
Rondônia, outras decisões no mesmo sentido (porém em situações fáticas diversas) se
estabeleceram, provocando uma enorme confusão na composição dos partidos e blocos
partidários tanto na Câmara dos Deputados quanto nas Assembléias Legislativas.
A Ministra Carmen Lúcia, do STF e atualmente também no TSE, concedeu,
no início do mês de fevereiro, duas liminares determinando a posse de suplentes do
mesmo partido de parlamentares que se licenciaram para assumir cargos no Executivo
de seus estados. Tais decisões nos parecem bastante equivocadas, se promovermos a
análise sistemática de nossa legislação eleitoral, principalmente porque não se trata de
manter a representatividade do partido cujo mandato o licenciado exercia.
Mais do que isso, tal entendimento, ainda não confirmado pelo plenário do
STF, promoveria o sepultamento das coligações proporcionais. Sem adentrar o mérito de
isso ser positivo ao nosso sistema eleitoral (e penso que deveríamos sim extinguir as
coligações proporcionais), fazê-lo logo após a realização de eleições gerais, onde as
Coligações proporcionais foram amplamente utilizadas, não nos parece o mais justo.
As Mesas Executivas da Câmara dos Deputados e das Assembléias
Legislativas onde existem casos típicos tem optado por seguir a legislação eleitoral e dar
posse aos suplentes das Coligações, diplomados legalmente pelos TREs de seus
estados, o que nos parece sábio tendo em vista a instabilidade jurídica provocada pelo
entendimento unilateral de alguns ministros do STF. Destaque-se que, a se manter o
entendimento de posse ao suplente do partido ao qual o mandato pertence, preterindo-se
as coligações proporcionais formadas nas eleições de 2010, teremos a composição da
Câmara dos Deputados alterada em cerca de 20 cadeiras, a mesma coisa acontecendo
em Assembléias Legislativas com casos similares.
Além de tal situação, os mandados de segurança impetrados contra os atos
dos presidentes das casas legislativas (Câmara e Assembléias) carecem de fundamento
básico: não existe ato ilegal ou abusivo praticado por estes, já que dar posse à suplentes
diplomados formalmente pelos Tribunais Regionais Eleitorais, dentro do que dispõe a
legislação vigente, é prática que a lei determina. Mas isso é tópico para outra discussão.
O tema é árduo e profundo, não podendo ser esgotado em poucas linhas.
Porém, necessária e urgente é a mudança do hábito nefasto de nossos Tribunais, no que
tange à matéria eleitoral, alterar regras fundamentais durante o período em que ocorrem
as eleições ou logo após o pleito, onde os efeitos daquelas ainda se fazem sentir. Se as
Coligações proporcionais são nocivas para o sistema eleitoral, que se promova a tão
falada Reforma Política, alterando-se a legislação, dentro do que dispõe nossa
Constituição Federal.
Você também pode gostar
- Marketing EleitoralDocumento52 páginasMarketing EleitoralMaxmílian CostaAinda não há avaliações
- Seminario UmDocumento5 páginasSeminario UmBelo LopezAinda não há avaliações
- DEMOCRACIA - TUDO SALA DE AULADocumento2 páginasDEMOCRACIA - TUDO SALA DE AULAthayyla2021Ainda não há avaliações
- Lista de Questões Da Lei Orgânica Do Município de TeresinaDocumento6 páginasLista de Questões Da Lei Orgânica Do Município de TeresinaCléa Gomes0% (2)
- Radiografia Do Quadro Partidário Brasileiro - M. KinzoDocumento67 páginasRadiografia Do Quadro Partidário Brasileiro - M. KinzoAna Paula PeguinAinda não há avaliações
- Eleição Dos BichosDocumento21 páginasEleição Dos BichosVanessa Gonçalves OrfanóAinda não há avaliações
- 291 Regulamento Interno TJDocumento19 páginas291 Regulamento Interno TJjohnniexAinda não há avaliações
- Exercícios de Fixação - Módulo II - O Poder LegislativoDocumento5 páginasExercícios de Fixação - Módulo II - O Poder LegislativoSARAH PORTELLA DOMINGOSAinda não há avaliações
- (Prova.) - Matemática e Suas Tecnologias. (2002.)Documento10 páginas(Prova.) - Matemática e Suas Tecnologias. (2002.)FourShAinda não há avaliações
- Frederico FigueiraDocumento36 páginasFrederico FigueiraKissyan CastroAinda não há avaliações
- Lei Organica Municipio de Rio TintoDocumento59 páginasLei Organica Municipio de Rio TintoCâmara Municipal De Rio Tinto50% (2)
- Dompms - 2740Documento14 páginasDompms - 2740Adriel MattosAinda não há avaliações
- CordelDocumento1 páginaCordel52252525Ainda não há avaliações
- Loj TJRNDocumento65 páginasLoj TJRNlimarenatooAinda não há avaliações
- Do 20141120 2467 PDFDocumento64 páginasDo 20141120 2467 PDFMorela Alfonzo ArrivillagaAinda não há avaliações
- Eleições Catarinenses 1945-1998Documento200 páginasEleições Catarinenses 1945-1998Nicholas JohnsonAinda não há avaliações
- TFUEDocumento12 páginasTFUEAirton DuarteAinda não há avaliações
- Resumo - Cidadania No BrasilDocumento23 páginasResumo - Cidadania No BrasilMariana SimõesAinda não há avaliações
- Regimento Interno Ferraz de VasconcelosDocumento190 páginasRegimento Interno Ferraz de VasconcelosConceição SilvaAinda não há avaliações
- Cartilha 'Cipa, Um Instrumento para Fortalecer A Luta Dos Trabalhadores'Documento26 páginasCartilha 'Cipa, Um Instrumento para Fortalecer A Luta Dos Trabalhadores'Jean Eugenio CosendeyAinda não há avaliações
- Historia Da Democracia Representativa No BrasilDocumento24 páginasHistoria Da Democracia Representativa No BrasilgeorgianaAinda não há avaliações
- g1 Fato Ou Fake - O Serviço de Checagem de Fatos Das Eleições Do Grupo GloboDocumento1 páginag1 Fato Ou Fake - O Serviço de Checagem de Fatos Das Eleições Do Grupo GlobokeziavaldineiAinda não há avaliações
- Deliberacoes CNEDocumento14 páginasDeliberacoes CNEedgarAinda não há avaliações
- Material 2 EleitoralDocumento4 páginasMaterial 2 EleitoralRuhan Gabriel PaulAinda não há avaliações
- Lei Orgânica de Fernandópolis - SPDocumento61 páginasLei Orgânica de Fernandópolis - SPanarmsantoroAinda não há avaliações
- Lei Ordinária 2864 2017 de Duque de Caxias RJDocumento16 páginasLei Ordinária 2864 2017 de Duque de Caxias RJTatiane CostaAinda não há avaliações
- Avaliação Final Poder LegislativoDocumento7 páginasAvaliação Final Poder LegislativoIzabella CarvalhoAinda não há avaliações
- Decreto #46.157 2017 Novo Regulamento COJUERJDocumento11 páginasDecreto #46.157 2017 Novo Regulamento COJUERJRenezito JúniorAinda não há avaliações
- Exercicios de Direito Constitucional Sem GabaritoDocumento31 páginasExercicios de Direito Constitucional Sem GabaritogustavovatsugAinda não há avaliações
- BR 41 Iii Série 2019Documento32 páginasBR 41 Iii Série 2019icumba6180Ainda não há avaliações