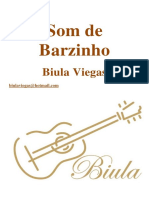Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Marcos Cohen - César Guerra-Peixe (1914 - 1993)
Marcos Cohen - César Guerra-Peixe (1914 - 1993)
Enviado por
Marcos Jacob Cohen0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações6 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações6 páginasMarcos Cohen - César Guerra-Peixe (1914 - 1993)
Marcos Cohen - César Guerra-Peixe (1914 - 1993)
Enviado por
Marcos Jacob CohenDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 6
CÉSAR GUERRA-PEIXE (1914 - 1993)
César Guerra-Peixe é um dos grandes nomes da música brasileira no Século XX,
tendo participado dos mais importantes movimentos culturais de seu tempo; compositor,
pesquisador, professor e ensaísta, deixou um legado multifacetado de obras que
extrapolam o lugar comum e revelam um senso crítico singular da arte e da realidade.
Décimo e último filho dos imigrantes portugueses Francisco Antônio Guerra-Peixe e
Adelaide Allago Guerra-Peixe, que haviam chegado ao Brasil em 1893, César nasceu
em Petrópolis, Rio de Janeiro, no dia 18 de março de 1914; aos seis anos de idade já
estudava violão com seu pai, que era músico amador e tocava, além de violão, bandolim,
guitarra portuguesa, sanfona de oito baixos e cítara. Em seguida, Guerra-Peixe dedicou-
se também ao bandolim, ao violino e ao piano e, ainda muito jovem, apresentava-se
regularmente com o maior grupo de choro daquela região, o Choro do Carvalhinho,
conjunto mantido e gerenciado por um tio seu.
Matriculou-se em 1925 na Escola de Música Santa Cecília, onde foi estudante de
violino da classe de Gáo Omacht e de piano nas classes de Adelaide Carneiro e Elfrida
Strattman; em 1929 assumiu, nesta mesma instituição, a posição de professor assistente
de violino, embora, desde o ano anterior, já tocasse em sessões de cinema mudo da
cidade. A partir de 1932 passou a estudar com a violinista Paulina d'Ambrósio, além de
ter aulas de harmonia com Arnaud Gouvêa e música de câmara com Orlando Frederico
no Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro. Para se manter na capital, Guerra-
Peixe participava de diversas orquestras de salão da cidade e trabalhava como
arranjador para alguns cantores e gravadoras. Em entrevista dada ao Jornal do Brasil
em 10 de maio de 1974, Guerra-Peixe comentou sobre sua vida no Rio de Janeiro da
década de 1930: “era uma época difícil, muito músico sem emprego, muita concorrência;
mas consegui meu primeiro emprego na Taberna da Glória, de saudosa memória para
os boêmios da Lapa, e depois na Casa Belas Artes. Foi então que tive a primeira
revelação ao ler o Ensaio sobre a Música Brasileira de Mário de Andrade: eu nem sabia
que existia a tal de Música Brasileira... Fazia também uns arranjos de música popular de
orelhada e fui para a Odeon substituir o maestro Rondon. O outro arranjador era o
Pixinguinha, e essa responsabilidade maior e a leitura de Mário me fizeram estudar a
sério; procurei então um professor e encontrei um ótimo em Newton Pádua. E quando
menos esperava, virei compositor.” Em 1938, portanto, entusiasmado com Mário de
Andrade e as ideias expostas em seu Ensaio, Guerra-Peixe começou a estudar harmonia
com Newton Pádua. Ingressa no Conservatório Brasileiro de Música em 1941,
continuando ali os estudos teóricos com Pádua. Guerra-Peixe dominava a orquestração
como poucos, com versatilidade de discurso, domínio técnico instrumental e concisão de
linguagem, e tornou-se o primeiro aluno a concluir o curso de composição do
Conservatório.
Terminado o curso de composição, em 1944 Guerra-Peixe passou a integrar o
Grupo Música Viva e a estudar com Hans Joachim Koellreutter que, neste mesmo ano,
após desentendimentos com Lorenzo Fernandez, havia rompido com o movimento
nacionalista e deixado o Conservatório Brasileiro de Música, onde lecionava desde 1939.
Por mais de dois anos Guerra-Peixe estudou análise musical, harmonia, história da
música, estética, contraponto, acústica e as técnicas de composição dodecafônicas.
Após o contato com o Dodecafonismo, Guerra-Peixe, que até então compunha em
moldes clássicos e a partir de uma perspectiva mais tradicionalista, em grande medida
fruto das aulas com Newton Pádua, decidiu renunciar às suas obras anteriores e adotar
essa estética como novo paradigma composicional.
Havia em Guerra-Peixe uma espécie de desejo de nacionalização do
Dodecafonismo, claramente perceptível em suas tentativas de dar contornos
“nacionalizados” às suas melodias, numa busca por comunicar melhor suas ideias ao
público, embora isso não fosse expressamente consciente, como é possível perceber
em carta escrita a Curt Lange, de 12 de dezembro de 1947: “não gostei do meu quarteto.
Perto da Sinfonia ele é uma droga. Creio estar muito carregado. Penso que perdi muito
de expressão, por causa da mania de querer escrever de um modo mais fácil para o
público entender. Neste sentido consegui alguma coisa, creio. Mas perdi de expressão.
A parte de ritmo, que certa vez falei, foi resolvida, no quarteto, como pensei. Mas não foi
difícil porque tem muitos motivos rítmicos repetidos. O mais interessante é que já estão
vendo nacionalismo em demasia na minha música. Não é nada disso. E o pior é que,
justamente, o pessoal sente o nacionalismo onde não cuidei disto: nos II e IV
movimentos! O quarteto agradou (o que é muito mau sinal), assim como já me falaram
de ser proposto para imortal da Academia Brasileira de Música. Veja, Dr. Lange, a que
ponto chegou a minha decadência em 1947!” Entretanto, na Nota Preliminar de sua obra
Maracatus do Recife, de 1955, Guerra-Peixe assume que, de fato, havia em suas obras
dodecafônicas uma tendência nacionalizante, atitude percebida também em outros
compositores daquela confraria: “éramos decididos apologistas do Dodecafonismo –
curiosa espécie de música que pretendíamos deformar ao nosso modo, supondo então,
produzir obra de cultura nacional...”
A influência de Koellreutter no desenvolvimento artístico de Guerra-Peixe foi
enorme, extrapolando o mero ensino de técnicas composicionais e configurando-se
filosoficamente, antes de tudo, num apelo à reflexão sobre o papel do músico e da
linguagem musical na sociedade contemporânea. Entretanto, em 1949, a saída de
Cláudio Santoro do Música Viva, o declínio dos movimentos de renovação musical na
América Latina como um todo, a insatisfação com a recepção de suas composições
dodecafônicas e após meditar sobre o sentido social de suas obras, bandeira levantada
anos antes por Mário de Andrade, Guerra-Peixe resolveu abandonar a estética
dodecafônica: sua última obra desta fase é a Suíte para Flauta e Clarineta, composta
neste mesmo ano. Em grande parte, a responsabilidade por essa decisão recaiu sobre
a questão da comunicabilidade de suas obras com o público, a quem todo o seu esforço
composicional era direcionado; em carta a Curt Lange, datada de 30 de agosto de 1948,
Guerra-Peixe comentou, já um pouco pesaroso: “penso em abandoná-la [a técnica
dodecafônica] para escrever mais compreensivelmente para a maioria, já que não
querem executar nossas músicas assim... Basta de esperar pelas raras execuções para
animar. Pois, desse jeito nossas obras não poderão ter realmente função social, porque
vivem somente na gaveta e nas conversas. Não sei se estou pensando certo. Mas, se o
público não recebe uma obra, ela não existe.”
Para encerrar o dilema, em 1949 Guerra-Peixe foi contratado como arranjador da
Rádio Jornal do Comércio de Recife, recusando, por conta disso, um convite para
estudar regência por dois anos em Zurique, com o maestro suíço Hermann Scherchen.
Durante três anos, interessado pelas práticas musicais do Nordeste e especialmente as
pernambucanas, a inquietação de Guerra-Peixe se converteu na busca de uma
expressão original fundamentada na pluralidade e diversidade musical própria de seu
país. Em entrevista a Haroldo Miranda, publicada no Jornal do Comércio de Recife, em
20 de agosto de 1950, Guerra-Peixe comentou: “o Dodecafonismo havia penetrado
profundamente a minha mentalidade musical e, não obstante, a reação para abandoná-
lo mais cedo um pouco, só essa mudança súbita de ambiente pôde me dar a necessária
energia para conseguir o intento. Aqui no Recife, ao contato com essa gente, ouvindo
sua fala, observando seus costumes e sentindo a influência do meio, pude pensar
esteticamente da forma que não se consegue numa capital já tão cosmopolita como o
Rio de Janeiro.”
Como resultado de suas pesquisas e da mudança de orientação estética, Guerra-
Peixe publicou em 1955, pela editora Ricordi, Maracatus do Recife, ainda hoje um dos
mais abrangentes estudos sobre o maracatu pernambucano. De acordo com Izabel
Cristina Guillen em seu artigo Guerra-Peixe e os maracatus no Recife: trânsitos entre
gêneros musicais (1930 - 1950), esse trabalho de pesquisa de Guerra-Peixe foi tão
importante que mesmo hoje, passados mais de cinquenta anos, ainda é fonte de
referência não somente para estudiosos das tradições populares, mas também para os
“maracatuzeiros” que dele se valem como chancela de genuinidade de suas práticas.
Mas as pesquisas de Guerra-Peixe não se restringiram aos maracatus, segundo ele
próprio: “durante três anos me meti nos xangôs, maracatus, viajei para o interior, recolhi
músicas de reza para defunto, da banda de pífanos...” Para além dos maracatus, Guerra-
Peixe escreveu sambas, sambas-canção e toadas, como Cortesia, O Amor nasce do
Olhar e Nego Bola-Sete, e até pontos de macumba, como Mamãe-Iemanjá, numa
profusão de ritmos que revelava o que ele mesmo declarou em depoimento a Geraldo
Vespar em 1989: “a verdadeira música popular é o folclore; a outra, que a modernidade
explora, é música que na Europa se chama de ligeira ou de consumo, porque não é
música do povo, mas feita para o povo. Imposta de cima para baixo como o nosso Hino
Nacional. Essa música que a discografia brasileira explora é a que há muitos anos a
Academia Brasileira de Música e a Comissão Nacional de Folclore denomina, sem
menospreza-la, de música popularesca.”
Guerra-Peixe retornou a São Paulo em 1953, onde trabalhou com Rossini Tavares
de Lima; no interior do estado deu prosseguimento às suas atividades de pesquisa
folclórica, uma vez que acreditava que a arte ou a música unicamente poderiam ser o
verdadeiro reflexo da realidade se tivessem profundas raízes culturais tradicionais; no
ano de 1959 foi encarregado do setor de folclore da Comissão Paulista de Folclore, cargo
anteriormente ocupado por Rossini. Em São Paulo, Guerra-Peixe se encantou com a
música tradicional do litoral: “os contrastes entre a música paulista e a pernambucana
são vistos a cores vivas; as semelhanças também!” Em 1960, já num período mais
universalista, quando da inauguração de Brasília, Guerra-Peixe participou de um
concurso que premiaria um trabalho sinfônico que tivesse a nova capital como tema; não
fica em primeiro lugar (na realidade essa premiação não é concedida), mas divide a
segunda colocação com Cláudio Santoro e José Guerra-Vicente com sua Sinfonia
Brasília, obra mais ampla e importante de sua fase nacionalista. A partir de 1962 passou
a morar no Rio de Janeiro e tornou-se violinista da Orquestra Sinfônica Nacional.
Lecionando nos Seminários de Música Pró-Arte, na Escola de música Villa-Lobos, na
Universidade Federal de Minas Gerais e na Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Guerra-Peixe foi responsável pela formação de inúmeros compositores, como Ernani
Aguiar, Jorge Antunes, Guilherme Bauer, Nestor de Hollanda Cavalcanti, Carlos Cruz,
José Maria Neves, Clóvis Pereira, Murillo Santos, Lucas Raposo e Marden Maluf;
entretanto, até o fim da vida permaneceu atento à música popular e às suas
possibilidades: “a ascensão cada vez mais notável de Bartók e Villa-Lobos no conceito
internacional parece afirmar que a fidelidade à música popular nada impede que o
compositor realize obra de valor considerável e de plena aceitação internacional”.
Guerra-Peixe foi eclético em todos os aspectos, da experimentação à quebra de
regras e fronteiras, atuando em frentes diversas – rádios, orquestras, teatros de revista,
cursos de música e cinema; como diretor musical e compositor, Guerra-Peixe trabalhou
em 28 filmes nacionais, como O Canto do Mar e Soledade – por cujas trilhas sonoras
recebeu vários prêmios – e O Dia é nosso – comédia dirigida por Milton Rodrigues.
Deixou ainda sua marca como arranjador num dos maiores clássicos da Música Popular
Brasileira, o maravilhoso disco Afrosambas, de Baden Powell e Vinícius de Moraes. O
catálogo de obras de Guerra-Peixe inclui trabalhos orquestrais, peças de câmara e para
instrumentos solo, canções e composições corais. Durante sua vida recebeu numerosos
prêmios e honrarias e foi eleito em 1971 para a Academia Brasileira de Música. Faleceu
em 26 de novembro de 1993, deixando um legado inestimável para a Música Brasileira.
PARA CONHECER MAIS
Ana Cláuda Assis. César Guerra-Peixe: entre Músicos e Músicas (1944 - 1949). Revista
do Conservatório de Música da UFPel No. 3, 2010.
Antônio Guerreiro de Faria, Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros e Ruth Serrão
(org.). Guerra-Peixe, um Músico Brasileiro. Lumiar, 2007.
Carlos Eduardo Fecher. Suíte Sinfônica No. 1 de Guerra-Peixe: um Estudo da
Orquestração como Retrato do Folclore. Dissertação de Mestrado - UNIRIO, 2005.
Clayton Vetromilla. Fases e Gênero nas Canções de Guerra-Peixe: a Década de 50.
Revista do Instituto de Estudos Brasileiros No. 59, 2014.
Fernando Toledo. Guerra-Peixe, o Erudito Popular. Revista Música Brasileira, 2004.
Frederico Machado de Barros. César Guerra-Peixe: a Modernidade em Busca de uma
Tradição. Tese de Doutorado - USP, 2013.
Isabel Cristina Martins Guillen. Guerra-Peixe e os Maracatus no Recife - Trânsitos
entre Gêneros Musicais (1930 - 1950). Revista ArtCultura No. 9, 2007.
Ricardo Cravo Albin. César Guerra-Peixe. Dicionário Houaiss Ilustrado da Música
Popular Brasileira, 2006.
Você também pode gostar
- E-Book 5 Atividades MusicaisDocumento13 páginasE-Book 5 Atividades MusicaisWellington Luis Silva100% (4)
- Som de Barzinho. Biula Viegas.Documento301 páginasSom de Barzinho. Biula Viegas.Wlad B.Ainda não há avaliações
- A Autoridade Do Crente - Jimmy SwaggartDocumento30 páginasA Autoridade Do Crente - Jimmy SwaggartSemônica SilvaAinda não há avaliações
- L. J. Shen - All Saints High 2 - Broken KnightDocumento532 páginasL. J. Shen - All Saints High 2 - Broken KnightLara DutraAinda não há avaliações
- Chã Dos Esquecidos de Lourdes RamalhoDocumento124 páginasChã Dos Esquecidos de Lourdes RamalhoCarla CerejaAinda não há avaliações
- 05 Anos Alinhado A BNCC - 1º BimestreDocumento6 páginas05 Anos Alinhado A BNCC - 1º Bimestreelciane.lobato4309Ainda não há avaliações
- ZOLBERG. Os Artistas Nascem Prontos in para Uma Sociologiada ArteDocumento37 páginasZOLBERG. Os Artistas Nascem Prontos in para Uma Sociologiada ArteElza VieiraAinda não há avaliações
- Aprendendo A RelaxarDocumento2 páginasAprendendo A RelaxarRandal AguiarAinda não há avaliações
- Tim Maia - Gostava Tanto de Você - Cifra ClubDocumento3 páginasTim Maia - Gostava Tanto de Você - Cifra ClubMarcos SouzaAinda não há avaliações
- Plano de AulaDocumento3 páginasPlano de AulaSuelen LucidonioAinda não há avaliações
- Codigo Guia RBG 1986Documento66 páginasCodigo Guia RBG 1986Carlos VilelaAinda não há avaliações
- AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 2020 EREM Alberto TôrresDocumento5 páginasAVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 2020 EREM Alberto TôrresEduardo AndradeAinda não há avaliações
- Manual de Instruções LG OK75 (Português - 50 Páginas)Documento6 páginasManual de Instruções LG OK75 (Português - 50 Páginas)CléberAinda não há avaliações
- Meiga e AbusadaDocumento2 páginasMeiga e Abusadagabriela escalonaAinda não há avaliações
- TUTORIADocumento1 páginaTUTORIABrenda StefaniAinda não há avaliações
- Cancao ExpedicionarioDocumento1 páginaCancao ExpedicionarioEvandro PereiraAinda não há avaliações
- Aula 3 - Sustenido e BemolDocumento3 páginasAula 3 - Sustenido e BemolWillams MatiasAinda não há avaliações
- Sarau de Cantigas: 1 ANO AULA 17 - 1 BimestreDocumento19 páginasSarau de Cantigas: 1 ANO AULA 17 - 1 BimestreCARLA LUCIENE BISSOLIAinda não há avaliações
- EuterpeDocumento6 páginasEuterpepaulohm_Ainda não há avaliações
- Tonezzi 49811 Texto Do Artigo 126054 1 2 20191215Documento14 páginasTonezzi 49811 Texto Do Artigo 126054 1 2 20191215Nay LimaAinda não há avaliações
- Modelo de Texto para Cerimonial de DebutanteDocumento6 páginasModelo de Texto para Cerimonial de DebutanteVipoint FILIALAinda não há avaliações
- Historia Da Música Brasileira Nos Anos 1920 A 1949Documento10 páginasHistoria Da Música Brasileira Nos Anos 1920 A 1949Daciele SoaresAinda não há avaliações
- Começando - FlautaDocumento2 páginasComeçando - FlautaGABRIEL GDAinda não há avaliações
- Cabila E Ijexá: Interconexões Entre Ritmos DE Duas CulturasDocumento11 páginasCabila E Ijexá: Interconexões Entre Ritmos DE Duas Culturasteo margifonAinda não há avaliações
- Claves DDocumento4 páginasClaves DWellingtonAinda não há avaliações
- Buku Ulang Tahun Par A Suster PI Tahun 2023Documento27 páginasBuku Ulang Tahun Par A Suster PI Tahun 2023Runho SatyAinda não há avaliações
- Programa 46 o Barbeiro de Sevilha DigitalDocumento96 páginasPrograma 46 o Barbeiro de Sevilha DigitalThaiane MenezesAinda não há avaliações
- Artigo Do Professor Luciano Pereira Da SilvaDocumento32 páginasArtigo Do Professor Luciano Pereira Da SilvalucascsportelaAinda não há avaliações
- Lindo És - Juliano Son - Cifra ClubDocumento1 páginaLindo És - Juliano Son - Cifra ClubJoy abomAinda não há avaliações
- Igreja AdormecidaDocumento9 páginasIgreja AdormecidaLucas Silva67% (3)