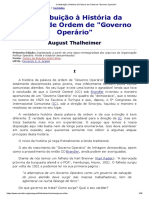Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Jorge Caldeira - A Nação Mercantilista - Ensaios Sobre o Brasil-Editora 34 (1999)
Jorge Caldeira - A Nação Mercantilista - Ensaios Sobre o Brasil-Editora 34 (1999)
Enviado por
Anne Nobre0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
50 visualizações416 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
50 visualizações416 páginasJorge Caldeira - A Nação Mercantilista - Ensaios Sobre o Brasil-Editora 34 (1999)
Jorge Caldeira - A Nação Mercantilista - Ensaios Sobre o Brasil-Editora 34 (1999)
Enviado por
Anne NobreDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 416
A nacao mercantilista traz um olhar di-
ferente sobre a histéria econémica do Brasil.
Desde o inicio da colonizagao, uma forca pré-
pria se destacou:
s complexas ligagdes com
2 populagao indigena, que permitiram rapi-
damente formar uma identidade. Mas tam-
bém instalar uma base produtiva muito avan-
cada para a época, sustentada sobre relagdes
pessoais e organizada em torno do objetivo
de enriquecer.
Mesmo quando 0 modelo foi copiado, a
partir de meados do século XVII, por todas
as poténcias européias, sua marca propria
petmaneceu: a forca expansiva das atividades
econémicas internas, com uma dindmica que
nao tinha paralelo na época. Com a descober-
ta do ouro, na virada do século XVIII, 0 vi-
gor € a importdncia deste mercado interno
aumentaram ainda mais. Nos cem anos entre
1700 e 1800, a economia colonial brasileira
desenvolveu-se a ponto de controlar todo 0
atual espago nacional, e ainda expandiu-se
pelo continente africano: uma parte dele, for-
necedora de escravos, tinha uma economia
totalmente dependente do Brasil. Neste perio-
do, até mesmo a economia portuguesa se tor-
nou dependente de sua maior colénia. As ten-
tativas metropolitanas de reverter a situagio,
principalmente no final deste século, frustra-
ram-se: na virada para o século XIX 0 Brasil
tinha uma economia dindmica e uma base
social aberta — em suma, algumas das con-
digdes essenciais para a virada capitalista.
Mas o que faltava, entdo? A maior fonte
de problemas era a estrutura fiscal. Favore-
cendo devedores, carregando produtores com
muitos impostos e dando em troca quase na-
da como servicos do Estado, Portugal lucra-
va as custas de uma politica de retardamen-
to do crescimento brasileiro.
Esta estrutura se transformou na grande
heranga metropolitana: foi institucionalizada
no momento da Independéncia, quando sur-
giu a Nagao Mercantilista. Em vez de Portu-
gal, as riquezas extraidas dos produtores ©
trabalhadores brasileiros passaram a finan-
ciar a elite. Peculiar elite, que via num mun-
do de favores com dinheiro piiblico — 0 be-
neficio que colhiam dos impostos —, mundo
que era inteiramente destruido por todo lado
com o capitalismo, o sol do futuro. Elite que
pouco ligava para o atraso geral, desde que
houvesse o ganho particular.
O desastre 86 nao se consumou totalmen-
te pelo mesmo motivo da época colonial: tal
politica nao foi capaz de matar inteiramente
os fatores de dinamismo interno, embora a
elite os desprezasse. Dinamismo sustentado
por pessoas capazes de encarar desafios, em-
preender, resolver problemas por conta pré-
pria, forcar ao maximo a democracia: um
povo com uma capacidade muito acima da-
quela de seus dirigentes.
Sobre 0 autor:
‘Autor de Maud: empresario do império
Viagem pela hist6ria do Brasil, Jorge Caldeira
é doutor em Ciéncia Politica pela Universida-
de de Sio Paulo. Também jornalista, foi edi-
tor da Folba de S. Paulo ¢ das revistas Isto
e Exame,
Jorge Caldeira
A NACAO
MERCANTILISTA
Ensaio sobre o Brasil
editorallll34
EDITORA 34
Editora 34 Ltda.
Rua Hungria, 592 Jardim Europa CEP 01455-000
Sao Paulo - SP Brasil Tel/Fax (011) 816-6777 editora34@uol.com.br
Copyright © Editora 34 Ltda., 1999
A nagao mercantilista © Jorge Caldeira, 1999
A FOTOGOPIA DE QUALQUER FOLHA DESTE LIVRO E ILEGAL, E CONFIGURA UMA
APROPRIAGAO INDEVIDA DOS DIREITOS INTELECTUAIS E PATRIMONIAIS DO AUTOR.
Imagem da capa:
Jean Baptiste Debret (1768-1848), “Cena de rua”, aquarela, s/d.
Capa, projeto grifico e editoragao eletrnica:
Bracher & Malta Produgao Grafica
Revisio:
Ingrid Basilio
1 Edigdo - 1999, 2* Reimpressao - 1999
Catalogagao na Fonte do Departamento Nacional do Livro
(Fundagio Biblioteca Nacional, RJ, Brasil)
Caldeira, Jorge, 1955-
cigen ‘A nagio mercantlista / Jorge Caldeira —
So Paulo: Ed. 34, 1999.
416 p.
ISBN 85-7326-138-2
Inclui bibliografia.
1, Histéria econémica - 1750-1918, 2, Brasil -
Politica econémica. 1. Titulo,
DD - 330.9034
. A reconstrugao da ordem
. O progresso do atraso .
. Mundo em travessia .
. Futuro do pretérito
. A nacao mercantilista..
. © agénico relogio das delicia
ANACAO
MERCANTILISTA
Introdugao .. u
Cana: 0 objeto-sujeito .... 13
Subjetividade dos nimeros 25
Fidalguia mazomba . 41
Camelo na agulha 57
A cadeia do crédito 75
A Coroa ... 95
De Amadis ao deus do comércio 121
Construgao da vaca leiteira 149
Milagres da natureza
Bibliografia .
Indice onomdstico
INTRODUGAO
A nagao mercantilista trata de um tema classico: 0 pifio desenvolvimento
brasileiro durante o século XIX. Nos cem anos entre 1800 e 1900, o que era_
‘possivelmente a maior economia das Américas — e sio apresentados alguns
indicios nesta diregio ao longo do livro — transformou-se na economia de
“um pais que tinha um PIB de cerca de um décimo dos Estados Unidos. ,
Se 0 tema € classic, o caminho seguido é pouco ortodoxo, ao menos
na historiografia econémica brasileira. As explicacdes so buscadas em fa-
tores internos. Em outras palavras, nao se atribui o que aqui ocorreu ou dei-
xou de ocorrer a estruturas gerais, das quais nao se pode livrar — fazendo o_
‘baixo crescimento surgir como conseqiiéncia inexordvel, onde o pais apare-
ce como vitima de um sistema articulado de fora para produzir 0 magro cres-
Certamente esta é uma boa maneira de resolver a questa: coloca
os problemas como estando fora do alcance dos atores, a economia como va-
ridvel nao controlada pelos agentes. Os brasileiros so inocentes bem-inten-
cionados, mas lidar com 0 progresso parece uma impossibilidade para eles.
No livro, tenta-se entender como este tipo de pensamento é, mais pro-
priamente, parte do problema que esta sendo tratado. Em outras palavras,
trabalha-se com a hipétese de que a formulagao de politica econémica era
deliberadamente pensada como modo de excluir os interesses da maioria dos
agentes, satisfazer uma minoria pouco interessada no progresso — € provo-
car a sensagao de exclusao do controle sobre o destino econ6mico entre os
que discordavam dos objetivos dominantes. Para lidar com tal hipétese, a
trilha € outra: buscar associar as solugdes econémicas adotadas aos padrées
de pensamento da época em que foram feitas as opgées. Procura-se detalhar
© conjunto de motivagées conscientes dos agentes para fazer o que fizeram.
Muitas vezes, nao como vitimas, mas como governantes cheios de orgulho
do caminho de menor desenvolvimento.
Houve, sim, uma politica deliberada de condugao da economia e realizada
a partir de uma concepgao clara que guiava os objetivos. Essa concep¢ao en-
volvia tanto uma definicéo do papel dos agentes como da espécie de espaco
econémico que era o Brasil, e do tipo de direcdo econémica que deveria ter.
Cristalizou-se como modo de diregéo nacional na Independéncia, sobretudo
Introdugao a
na Constituiggo de 1824. Mais que simples direc econémica, tal concepsio
modelou uma Nagao. Isto porque, para dirigir a riqueza nacional conforme
seus ditames, exigia ordenaco nao apenas no campo do que hoje se conhece
como economia, mas de toda a sociedade. Nesse modelo, a producao é pen-
sada como “objetiva” e os agentes produtores aparecem como destitufdos de
significado préprio; a direcdo econdmica, em conseqiiéncia, como assunto afei-
to apenas aqueles que lidam com tal “objetividade” — daf por que exige um
desenho de sociedade dividida entre pessoas de duas qualidades.
A nagao mercantilista lida também com um problema temporal, expresso
no proprio titulo. O adjetivo remete a um tempo que, na aparéncia, é ante-
rior ao substantivo. Tempo de formulagao de um modo de ver a producao,
em que este modo no estava ainda relacionado a um sistema politico pré-
prio — embora ja fosse prdprio ao espago colonial. Tal maneira particular
desenvolveu-se durante o século XVIII, antes, portanto, da Nacao. O livro
acompanha esta génese. O primeiro capitulo analisa uma de suas primeiras
formulagées: a descricgéo da produgao acucareira feita por Antonil, em 1711.
Ele produz uma anilise adequada ao objeto: uma economia colonial, que
deveria servir a objetivos externos aos interesses de seus agentes. Esta exclu-
sao de interesses tem sentido: a maioria dos agentes nao deveria aparecer co-
mo portadores de desejos préprios, a serem levados em consideracao. O que
se vai tentar mostrar em seguida a esta apresentacao é justamente o que fica-
va de fora deste modo de conceber: os interesses e comportamentos que eram
proprios ao espaco colonial brasileiro, entendidos, na definicgéo, como des-
providos de sentido.
Mas Antonil fez mais que excluir. Construiu a exclusio de uma manei-
ra bastante peculiar. O que entendemos hoje como interesse dos agentes apa-
rece em dois espacos distintos, separados pelos conceitos de ptiblico e priva-
do, que tinham um significado bem diferente do atual — mas também dife-
tiam do modelo da época, adaptando-o a situagao colonial, o que o tornava
proprio. Aparentemente, as definigées econémicas de Antonil seguiam 0 pa-
dro classico, ditado por Arist6teles. Para este, a parte privada da economia
enyolvia autoridade pessoal sobre agentes, enquanto a piiblica cuidava das
relagdes monetdrias — e era reservada a proprietarios. O pensamento de
Antonil apresenta algumas importantes diferencas sobre o modelo, que sao
mostradas em detalhe: na economia colonial, o aspecto publico seria bastante
diverso do modelo original. Nao envolve o controle politico pelos proprieté-
tios de terra.
Este modo de pensar, no qual muitos aspectos interiores da economia
colonial nao tém significado préprio, nao desapareceu com o mercanti
8 A Nagao Mercantilista
Depois de marcar os dirigentes coloniais, foi reinterpretado num momento
crucial. No século XIX, enquanto desaparecia no mundo em todas as suas
versées, foi atualizado no Brasil. Na virada para a Nagao, as idéias mercan-
tilistas foram apresentadas como base do futuro, € os principios iluministas,
que justificavam o capitalismo, como “aperfeigoamento” das velhas idéias.
Com tal aparato de pensamento, as elites coloniais montaram seu pro-
jeto nacional: excluir de representagao muitos interesses econdmicos do pré-
prio pais que surgia. Por isto, esta concepcao acabou sendo empregada como
fundamento para a organizaco politica do novo pais, com resultados desas-
trosos. A idéia de que apenas uma fracdo da sociedade deve ser objeto da
preocupacao do governante, enquanto os outros agentes devem “naturalmen-
te” ajustar sua situagao aos poucos interesses que este considerava, foi a crenca
forte da organizagao do sistema de poder no Império. A crenca que permitiu
a construgao do atraso.
O termo atraso introduz outra necessidade: a comparacao. Nao tem
sentido sem ela. Assim, ao longo de todo o livro surgirao varias compara-
cées surpreendentes, ao menos para a literatura usual. O cendrio destas com-
paracées é a América como um todo. Mesmo tendo espacos sujeitos as mes-
mas regras mercantilistas, um sistema de producao baseado na eliminagao
de indios e queima de escravos, 4 tentativa de se enriquecer as metropoles,
havia entre os varios espacos coloniais importantes diferengas de abordagem,
que levaram ao surgimento de novas concepgdes — que, por sua vez, permi-
tiram, no momento das independéncias, gerar politicas préprias de desenvol-
vimento. A medida do atraso ou adiantamento do Brasil ser dada por estas
comparacoes.
Com tal abordagem, aqui e ali se indagar4 sobre a forca no tempo deste
modo brasileiro de ver a economia, como instancia onde apenas uma parte
das atividades envolvidas na produciio é considerada relevante, enquanto a
maior parte delas é assunto “da natureza”. As indagacées nos levario a dois
caminhos. Em primeiro lugar, tentar entender como a parte “natural” se
organizava em torno da produgao de bens — era um pedaco do que hoje
conhecemos como economia, embora, pela definicio da época, contivesse
apenas relagGes pessoais. Mas também mostrar a sobrevivéncia do pensa-
mento coevo, com as idéias transformadas em conceitos explicativos atuais,
muitas vezes em textos insuspeitos de ligacdo com tal tipo de concepgao
arcaica. Veremos pensadores trabalhando com uma definicdo da economia
brasileira como dividida por um corte légico, numa homenagem inconscien-
te A tradico colonial — que se tornou a concep¢ao conservadora na época
do Império.
Introdugio 9
Por fim, o livro busca o que vai para além desta concepgao. Nao sé dela
viveu o pais, e nem foi totalmente condenado a sacrificar seu desenvolvimento
para manter alguns poucos privilegiados. Embora raramente dominantes,
havia idéias e concepcées alternativas — que merecem ser conhecidas. Ha-
via também desenvolvimento, mesmo na contramiao da politica econédmica
adotada pelos administradores coloniais ou dirigentes conservadores do Im-
pério, seu herdeiros diretos. Além de problemas, o Brasil teve possibilidades,
Elas sao, no fundo, a razao deste livro: o desenvolvimento brasileiro aconte-
ceu exatamente porque a politica retardadora deixava brechas, no mundo
“natural” da economia interior.
Para finalizar, algumas observacGes. Este texto é uma versao modifica-
da de uma tese de doutoramento defendida no Departamento de Ciéncia Po-
litica da Universidade de Sao Paulo. As modificagdes se devem a duas fon-
tes. Em primeiro lugar, as observagées da banca, formada por Eduardo Ku-
gelmas, meu orientador, ¢ os professores Gabriel Cohn, Sergio Goes de Paula,
Maria Lygia Prado e Antonio Penalves Rocha. Mas devem-se também a lei-
tura cuidadosa e sempre iluminadora de Claudio Marcondes, a quem nunca
serei suficientemente grato. Nos varios anos de pesquisa, foram muito im-
portantes as colaboragGes de Assahi Pereira Lima e Gabriela Nunes Ferreira.
Foi fundamental, além disso, o apoio permanente do Banco BBA Creditans-
talt a meus projetos; ele permitiu nao apenas a producio de outras obras, mas
acima de tudo a producao do autor. Embora este trabalho nao tenha sido
especificamente patrocinado pelo banco, s6 0 patrocinio a outros projetos 0
tornou possivel.
10 A Nagao Mercantilista
A NACAO
MERCANTILISTA
1
CANA: O OBJETO-SUJEITO
A obra Cultura e opuléncia do Brasil, de André Joao Antonil, percor-
reu um caminho tortuoso. A primeira edicao, publicada em 1711, teve vida
curta. Duas semanas depois de langado 0 livro, o Conselho Ultramarino emi-
tiu um parecer pedindo sua proibicdo, com o argumento de que “se deveria
recolher 0 livro e nao o permitir que se vendesse, convindo, também, que de
futuro fosse ouvido o mesmo Conselho acerca da impressfio de obras que tra-
tassem do assunto das conquistas, para que os particulares destas nao se re-
velassem as nagées estrangeiras”.!
O motivo da proibicao era a velha politica de sigilo dos portugueses,
cultivada com fervor desde os tempos do infante dom Henrique no século XV.
Nagao pequena, Portugal tinha motivos de sobra para temer a cobica de
poténcias estrangeiras, agucada pela grande noticia que entio corria o mun-
do. Uma década antes haviam sido descobertas minas de ouro riquissimas no
interior de Minas Gerais. No ano anterior a publicacao, como para confir-
mar ainda mais o temor lusitano, o corsdrio francés Charles Duclere tinha
atacado o Rio de Janeiro. Enquanto se deliberava a proibigao, o almirante
Duguay-Trouin, comandando outra esquadra, conseguia saquear a cidade.
Nesse clima, conviver com um livro que revelava o caminho das minas
¢ fazia comentarios sobre os precos locais ¢ a extracaio de ouro parecia um
risco excessivo. Quando se tratava de cultivar a ignorancia no Brasil e sobre_
o Brasil, o governo portugués nao titubeava. Quase todos os exemplares
impressos foram confiscados e queimados. Somente em 1800 seria feita uma
edigao parcial, abrangendo apenas o trecho referente ao acticar. E, em 1837,
jé independente o Brasil, arranjou-se para que a obra fosse publicada na in-
tegra. Do quase ostracismo foi ganhando félego, até tornar-se uma das fon-
tes mais citadas da literatura do periodo colonial. E dela este trecho:
Feita a escolha da melhor terra para a cana, roca-se, queima-
se ¢ alimpa-se, tirando-lhe tudo 0 que pode servir de embaraco, ¢
1 André Joao Antonil, Cultura e opuléncia do Brasil, Belo Horizonte/Sao Paulo: Itatiaia/
Editora da Universidade de Sao Paulo, 1982, p. 12.
Cana: 0 Sujeito-Objero 13
logo abre-se em regos, altos palmo e meio € largos dois, com seu
camalhZo no meio, para que nascendo, a cana nao se abafe; e nes-
tes regos ou se plantam os olhos em pé, ou se deitam as canas em
pedacos, trés ou quatro palmos compridos; e se for cana pequena,
deita-se também inteira, uma junto a outra, ponta com pé: cobre-
se com a terra moderadamente. E, depois de poucos dias, brotan-
do pelos olhos, comegam pouco a pouco a mostrar sua verdura a
flor da terra, pegando facilmente e crescendo mais, ou menos, con-
forme a qualidade da terra ¢ 0 favor ou contrariedade dos tempos.
Mas, se forem muito juntas, ou se na limpa Ihes chegarem muito a
terra, ndo poderao filhar, como é bem.
A planta da cana, nos lugares altos da Bahia, comega desde
as primeiras 4guas de fins de fevereiro ou nos princfpios de marco
ese continua até o fim de maio; e nas baixas e varzeas (que sio mais
frescas e imidas) planta-se também nos meses de julho e agosto, e
por alguns dias de setembro. Toda a cana que nao for seca ou vi-
ciada, nem de canudos muito pequenos, serve-se para plantar, De
ser a terra nova e forte, segue-se o crescer nela a cana muito vigo-
sa, e a esta chamam cana brava, a qual, a primeira e a segunda vez
que se corta, nao costuma fazer bom aguicar, por ser muito agua-
centa. Porém, dai por diante, depois de esbravejar a terra, ainda
que cresca extraordinariamente, é tao boa no rendimento como
formosa na aparéncia; e destas, as vezes se acham algumas altas se-
te, oito e nove palmos, e tao bem postas no canavial como os capi-
tdes nos exércitos.2
Esse trecho foi recortado por Alfredo Bosi, que o analisou da seguinte
maneira:
14
Os escravos so os pés e as m4os do senhor e esta figura re-
dutora Ihes tira a integridade de atores. Sio construgées verbais
passivas e impessoais para descrever o plantio da cana: a terra roga-
se (quem a roca?), queima-se (quem o faz?), alimpa-se (quem?). Que
a cana nao se abafe; que se plantem os olhos da cana em pé, ou se
deite em pedacos; deita-se também inteira, uma junto a outra, ponta
com pé; e cobre-se com terra moderadamente... Dird a gramatica
tradicional que em todos estes casos 0 sujeito €a terra ou a cana; €
2 Ibidem, p. 102.
A Nagao Mercantilista
aqui a razio formal do gramatico coincide com 0 economista da
era mercantil. © objeto exterior ganha foros de sujeito na lingua-
gem de Antonil. Ao mesmo tempo o agente real (o escravo que roca,
alimpa, abafa, deita, cobre...) omite-se por um jogo perverso de
perspectivas no qual a mercadoria é onipresente e todo-poderosa
ante
mesmo de chegar ao mercado.>
Assim, no texto de Antonil, onipresenca e onipoténcia estariam entre-
lagadas. Para o divino faltaria-lhe a onisciéncia, perdida justamente na de-
_sumanizaco implicita no ocultamento do sujeito. E, fino analista, Alfredo
Bosi desvenda a partir deste detalhe aquilo que, para muitos, é a marca posi-
tiva e distintiva de Antonil em relacao a outros observadores do Brasil colo-
nial: a objetividade.
Seria neutra esta objetividade? Nao, no fundo, mas sim, con-
siderando a.aparéncia “natural” que acaba assumindo toda a do-
agdo social. Ser objetivo signi
Iencia j4 consolidada havia século e meio, aceitar o fato de que os
| moradores de Sao Paulo utilizavam o braco indio conquistado a
forca em suas entradas pelo sertao, e que dispunham de poder bas-
tante para continuar a fazé-lo, como, na verdade, o fizeram. Ser
objetivo era pensar, naturalmente, do ponto de vista do senhor de
escravos no Nordeste ou do bandeirante no Sul. Essa perspectiva,
que nos sermées indignados de Vieira aparece tao sofrida e con-
traditéria, Antonil a assume tranqiiilamente, como puro espelho
que era de uma pratica estruturalmente colonial.
O livro nao vai além da racionalidade do guarda-livros de uma
empresa agro-exportadora. A arte contabil se diz, em lingua tos-
cana, raggioneria. Nao vai além das coisas e dos ntimeros, mas vai
até o fim e até o fundo, o que permite coeréncia na interpretacao
| do todo.
| Quando a utilidade a curto prazo se torna critério absoluto
de acao, os valores do “justo” e do “verdadeiro” caem rapidamente
na 6rbita dos cAlculos imediatos. E esta a razao inerente ao discurso
mercantil-colonial.*
cava, naquele contexto de vio-
3 Alfredo Bosi, Dialética da colonizagao. Sado Paulo: Compan!
165-6.
4 Ibidem, p. 158.
das Letras, 1992, pp.
Cana: 0 Sujeito-Objero 15
Humanista que é, Alfredo Bosi se estranha com a espécie de racionali-
zacao do mundo promovida pelo sacerdote, Reduzir sujeitos humanos a ob-
jetos naturais € uma operacao inaceitavel para sua consciéncia — e a criti-
ca desta operacao de desumanizacdo é feita a partir do sermao de Anténio
Vieira sobre os escravos no engenho (“A paixao de Cristo parte foi de noi-
te sem dormir, parte foi de dia sem descansar, ¢ tais so vossas noites e vossos
dias; Cristo despido, e vés despidos; Cristo em tudo maltratado, e vés mal-
tratados em tudo. Os ferros, as prisGes, os agoutes, as chagas, os nomes
afrontosos, de tudo isto se compée vossa imitagdo, que se for acompanha-
da de paciéncia, também terd merecimento de martirio [...] E que cousa ha
na confusao deste mundo mais semelhante ao Inferno que qualquer destes
vossos engenhos, e tanto mais, quanto de maior fabrica. Por isso foi tio bem
recebida aquela breve e discreta definicao de quem chamou a um engenho
de agiicar doce inferno. E verdadeiramente quem vir na obscuridade da noite
aquelas fornalhas tremendas perpetuamente ardentes: as labaredas saindo
aos borbotées de cada uma pelas duas bocas, ou ventas, por onde respiram
0 incéndio; os etfopes, ou ciclopes banhados em suor tio negros como ro-
bustos que subministram a dura e grossa matéria ao fogo, e os forcados com
que o revolvem e aticam; as caldeiras ou lagos ferventes com os cachées sem-
pre batidos e rebatidos, j4 vomitando escumas, exalando nuvens de vapo-
res mais de calor, que de fumo, e tornando-os a chover para outra vez os
exalar: o rufdo das rodas, das caldeiras, da gente toda da cor da mesma noite
trabalhando vivamente, e gemendo tudo ao mesmo tempo sem momento de
tréguas, nem de descanso. Quem vir enfim toda a mAquina e aparato con-
fuso e estrondoso daquela Babilénia nao podera duvidar, ainda que tenha
visto Etnas e Vesitvios, que é uma semelhanca do Inferno.”5) em que rea-
parece de maneira menos idilica a obra de fabricagao do acticar que, para
Antonil, é “natural”.
A relagio entre os dois textos é curiosa. O raggioniere Antonil se apro-
pria “naturalmente” dessas idéias de Vieira num outro trecho de sua obra,
no momento em que deixa o universo dos fatos contabeis para fazer litera-
tura a custa das imagens alheias, acrescentando-lhes no entanto a essencial
inversao de sujeito ¢ objeto; em vez do escravo, como no humanista Anténio
Vieira, sofre 0 acticar:
E reparo singular dos que contemplam as cousas naturais ver
que as que sao de maior proveito do género humano nao se redu-
5 Ibidem, pp. 173-4.
te A Nagao Mercantilista
zem & sua perfeigdo sem passar primeiro por notaveis apertos. [...]
E.nés muito mais o vemos na fabrica do agticar, 0 qual, desde o
primeiro instante de se plantar, até chegar as mesas € passar entre
os dentes a sepultar-se no estomago dos que o comem, levam uma
vida cheia de tais e tantos martirios que os que inventaram 0s tira-
nos nao Ihes ganham vantagem. Porque se a terra, obedecendo ao
império do Criador, deu liberalmente a cana para regalar com sua
dogura os paladares dos homens, estes, desejosos de multiplicar em
si deleites e gostos, inventaram contra a mesma cana, com seus
artificios, mais de cem instrumentos para multiplicarem tormen-
tos e penas. [...] Jé abocanhadas de varios animais, ja pisadas das
bestas, ja derrubadas do vento, ¢ ao fim, descabecadas e cortadas
com fouces. Saem do canavial amarradas: e, oh!, quantas vezes antes
de sair dai sio vendidas! Levam-se, assim presas, ou nos carros ou
nos barcos 4 vista das outras, filhas da mesma terra, como os réus,
que vio algemados para a cadeia, ou para o lugar de suplicio, pa-
decendo em si confusao e dando a muitos terror. Chegadas 4 moen-
da, com que forga e aperto, postas entre os eixos, sao obrigadas a
dar quanto tém de substancia? Com que desprezo se langam seus
corpos esmagados e despedagados ao mar? Com que impiedade se
queimam sem compaixao no bagaco? Arrasta-se pelas bicas quan-
to humor saiu de suas veias e quanta substancia tinham nos ossos;
trauteia-se e suspende-se na guinda, vai a ferver nas caldeiras, bor-
rifado (para maior pena) dos negros com decoada; feito quase lama
no cocho, passa a fartar as bestas e aos porcos, sai do parol es-
cumado e se Ihe imputa a bebedice dos borrachos. Quantas vezes
0 vao virando e agitando com escumadeiras medonhas? [...] Cres-
cem as bateduras nas témperas, multiplica-se a agitacdo com as
espatulas, deixa-se esfriar como um morto nas formas, leva-se para
a casa de purgar, sem terem contra ele um minimo indicio de cri-
me, e nela chora, furado e ferido a sua tio malograda docura. Aqui,
dao-lhe com o barro na cara; e, para maior ludibrio, até as escra-
vas lhe botam, sobre o barro sujo, as lavagens. Correm suas lagri-
mas por tantos rios quantas sio as bicas que as recebem; e tantas ”
so elas que bastam para encher tanques profundos. Oh, cruelda-
de nunca ouvida! As mesmas lagrimas do inocente se poem a fer-
ver ea bater de novo nas tachas, as mesmas lagrimas se estilam &
forga de fogo em alambique; e quanto mais chora sua sorte, entio
tornam a dar-lhe na cara com barro, e tornam as escravas a lan-
S percents argereqtubita
ad © Joneolito t~par fe
Cana: © Sujcito-Objeto *
17
car-lhes em rosto as lavagens. Sai desta sorte do purgatorio e do
cdrcere to alvo como inocente’.
Alfredo Bosi também usa um tanto de ret6rica para comentar a troca:
“Mas, ao contemplar o caldo de cana fervido, com que lastima 0 vé borrifa-
do coma decoada dos negros! Como deplora que sua escuma sirva de diver-
so aos escravos pingucos! Na hora da purga, ‘até as escravas lhe botam, so-
bre o barro sujo, as lavagens’ [...] Se a mercadoria tém inimigos, estes sio os
operdrios que desafogam nelas seus rancores...”” 7
E da retorica passa rapidamente a uma objetividade digna de Antonil:
“Sao as coisas a fazer e por vender que interessam a Antonil. O componente
fetichista da mente mercantil vem ao primeiro plano em sua mente mercan-
tile aparece quase em estado puro”. Esta recolocacao dos fatores Ihe pare-
ce suficiente para fazer encaminhar 0 texto até 0 final, restituindo ao leitor a
humanidade roubada aos escravos.
Alfredo Bosi nao fez pouco. Recortou o texto de Antonil, desvendou-
lhe o mecanismo gramatical de base, foi buscar 0 original autor de suas ima-
gens literdrias, mostrou a diferenga entre original e cépia, ligou tudo isso
realidade historica. Mas deixou ainda no ar uma possibilidade de indaga-
cdo. Reduzir sujeitos a objetos certamente nao € apenas um lapso gramati-
cal, uma inversdo condendvel. E também construir, no interior da estrutura
narrativa, um modelo ideal de relagdes de producao, buscar em termos es-
senciais 0 modo como devem funcionar as relagdes entre produtores. Que
Antonil leve a opera¢do ao ponto de desumanizar a maior parte deles espanta
ao espirito cristao; mas seria outra estrutura, radicalmente diversa, possivel
quando se aceita a divisao da sociedade entre senhores e escravos? O con-
tra-exemplo parece ser Anténio Vieira. Mas devemos considerar, em primei-
ro lugar, que o espelhismo imagético entre a condenacao moral e a “objeti-
vidade” é possivel apenas porque nem um nem outro pode conceber uma
situagdo em que a igualdade substantiva entre os agentes esteja presente —
a nao ser por um apelo A esfera celeste. Mesmo humanizados, os escravos,
na imagem de Antonio Vieira, s6 tém para sua salvagao a paciéncia para
imitar o Cristo — e esto condenados ao inferno nas fornalhas do engenho.
Sua humanidade aparece como transcendent, nao como possibilidade real.
© André Joao Antonil, op. cit., pp. 143-4.
7 Alfredo Bosi, op. cit., p. 174-
* Ibidem, p. 174.
a A Nagio Mercantilista
ee ceeeaen neta en eines ester
Por outro lado, em Antonil, a cana esconde, retoricamente, a separacao dos
homens na sociedade que Vieira mostra. O que é produ¢do humana apare-
ce como “reparo singular dos que contemplam as cousas naturais” — e por
isso pode ver os escravos como a parte ruim da natureza, que atenta contra
a limpeza da cana, que se transforma em aclicar — essa sim a parte huma-
nizada da producao.
Sao dois modos, fundamentalmente diversos, de ver uma impossibilida-
de. Para Anténio Vieira, hd uma sociedade injusta, que ele nao sabe como
consertar. Antonil nao se preocupa com tanto. As coisas so como sao € nao
por obra de qualquer agente humano; podem ser vistas tal como uma paisa-
gem, tocam 0 narrador tanto quanto um burro de carga. Como nao se mis-
_tura com o que observa, contemplar é a operacdo-chave de Antonil. Para que
al confortavel visdio seja possivel, a producao tem de ser pensada como c6-
“pia da natureza, que opera seus milagres sem agentes visiveis. Os sujeitos
“ocultos que propiciam a observagio contemplativa e objetiva sdo resultado
“de uma operacio que separa radicalmente o social do natural, o observador
‘doo objeto. Tal corte coloca_.o escravo num mundo que nada tem em comum
com o do observador — um mundo destituido de subjetividade e cujos ge-
‘midos ¢ queixas so problema apenas para a qualidade da mercadoria que
se produz. O escravo é equiparado as bestas que pisam a cana, aos ventos
que a derrubam, as foices que a cortam: nao passam de instrumentos para a
construgao do deleite de boca alheia. Ao proceder a essa separacdo, a con-
templagao, operacdo aparentemente passiva do olhar, torna-se ativo meca-
nismo divisor das partes da sociedade necessdrias para se chegar ao todo
mercantil, E tal ago nao aparece, pois esta tao oculta como 0 sujeito gra-
matical. Oculta-se com o sujeito a necessidade de justificar uma divisao so-
cial que a descrig&o dos escravos como “cousas naturais” nao exige. Para
entendermos o mecanismo implicito em Antonil, portanto, precisaremos re-
correr a uma verso menos eufemistica dessa separagdo entre homens:
\O # ‘Assim, of instrumentos sao os bens para assegurar a vida, a
jo escravo € um bem
-vivo,le cada auxiliar é um instrumento que aciona outros instru-
mentos, Na verdade, se cada instrumento pudesse executar sua
missdo obedecendo a ordens, ou percebendo antecipadamente o que
Ihe cumpre fazer, como se diz das estdtuas de Daidalos ou dos tri-
podes de Hefaistos que, como fala o poeta, “entram como auté-
matos nas reunides dos deuses”, se, entao, as langadeiras tecessem.
e as palhetas tocassem citaras por si mesmas, os construtores nao
Cana: 0 Sujeito-Objeto 19
teriam necessidade de auxiliares ¢ os senhores nao teriam necessi-
50
dade de escravos”.
© engenho descrito por Antonil fabrica seu acticar como o autémato
desprezado como hipétese explicativa por Arist6teles. Em seu funcionamen-
to, 0 escravo nao aparece como necessidade humana do senhor, mas como
“parte da natureza. Nesse ponto, Aristételes vai mais além na consciéncia, A
produg4o automitica, para ele, é quimera, ideal — mas um ideal nada qui-
mérico para o contabilista mercantil. Ocultando o sujeito, este dispensa-se
de mostrar que, embora auxiliar para acionar instrumentos, 0 escravo é um
auxiliar necessario, Escravos so instrumentos que, para Aristételes, tém es-
pecificidade, nao se confundem com a natureza:
Os instrumentos mencionados sao instrumentos de produgao,
ao passo que os bens sao um instrumento de ago; com efeito, de
uma lancadeira obtemos algo mais que seu simples uso, mas uma
roupa ou um leito so apenas usados. Como existe uma diferenga
especifica entre produgao e aco, ¢ ambas requerem instrumentos,
resulta que tais instrumentos devem apresentar a mesma diferen-
ca. Mas a vida é aco, e nao producio, e portanto 0 escravo é um
auxiliar em relagao aos instrumentos de acao. Falamos em “bens”
no sentido de “partes”; uma parte ndo é somente parte de outra,
mas pertence totalmente 4 outra, e acontece o mesmo com os bens;
logo, o senhor é unicamente 0 senhor do escravo, ¢ nao Ihe per-
tence, enquanto 0 escravo é nao somente o escravo do senhor, mas
Ihe pertence inteiramente.!°
Escravos pressupdem um senhor, uma relagao de diferenea e posse. Res-
pondem a necessidades humanas, nao da natureza. Mais ainda, respondem
A necessidade de alguns humanos. Diferenciam-se destes por serem partes, que
Seus proprietarios tém totalmente. Sao bens auxiliares de instrumentos, ex-
tenses vivas de instrumentos de producdo. Sao também extensdes necessa-
rias para aumento dos bens e conforto dos que os possuem, Assim, falar de
uma sociedade com escravos significa necessariamente falar de um conjunto
formado por individuos com papéis de natureza diferente — e nas diferen-
gas esta o essencial:
® Aristoteles, Politica. Brasilia: Editora da Universidade de Brasilia, 1997, p. 18.
1 Ibidem, p. 18.
a A Nagio Mercantilista
/
i
q
Todos os homens que diferem entre si para pior no mesmo grau
em que a alma difere do corpo ¢ o ser humano difere de um animal
inferior (e esta a condigao daqueles cuja fungao é usarem o corpo
e que nada melhor podem fazer) sao naturalmente escravos, € para
eles é melhor ser sujeitos a autoridade de um senhor, tanto quanto
0 € para os seres j4 mencionados. E um escravo por natureza quem
é susceptivel de pertencer a outrem (e por isso é de outrem), e par-
ticipa da razdo somente até o ponto de apreender esta participacao,
mas no a usa além deste ponto (os outros animais nao sao capazes
sequer desta apreensio, obedecendo somente seus instintos).!!
Com este apelo a Aristételes podemos tentar ir além, restabelecer certas
distingdes borradas no texto de Antonil e nao reveladas ainda pela andlise
posterior de Alfredo Bosi. Embora para Aristételes a escraviddo tenha uma
origem natural, nao se pode confundir 0 escravo com os animais nem com os
objetos — nem a produgao com a natureza, Distingue o escravo dos objetos
naturais a capacidade de entender que ocupa uma fungao especifica — e a
apreensio de sua condi¢ao de dominado seria 0 ato mais elevado de sua alma
racional. E distingue a produgao da agao a finalidade dos bens: producio serve
para aumentar a riqueza, nao para imitar a natureza. E 0 entendimento do
aumento da riqueza nao pode ser feito apenas a partir da relagao entre o senhor
eseu escravo. E preciso ainda passar por um todo que os contém e que formaria
uma unidade mais complexa, a familia: “A familia, em sua forma perfeita, €
composta de escravos e pessoas livres. Tudo deve ser investigado primeiro em
seus elementos mais simples, ¢ os elementos primérios e mais simples de uma
familia sio o senhor e 0 escravo, o marido e a mulher, o pai ¢ os filhos”.!2
Essa unidade contém outras relagdes necessarias além da que liga o se-
nhor a seu escravo. Nela, a fungao do chefe é complexa. E ao mesmo tempo
senhor de seus escravos, comandante democratico de sua mulher e rei de seus
filhos —e todas essas relages completam apenas 0 que, imprecisamente, po-
deriamos chamar de “esfera privada” de seu poder, Como encarregado de
aumentar a riqueza da familia, o proprietario cumpre uma dupla fungao, parte
Tia esfera privada, parte na esfera ptiblica. A primeira, como administrador
“doméstico, na medida em que proporciona “as coisas possiveis de acumulacao
necessdrias 4 vida ¢ titeis 4 comunidade composta pela familia”.!3 Ao fazer
1 Tbidem, p. 19.
12 Ibidem, p. 17.
33 Ibidem, p. 25.
Cana: 0 Sujeito-Objeto 21
isto, o proprietario pratica a arte da aquisigao, com a qual se obtém valores
s. Para Aristételes, essa arte é natural, mas nao
de uso para usufruto de tod
a tnica praticada pelo proprietério. Este cuidaria também da arte de enti-
quecer, uma modalidade artificial da arte da aquisigéo, dependente da troca
comercial:
A arte natural de enriquecer pertence 4 economia doméstica,
enquanto a outra pertence ao comércio, gerando riqueza nao de
qualquer maneira, mas pelo sistema de permuta de produtos. Esta
arte de enriquecer parece relacionada com o dinheiro, pois o dinhei-
ro € 0 primeiro elemento ¢ 0 limite do comércio. A riqueza deriva-
da desta arte de enriquecer ¢ ilimitada, pois da mesma forma como
a arte da medicina é ilimitada quanto a busca de satide, e cada arte
é ilimitada quanto a sua finalidade (elas querem atingir suas fina-
lidades maior ntimero possivel de vezes, enquanto elas nao sao li-
mitadas relativamente aos meios para atingir seus fins), esta arte
de enriquecer nao tem limites quanto ao seu fim, e seu fim é a ri-
queza e a aquisicao de produtos no sentido comercial.14
A permuta e 0 dinheiro sao os elementos que caracterizam a passagem
da economia doméstica para a economia politica, da esfera privada para a
esfera ptiblica, da autoridade familiar para 0 controle do Estado. Mais ain-
da, 0 controle do Estado pelos proprietarios é condi¢ao absolutamente ne-
cessaria para a estruturacdo da sociedade. Essa necessidade resulta da dife-
ren¢a entre as modalidades “natural” e “artificial” da arte de aquisigao —
de um lado a limitagao dos bens uteis, de outro a possibilidade infinita do
comércio. Sem uma barreira para o crescimento infinito da riqueza comercial,
esta acabaria predominando sobre a fortuna doméstica, a fortuna dos senhores
—e seu poder sobre 0 Estado. Dafa imposicao de um freio social aos indivi-
duos ligados a permuta, nao lhes sendo permitido exercer 0 governo do Es-
tado. O equilibrio s6 seria possivel com 0 monopélio do poder na esfera
ptiblica pelos proprictarios de terra, com a exclusdo completa dos comercian-
tes. A essa exclusdio corresponde o tratamento do comércio como arte infe-
rior e desabonadora. Como diz Aristételes, “somente a teoria” (e nao deve-
mos nos esquecer de que a teoria é fruto da inteligéncia, comandante da acao)
“de tais matérias deve ser um tema digno dos homens livres, e seu lado pra-
tico seja considerado desabonador, condizente apenas com pessoas de con-
14 Ibidem, pp. 26-7.
a) A Nagao Mercantilista
digao inferior”.!5 Como essa condenagao da pratica comercial era uma ca-
racteristica essencial da sociedade escravista antiga, o afastamento em rela-
cao a ela era a condi¢ao basica para a participagao na vida politica. Por isso
Aristoteles define os sujeitos politicos como pessoas “incapazes para as ati-
vidades servis mas aptas para a vida de cidadaos”.1° Embora essenciais para
a sociedade, os comerciantes nao deveriam ter acesso as decisées do Estado.
Também nesse ponto Antonil destoa de Aristételes. Na esfera privada
estd quase tudo que descreve: toda a produgao que ainda nao circulou, nao
foi vendida, nao se tornou mercadoria. O jesuita amplia essa esfera em dois
sentidos, se comparado a Aristételes. Tanto quanto empurra 0 escravo para
a natureza, praticamente deixa de fora o agticar vendido. O percurso entre a
terra e o acticar é apenas 0 trecho sob controle do senhor, uma pequena par-
te da trajet6ria da mercadoria. O restante é apenas indicado no tiltimo para-
grafo do texto: “Sempre doce e vencedor das amarguras [o aguicar] vai dar
gosto ao paladar de seus inimigos nos banquetes, satide nas mesinhas dos
enfermos e grandes lucros aos senhores de engenho ¢ aos lavradores que 0
perseguiram e os mercadores que o compraram e o levaram degradado nos
portos e muito maiores emolumentos 4 Fazenda Real nas alfandegas”.
Enquanto o inferno da producao esta proximo, a boca adocada esta
muito longe — e s6 parte do produto, e do poder sobre o destino da produ-
40, fica com o senhor dos lavradores. A operagao no esta sob 0 comando
do senhor, mas do rei e dos consumidores distantes. Tanto quanto o escra-
vo, o senhor também aparece borrado no texto de Antonil. Nele, além da
naturalizagao da produgio do escravo, existe também uma definicgdo menos
precisa do papel do senhor como figura publica. Cobre de honrarias os se-
nhores, sem diivida. Abre seu livro com a frase famosa: “O ser senhor de
engenho é titulo a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido,
obedecido e respeitado de muitos. E se for, qual deve ser, homem de cabedal
¢ governo, bem se pode estimar no Brasil o ser senhor de engenho, quanto
proporcionalmente se estimam os titulos entre os fidalgos no Reino”.!§ Mas
ja ai ha distingdes curiosas. Conquanto servicos, obediéncia e respeito (as
prerrogativas “privadas” do senhor, em Aristételes) sio atributos certos, ser
“homem de governo” € apenas uma possibilidade. Claramente, as duas coi-
sas nao sio sinénimas, embora possa haver superposicao. Em outras pala-
15 Ibidem, p. 29.
16 Ibidem, p. 19.
17 André Joao Antonil, op. cit., p. 145.
18 Ibidem, p. 75.
Cana: 0 Sujeito-Objeto 23
yras, o senhor do escravo que produz como a natureza nio traz as marcas
essenciais que distinguem seu poder na esfera piblica, como pensada pelo gre-
io dos cargos no governo nem 0 con-
go: nao possui o monopélio do exerc
trole sobre 0 comércio da mercadoria que produz.
Aqui hé um problema importante, pois a reserva total desse papel pi-
blico aos proprietdrios é imperiosa no modelo de sociedade baseada na es-
cravidao da Antigitidade. Como definiu J. Bodin ao analisar o modelo aris-
totélico, “o proprietario, como chefe da familia, é a verdadeira origem do
Estado e constituiu sua parte fundamental”.!? J4 o senhor de engenho de
Antonil é apenas dono de um passe possivel para a influéncia sobre o gover-
no local. Também elidida na gramatica, aparece uma pista do que o impedi-
ria de ser senhor também na vida publica: os fidalgos do Reino, estes sim do-
nos de um passe seguro. Portanto, a sociedade escravista que Antonil descreve
est4 muito distante da grega. Dai que 0 olho do raggioniere, embora tribu-
tando seu respeito pelos senhores, também possa, de certa forma, descrevé-
los com certa objetividade. Para o olhar de Antonil, 0 senhor é senhor da esfera
piblica, dono dos destinos do dinheiro, de um modo muito mais limitado que
para Aristételes. Nao controla os destinos da produgio, nao domina as re-
gras que se impoem fora de seus dominios privados. Daf porque 0 sujeito do
texto seja a mercadoria: a produc&o colonial existe para outro, nao tem sen-
tido em si mesma, nao pode estar sob controle local.
Este 0 motivo da modelar objetividade de Antonil: seu modo de ver é
adequado a uma realidade. E 0 modo de ver do colonizador, do verdadeiro
organizador da produgao local. Para ele, antes de tudo, importa extrair a
mercadoria. E também um modo de ver que revela onde se deveriam concen-
trar as atengGes, e onde elas nao eram necessarias. Na falta de necessidade
de maior atengdo, dado o seu carater natural, ficam de fora certas aces fun-
damentais para organizar a “familia” senhorial: onde obter escravos? De onde
véma lenha e 0 gado? Como surgem os muitos funcionarios livres? Eles exis-
tem, mas nao como problema para o organizador da produgdo. Da mesma
forma, fica de lado um outro conjunto: o senhor produz para vender. Por que
entao nao tem poder sobre a mercadoria que produz? Cada um desses con-
juntos de situacdes vistas como naturais precisa ser esmiugado. Comecemos
pela ordem da produgao.
9 In Norberto Bobbio e Michelangelo Bovero, Sociedade e Estado na filosofia politi-
ca moderna. Sao Paulo: Brasiliense, 1996, p. 42.
ie A Nagao Mercantilista
2.
SUBJETIVIDADE DOS NUMEROS.
No dia 1° de maio de 1589, a Camara Municipal de Sao Paulo enviou
uma carta ao governador-geral da Col6nia, pedindo ajuda para as obras de
construgio da Sé local. Para justificar o pedido, advertia que “passava a vila
de 150 homens e ia em aumento”.! Na situac4o, seria compreensivel que as
autoridades incorressem em exageros, como forma de tornar mais importante
a vila, Mas, a julgar por uma estimativa populacional feita posteriormente,
os edis paulistanos foram, na verdade, bastante modestos. Para 0 mesmo
perfodo, Machado de Oliveira computava de outra forma a populacao da
cidade, Calculava-a nao em “moradores” mas em “civilizados”, o que ele-
varia seus habitantes a 2.500.2 Pelas raras descriges de viajantes do perio-
do, talvez esse mimero parecesse excessivo. Aqueles que percorreram as ruas
da cidade de Sao Paulo, ainda cercada por muros de taipa contra ataques
indios, descreviam invariavelmente uma cidade vazia. Uma impressio que a
consulta as atas da Camara poderia reforcar. Volta e meia justificam-se va-
zios nas reunides, as vezes de longa duracao. Os dirigentes locais, por exem-
plo, passaram cinco meses sem se reunir, entre 1° de agosto de 1590 ¢ 1° de
janeiro do ano seguinte. Quando enfim houve quérum, o grupo achou por
bem assentar os motivos do intervalo “por serem todos idos & guerra com 0
senhor capitio e nao haver oportunidade para isto nem gente na terra”.3
Mas, se nos dispuséssemos a acompanhar os que estavam fora, com cer-
teza encontrariamos mais movimento e gente nao contabilizada pelo segun-
do critério — o suficiente para constatar a modéstia do célculo dos tais “ci-
vilizados”. Mesmo os mais ricos habitantes de Sao Paulo passavam quase a
totalidade do tempo em suas “fazendas”, se € que podemos empregar a ¢:
pressdo atual para as propriedades da época, que eram de variada espécie.
Nas proximidades da vila, uma miriade de aldeias indigenas organizava-se
1 Affonso de E, Taunay, S. Paulo nos primeiros anos (1554-1601). Sao Paulo: E. Ar-
roult ¢ Cia., 1920, p. 47.
2 Ibidem, p. 47.
3 Affonso de E. Taunay, S. Paulo no século XVI. Sio Paulo: E. Arroult e Cia., 1921,
p. 128.
Subjetividade dos Numeros 25
‘em torno de construgées de todo tipo: casas de colonos, igrejas de padres
jesuitas, Também havia aldeamentos de indios livres: Pinheiros, Ibirapuera,
Barueri, Paraiba, Si0 Miguel, Santo André, M’boi, Freguesia do © eram
apenas alguns dos locais onde se podiam encontrar tal movimento. Somente
numa das aldeias, nas terras de um Manuel Preto, viviam, segundo os cronis-
tas da época, mil indios. O ntimero total dos habitantes desses conjuntos va-
riava bastante de acordo com os azares da atividade descrita como “guerra”
pelos vereadores.
A faina mais conspicua do vilarejo era a de reunir os indios das aldeias-
fazenda com 0 objetivo de buscar mais indios no interior do pais. Quando tais
incursGes eram bem-sucedidas, a populagao aumentava de maneira significa~
tiva. Em 1628, depois dos ataques dos paulistas as miss6es jesuitas do Guai-
14, no atual territério do Parana, foram levados para a cidade dezenas de mi-
Ihares de guaranis — o que propiciou outra espécie de calculo populacional:
Desta forma, milhares de cativos guarani foram introduzidos
em So Paulo, sendo ainda um nimero muito menor negociado com
outras capitanias. [...] Com base em trés relatos independentes pa-
rece razoavel reduzir, com alguma seguranca, este total. O padre
Antonio Ruiz de Montoya afirmou que os paulistas haviam des-
truido onze missées, cada qual com uma populagao de trés a cin-
co mil almas, o que significava o apresamento de 33 mil a 55 mil
cativos, caso todos tivessem sido escravizados. Jé Manuel Juan
Morales, um negociante espanhol, apontou a destruic¢ao de cator-
ze redugdes com uma populacio conjunta de 40 mil habitantes, dos
quais 30 mil haviam sido reduzidos ao cativeiro. Finalmente o padre
Lourengo de Mendonga, do Rio de Janeiro, ao citar uma certidao
passada por jesuitas espanhdis, relatou que catorze missdes, com
mil ou duas mil familias cada, haviam cafdo nas maos dos paulis-
tas, o que somaria 60 mil guarani introduzidos em Sao Paulo [...].
Tais estimativas nao devem fugir muito 4 realidade.4
Temos assim, em épocas bastante proximas, trés contagens radicalmente
diferentes da populagao da cidade. A monumental discrepdncia entre os 150
moradores € os possiveis 40 a 60 mil guaranis capturados (e deve-se levar em
conta que, para capturd-los e manté-los em cativeiro, foi necessario organi-
4 John Manuel Monteiro, Negros da terra: indios e bandeirantes nas origens de Sao
Paulo. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 74.
26 ' A Nagao Mercantilista
zar grupos em armas) indica a distancia que vai de uma pequena aldeia es-
quecida a uma das cidades de maior populagao do continente no inicio do
século XVIL O que essa discrepancia revela, evidentemente, é que ha impor-
tantes diferencas naquilo que se consideram seres humanos e membros da
sociedade — fonte do monumental divércio de resultados na contagem.
Trata-se, na verdade, de trés modos distintos de contar, trés concepcdes
distintas sobre os que viviam na cidade. Se o critério da época fosse o atual,
provavelmente teriamos de trabalhar com nimeros na casa dos indicados por
John Monteiro, a das dezenas de milhar. Mas, ao fazermos isso sem mais,
perderfamos a oportunidade de nos indagar 0 porqué da diferenga — e da
necessidade de refazer contas a posteriori. Das trés contagens, apenas a pri-
meira foi realizada de acordo com os critérios da época. Nela se reflete a
maneira como a autoridade local avaliava nao as pessoas que ali viviam, mas
aquelas que tinham a qualidade de “morador”. Essa expresso era, na épo-
ca, sindnimo de “homens bons”, isto é, pessoas de maior destaque, que ti-
nham o direito de votar e serem votados para os cargos piiblicos. Estes faziam
parte da “sociedade” — e ainda por muito tempo houve quem considerasse
ocritério de entrada nesse circulo frouxo demais, como acontece numa defi-
nigdo de “homens bons” feita no inicio do século XX, pela qual a expressao
definiria um grupo formado pelos “individuos mais respons4veis da vila, isto
é aqueles que ja tinham exercido governanca, que os corregedores e juizes
qualificavam em cadernos; nesta qualificagdo tornavam-se os juizes muito
liberais, tanto assim que so deixavam de ser homens bons os operdrios, os
mecinicos, os degredados, os judeus e os estrangeiros”.5
Nao deixa de ser chocante essa tentativa, feita no inicio do século XX,
de justificar o “liberalismo” da época, num momento em que a vida de Sao
Paulo nos primeiros séculos era recriada por um grupo de paulistas enrique-
cidos pelo café para gerar imagens épicas de bandeirantes, heréis da Repti-
blica da qual eles eram os senhores. A sensacio atual de estigmatizacao é
inevitdvel, mas indispensavel para fazer a passagem dos “homens bons” aos
possiveis 2.500 “civilizados”. Esse segundo modo de contar jé opera de
modo diverso daquele empregado na época. Para qualificar os que ficam de
fora, o autor emprega um processo argutamente descrito por Laura de Mello
e Souza: “Desclassificado social € uma expressao bastante definida. Remete,
obrigatoriamente, ao conceito de classificacdo, deixando claro que, se existe
uma ordem classificadora, o seu reverso é a desclassificacao. Em outras pala-
5 Joao Mendes Jr., Monographia, extraido de Affonso de E. Taunay, S. Paulo nos pri-
meiros anos (1554-1601), p. 21.
Subjetividade dos Nuimeros 27
ras, uns sio bem classificados porque outros nao o sao, ¢ 0 desclassificado
56 existe enquanto existe o classificado social, partes antag6nicas e comple-
mentares do mesmo todo”.®
Por esse processo de classificagao incluem-se os desclassificados, mas
ainda no os indios. A esse modo de contar cortesponde uma outra visio do
que seria a sociedade da época, Nela estariam nao apenas os moradores, mas
também os possuidores de “imperfeigdes” para 0 exercicio dos cargos publi-
cos — ficando o resto de fora da contagem e da sociedade. Aqui jé se trata
de hierarquizar a sociedade da época: divide-se de uma forma que inclui al-
guns, mas que ainda deixa de fora os “nao-civilizados”, Na hierarquia cons-
truida sao excluidos os indios, assim como ficam de fora os escravos no tex-
to de Antonil. E nesse caso a operagao tem uma nuance a mais. Ao contrdrio
do escravo negro, cuja posse era sempre assegurada pela legislagdo da épo-
ca, a postura da autoridade com relagao aos indigenas era outra, fruto de uma
discussao religiosa e civil: nem todos eram considerados escravos.
A tortuosa busca de um lugar institucional para os indios na sociedade
colonial comecara em 1537, com uma bula do papa Paulo III na qual este
declarava que os indios eram seres inocentes e dotados de alma. Cada um dos
termos tinha importancia. Ser inocente significava nao ter sofrido a danacao
do pecado original; a categoria os diferenciava do pagao, adorador consciente
de outros deuses e passivel de ser escravizado. O fato de terem alma os quali-
ficava para, devidamente instruidos em sua inocéncia, ingressarem no rebanho
cristo como homens livres. No Portugal cat6lico, que tinha em Roma a princi-
pal linha de apoio e defesa de suas incurs6es maritimas, uma determinagao
como esta deveria ser seriamente considerada. Mas que usualmente foi con-
siderada nao como valor absoluto, porém relativo ao apoio aos “civiliza-
dores”. Assim foi que, no momento em que decidiu assumir o controle dire-
to das terras brasileiras, o rei d. Manuel ordenou ao governador-geral Tomé
de Sousa que, uma vez na Bahia, tratasse com docura “os gentios da dita baia
que nao consentiram nem foram em levantamento, antes estiveram sempre
de paz e esto ora em companhia de cristiios e os ajudam e que assim esto
de paz, como todas as outras nagées da costa do Brasil”.” Mas, enquanto um
olho fitava Roma, o outro media a terra; daf a frase seguinte, em que igual-
Laura de Mello e Souza, Desclassificados do ouro: a pobreza mineira no século XVIIL.
Rio de Janeiro: Graal, 1986, pp. 13-4.
7 Citado por Jorge Caldera, Flavio de Carvalho, Claudio Marcondes e Sergio Goes de
Paula, “Regimento de Tomé de Souza”, in Viagem pela hist6ria do Brasil. Sio Paulo. Com-
panhia das Letras, 1997, CD-ROM.
3 A Nagao Mercantilista
mente ordenava ao governador-geral “dar castigo aos que primeiro fizeram
os ditos danos pelo que cumpre muito a servico de Deus € meu os que assim
se levantarem e fizerem guerra serem castigados com muito rigor, portanto
vos mando que como chegardes a dita bafa vos informeis de quais sao os
gentios que mantiveram paz e os favorecais de maneira que sendo-vos neces-
sdria sua ajuda a tenhais certa”.’ Segundo Rodrigo Octavio, essas determi-
nagées em duas direc6es seriam um marco: “Com este regulamento, cujos ter
mos se chocavam, teve inicio esta legislaco profusa, imprecisa, contradit6-
ria, que foi gerada na Metrépole sobre a condigao do indio no Brasil”.?
Contraditoria era a prépria expectativa em relacao ao indio. Este era o
Unico elemento entao disponivel para ajudar 0 colonizador como agricultor,
pescador, guia, conhecedor da natureza tropical — em suma, como aliado
na ocupacio do territério. Para tudo isto, deveria ser tratado como gente, ter
reconhecida sua inocéncia e alma na medida do possivel. No entanto, logo
ficou claro para os colonizadores que o assentimento dos indigenas a esse papel
nao era nada certo, e que seria prudente preparar-se para alternativas menos
trangiiilas. A pratica mostrou para que lado da balanga as coisas penderiam:
a razzia de tribos inimigas na Bahia, agravada por uma peste de varfola em
1563, dizimou a maior parte dos indios que se haviam aliado aos portugue-
ses e provocou uma fuga em massa para os sertées. A situacdo na Bahia tor-
nou-se critica, obrigando a medidas régias mais explicitas. Em 1570, 0 rei d.
Sebastido promulgou a primeira lei proibindo a escravizacao de indios, ano
ser em caso de guerras justas contra tribos hostis, devidamente autorizadas
pelos governantes. Mas, numa terra t4o extensa e tao pouco povoada, nao
demorou a tornar-se dbvia a necessidade de descentralizar as autorizagdes
legais. Estas passaram ento a ser dadas pelas proprias camaras municipais,
constituidas pelos proprios “homens bons” que tanto precisavam de indios
para suas terras. Com isso, a liberdade garantida em lei tornou-se muito re-
lativa na pratica. Para remediar a situacdo, promulgou-se um novo alvara,
em 1587, no qual se garantia, além do direito dos indios a liberdade, uma
remuneracio pelos trabalhos que fizessem. E, em 1596, outro alvard real
reafirmou 0 principio da liberdade.
Esse esforco legiferante nao se devia apenas a bons principios. Muito
cedo, a tentativa de definir um lugar legal para os indigenas, separando-os
em dois grupos principais (aliados que se tornariam homens livres e inimi-
8 Ibidem.
9 Citado por Pasquale Petrone, Aldeamentos paulistas. Sao Paulo: Editora da Univer-
sidade de S40 Paulo, 1995, p. 69.
Subjetividade dos Niimeros 29
gos escravizdveis), refletiu uma disputa interna na Colénia. A discussao rel.
giosa e juridica em torno dos limites da liberdade se confundiu com uma dis.
puta entre jesuitas e colonos para saber quem tinha o poder de executar a
separacao entre aliados e inimigos e controlar as relagdes com os aliados, Essa
questio de fundo dos primeiros séculos da ocupagao produziu argumentos ¢
vis6es de mundo poderosas. Os padres, sobretudo os jesuitas, apresentavam-
se como defensores da liberdade, enfrentando a cobica desenfreada de colo-
nos que se guiavam apenas por sua avidez. Ecos dessa maneira de ver o mundo
podem ser encontrados mesmo em textos atuais:
Muitas leis feitas em Lisboa, ou bulas emanadas de Roma, co-
mo a do papa Urbano VII, em 1639, tentaram assegurar a liberda-
de dos indios. Mas sua aplicacao pratica nas varias capitanias foi qua-
se nula. Os missiondrios apelavam com freqiiéncia para o rei, mas
os interesses privados representados pelos colonos acabavam quase
sempre prevalecendo, ou seja, a iniciativa privada (pernambucana,
baiana, vicentina, maranhense etc.) falava mais forte que a legisla-
do, as vezes generosa, confeccionada do outro lado do Atlantico.!2
No entanto, uma andlise mais cuidadosa revela que a concepcio jesuitica
de liberdade indigena era bastante diversa do que entendemos por liberda-
de: nada préximo, por exemplo, de um minimo de autodeterminagio ou de
possibilidade de optar livremente por crengas ou modo de vida podia ser
encontrado nela. Na vertente mais dura— como por exemplo, a de um Ma-
nuel da Nobrega —, a liberdade confundia-se pura e simplesmente com a
subordinacao; para ele, o gentio deveria ser “sujeito e metido no jugo da
obediéncia dos cristaos, para neles se poder imprimir tudo quanto quisésse-
mos, porque ele é de qualidade que domado se escrevera em seus sentimen-
tos a fé”.!! A necessidade do jugo como pré-condi¢ao para a liberdade im-
plicava um tratamento que nao era bem 0 da coexisténcia pacifica: “De modo
geral os jesuitas concentravam sua estratégia em trés dreas de acdo: a con-
verso dos ‘principais’, a doutrinacao dos jovens ea eliminacao dos pajés”.'2
Em suma, 0 objetivo dos padres era cooptar o poder “politico”, controlar a
educacao e eliminar os concorrentes no ambito da fé.
1 Victor Leonardi, Entre drvores e esquecimentos — Historia social nos sertoes do
Brasil. Brasilia: Paralelo 15/Editora da Universidade de Brasilia, 1996, p. 120,
11 John Manuel Monteiro, op. cit., p. 41.
1 Ibidem, p. 47.
i A Nagio Mercantilista
Na pratica, converter 0s indios em homens livres, para os jesuitas, era
leva-los para 0 aldeamento ao lado de uma igreja. O primeiro passo para
isso jd implicava a transferéncia consensual ou compulséria do local de
moradia. Em vez da tradicional vida errante, 0 indio deveria ser fixado em
uma existéncia sedentaria. No lugar da oca, residéncia do grupo consan-
giiineo, deveria viver em casas unifamiliares, ou mais precisamente formar
uma familia nos moldes ocidentais; para isso, era preciso que abandonasse
os costumes poligamicos ¢ aceitasse uma nova forma de unido, a estrita
monogamia crist4. Como no aldeamento se misturavam indios de varias
tribos, em muitos casos suas diversas linguas tinham de ser abandonadas €
substituidas pelo nheengatu, a lingua geral tupi adotada pelos padres. As
festas e costumes tradicionais, que reforgavam o sentido mitico de uniao do
grupo, dariam lugar a missas e procissGes. Até mesmo o trabalho exigia se-
veras adaptacées. Na maioria das tribos, cabia ao homem abrir a mata e,
as mulheres, manter as rocas coletivas; nos aldeamentos jesuiticos, o homem
deveria realizar 0 trabalho que sempre coubera 4 mulher e esquecer suas
fungdes de guerreiro, o que nem sempre deveria ser facil — como nao deve-
ria ser facil para as mulheres perder um dos papéis que Ihes davam impor-
tdncia na vida do grupo. Feitos esses “ajustes” estaria garantida a liberda-
de dos indios, que se traduzia substancialmente pela realizacao de trabalhos
pagos para os colonos — 0 que nfo quer dizer que eles pudessem escolher
© que fazer. Os jesuitas faziam as negociagdes com os interessados, deter-
minavam o prego, 0 tamanho do grupo ea duracio da tarefa —e recebiam
o dinheiro.
‘Assim como se costuma dispensar a andlise mais detida da “liberdade”
nas missdes jesuiticas, também a tentacao de atribuir ao colono o papel ne-
gativo na trama, como “a iniciativa privada acima da lei”, impede uma and-
lise mais aprofundada da “escravidao”. Desde os primeiros néufragos que
ficaram na terra, a relagao dos europeus laicos com os indigenas foi marca-
da por um cardter estruturalmente dibio. Nunca aqueles tiveram forcas para,
sozinhos, subjugar outros indios. Desde sempre eles necessitavam de alian-
cas, ou seja, das divisées entre estes. A alianca que tracava uma linha entre
amigos e adversdtios foi assim descrita por Jaime Cortesio: “O colono, a quem
nao faltavam tribos para acunhadar-se, tupinizou-se pela poligamia, livre-
mente, E nao sé pela poligamia como adotando, com sua lingua, muitos dos
costumes ¢ aquisigdes culturais”.13
13 Jaime Cortesio, Raposo Tavares e a formagao territorial do Brasil. Ministério da
Educagao e Cultura — Servigo de documentacio, s/d, p. 65.
Subjetividade dos Numeros 31
Na palavra “acunhadar-se” esté a chave da explicacao ou, segundo Dar.
cy Ribeiro, a raiz de um povo:
A instituigdo social que permitiu a formagao do povo brasi-
leiro foi o cunhadismo, velho uso indigena de incorporar estranhos
4 sua comunidade. Consiste em Ihe dar uma moga indigena como
esposa. Assim que ele a assumisse, estabelecia, automaticamente,
mil lacos que 0 aparentavam com todos os membros do grupo. [...]
A importancia era enorme e decorria de que aquele adventicio pas-
sava a contar com uma multidao de parentes que podia pér a seu
servico, seja para conforto pessoal seja para a produgao de merca-
dorias. Sem a pratica do cunhadismo, era impraticavel a cria-
cao do Brasil. Os povoadores europeus que aqui vieram eram uns
poucos ndufragos e degredados, deixados pelas naus das descober-
tas, os marinheiros fugidos para aventurar vida nova entre os fn-
dios. Por si s6s, teriam sido uma erup¢ao passageira na costa atlan-
tica, toda povoada por grupos indigenas.!4
Para conseguir escravos, os colonos muitas vezes agrediam menos a
cultura indigena que os jesuitas para criar “indios livres”. A forma mais co-
mum era justamente a do casamento dentro das normas indigenas, a alianga
pelo cunhadismo. Ela produzia uma divisdo que deixava em liberdade os
aliados, trazendo para 0 cativeiro os adversdrios destes, tomados em guerra.
Assim, por tras da disputa entre jesuitas e colonos havia uma diferenga de
métodos: a estratégia mais adotada por estes tiltimos passava pelo casamen-
to, de resto uma necessidade de homens solteiros. Nao era um casamento nos
moldes ocidentais, e precisa ser entendido nessa especificidade para se conhe-
cerem suas conseqiiéncias. A vinculagao de um europeu ao grupo indigena
por meio do casamento revelou-se desejavel para os nativos antes mesmo da
primeira tentativa oficial de ocupagao, com a criagio das capitanias heredi-
tarias. Os naufragos incorporados as tribos logo tornaram-se intermediarios
fundamentais no periodo do escambo. Juntavam seus novos parentes indi-
genas para cortar pau-brasil, forneciam alimentos e égua para os navios —¢
negociavam o pagamento na “moeda” européia de troca: cunhas, machados
e anzdis de ferro. Com esses instrumentos novos, os homens que até ent’io
desconheciam o ferro podiam realizar com muito mais rapidez ¢ eficiéncia
as tarefas que Ihes garantiam a sobrevivéncia, como abrit rocas, Ganhavam
4 Darey Ribeiro, © povo brasileiro. Sio Paulo: Companhia das Letras, 1995, pp. 81-3:
32 ANagao Mercantilista
assim mais tempo para as festas e a guerra — outra atividade permanente num
momento de grandes disputas territoriais. A presenca dos europeus alterou
as conseqiiéncias da guerra. Até a chegada dos portugueses, os vencidos nos
campos de batalha tinham dois destinos: se haviam demonstrado coragem,
eram mortos ritualmente; caso tivessem se revelado covardes, passavam a fazer
parte do grupo vitorioso como escravos, levando uma vida que se asseme-
Ihava 4 dos outros membros do grupo, coma tinica diferenca de que nao eram
guerreiros, a mais alta qualidade do indio.
No inicio, 0 aumento de poderio com as aliancas nupciais ampliou a
possibilidade de conseguir escravos nesses moldes. Mas a chegada de um
ntimero maior de colonos mudou o sentido das aliangas. A pratica do casa-
mento ritual tomou outra direco: entrega de uma mulher para viver em outra
“tribo”, no caso os primeiros nticleos que se formavam. Em Sao Vicente,
Salvador ou Olinda, a grande maioria dos povoadores casou-se com indias.
Era para elas um rito similar ao praticado antes em aliangas entre chefes vi
zinhos, seladas pelo recebimento da filha de um deles. Essa mulher deveria
adotar os costumes da nova tribo, e assim foi: foram batizadas, transforma-
ram-se nas chefes de linhagem das familias “tradicionais” — entre outras,
Pires, Camargo, Paes Leme, em Sao Paulo; D’Avila, na Bahia; e Cavalcanti,
Coelho e Albuquerque, em Pernambuco.
Cada casamento destes aumentava exponencialmente a necessidade de
buscar escravos em tribos inimigas. E escravos de um novo tipo, mais proxi-
mo do escravo negro: agricultor, carregador, remador, pescador. Para con-
segui-los, era preciso recorrer A tribo aliada pelo parentesco. Definiu-se as-
sim uma nova forma de poder do colono: a capacidade de, por meio dos
casamentos, mobilizar e comandar uma tropa de indios com o objetivo de
trazer cativos para as terras ocupadas. Até o século XVIII —e mais tarde ainda
na Amazénia —, registrou-se um padrao quase invaridvel em todos os gru-
pos que partiam para o sert’o ou para a guerra: sempre havia um branco ou
mameluco para cada dez indios. Tal padrao indica, por si s6, a extensao das
aliangas firmadas com base em casamentos. Elas logo se propagaram pelo
territério, sobretudo pelo fato de gerarem mesticos, dispostos também eles a
repetir a experiéncia mais para o interior. Como notou Cortesio, “a existén-
cia dos mestigos luso-brasileiros permite supor que cerca de 1625, quando
menos, jé os luso-brasileiros tinham mulher no sertao do Tape [atual terri-
torio do Rio Grande do Sul]: estendiam seu vasto lar e relagdes de comércio
¢ parentesco até os confins do atual Estado brasileiro”.!5 Esses mestigos do
15 Jaime Cortesio, op. cit., p. 68.
Subjetividade dos Nuimeros 33
Você também pode gostar
- Asad Haider - Armadilha Da Identidade - Raça e Classe Nos Dias de Hoje-Veneta (2019) - CompressedDocumento79 páginasAsad Haider - Armadilha Da Identidade - Raça e Classe Nos Dias de Hoje-Veneta (2019) - CompressedAnne NobreAinda não há avaliações
- Jorge Caldeira Nem Céu Nem Inferno Editora Três Estrelas - 2015Documento244 páginasJorge Caldeira Nem Céu Nem Inferno Editora Três Estrelas - 2015Anne Nobre0% (1)
- Construindo o PCB (1922-1924) (Astrojildo Pereira)Documento82 páginasConstruindo o PCB (1922-1924) (Astrojildo Pereira)Anne NobreAinda não há avaliações
- Contribuição À História Da Palavra de Ordem de - Governo Operário - ThalheimerDocumento26 páginasContribuição À História Da Palavra de Ordem de - Governo Operário - ThalheimerAnne NobreAinda não há avaliações
- O Recife Histórias de Uma Cidade (Antônio Paulo Rezende)Documento106 páginasO Recife Histórias de Uma Cidade (Antônio Paulo Rezende)Anne NobreAinda não há avaliações
- Uma Trama Revolucionária - Do Tenentismo À Revolução de 30 (Antonio Paulo Rezende)Documento64 páginasUma Trama Revolucionária - Do Tenentismo À Revolução de 30 (Antonio Paulo Rezende)Anne NobreAinda não há avaliações
- Yuri Steklov - História Da Primeira Internacional - Aetia EditorialDocumento18 páginasYuri Steklov - História Da Primeira Internacional - Aetia EditorialAnne NobreAinda não há avaliações