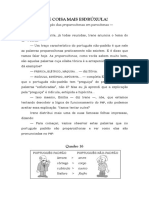Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Faraco (2004)
Faraco (2004)
Enviado por
CLAUDIA0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações25 páginasTítulo original
Faraco (2004) (1)
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações25 páginasFaraco (2004)
Faraco (2004)
Enviado por
CLAUDIADireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 25
‘h
Norma-padrao brasileira
Desembaracando alguns nés
Carlos Alberto Faraco
Consideracées iniciais
questao da chamada norma (ou lingua) padrao voltou a ter
certa proeminéncia nos meios de comunicago social nos
tiltimos anos no Brasil, acompanhando a reentrada em cena do
velho discurso de que a lingua portuguesa vai (muito) mal no pais.
Esse eterno retorno de certos discursos sociais sobre a lin-
gua esta ainda para ser estudado e melhor compreendido. Quan-
do isso se fizer, certamente nao perderemos de vista 0 alerta que
Foucault (1997 [1969]) fez sobre o funcionamento dos discur-
sos em geral: os enunciados sio raros. No fundo, ha pouco para
ser dito. Talvez por isso, de tempos em tempos, s6 reste mesmo
redizer esse pouco.
No caso da lingua, é bastante claro que o que se diz sobre
ela no senso comum é, de fato, muito pouco. Mas — temos de
reconhecer — é também muito pouco o que temos realizado em
termos do estudo e da compreensao dessas articulagées discursi-
vas do senso comum. Continua pouco claro, por exemplo, o por-
qué de tais enunciados nunca perderem sua vitalidade (estao
sempre ai incdlumes e disponivéis para 0 eterno retorno). Do
mesmo modo, permanecem obscuros os processos que, a cada
vez, motivam o reemergir daqueles raros enunciados. Ha, por-
tanto, muito ainda a se fazer no destrincamento dos dizeres so-
ciais sobre a lingua.
37
GARLOS ALBERTO Faraco,
Se é dificil precisar o que fez reacender recentemente o ve-
lho dizer de que a lingua portuguesa vai (muito) mal no pais, 0
fato é que ele voltou; e os efeitos salvacionistas que costuma pro-
vocar também nao se fizeram esperar. Vamos, aqui, comentar
dois desses efeitos (i.e., 08 manuais de redagiio dos grandes jor-
nais ¢ o ressurgimento das colunas gramaticais na imprensa) que
nos parecem particularmente interessantes cori vistas ao debate
sobre a norma-padrao. E, em seguida, acrescentar um outro dado
(o programa do ENEM — Exame Nacional do Ensino Médio)
que também tem a ver com o mesmo tema. Acreditamos que a
andlise desse conjunto ajuda a elucidar, mesmo que parcialmen-
te, o modo como esse tema é compreendido entre nos.
De posse dessa’ elucidagao, poderemos, entio, reiterar a ne-
cessidade de desenvolver no pais um projeto de reconstrugao das
nossas referéncias padronizadoras, superando o proverbial arti-
ficialismo e a rigidez de boa parte dos nossos compéndios gra-
maticais. Isso tera, certamente, conseqiiéncias muito positivas
para desembaragar os nés que afetam o ensino e 0 uso do padrao
no Brasil.
Esse projeto, contudo, nfo avangaré se néo conseguirmos
instaurar, de inicio, um amplo debate piiblico sobre essa ques-
tio, destituido dos pré-juizos que tém impedido que ele aconte-
ga. Nossas reflexGes a seguir tém a pretensio de contribuir para
desencadear esse urgente debate.
Preliminarmente, porém, sera necessario estabelecer certas
distingdes com as quais trabalharemos na discussao que se segue.
Estaremos aceitando, aqui, 0 conceito técnico de que os gru-
pos sociais se distinguem pelas formas de lingua que lhes sio de
uso comum. Esse uso comum caracteriza 0 que se chama de a
norma lingiiistica de determinado grupo. Assim, numa socieda-
de diversificada e estratificada como a brasileira, havera inime-
ras normas lingiiisticas, como, por exemplo, a norma caracteris-
tica de comunidades rurais tradicionais, aquela de comunidades
rurais de determinada ascendéncia étnica, a norma caracteristi-
ca de grupos juvenis urbanos, a(s) norma(s) caracteristica(s) de
populacées das periferias urbanas, a norma informal da classe
média urbana e assim por diante.
38
NoRMA-PADRAO BRASILEIRA
Como a respectiva norma é fator de identificagao do grupo,
podemos afirmar que o senso de pertencimento inclui o uso da
forma de falar caracteristica das praticas e expectativas lingiiis-
ticas do grupo. Nesse sentido, a norma, qualquer que seja, nio
pode ser compreendida apenas como um conjunto de formas lin-
gitisticas; ela é também (e principalmente) um agregado de va-
lores socioculturais articulados com aquelas formas.
Nao ha, obviamente, um total encapsulamento e insulamento
dos grupos sociais, nem de seus membros. Assim, é inevitavel 0
contato entre essas muitas normas no intercAmbio social, o que
redunda em miiltiplas interinfluéncias (as normas sao, portanto,
hibridizadas) e também eventualmente em mudangas lingiiisti-
cas em diferentes diregdes (para mais detalhes, ver, entre outros,
L. Milroy, 1980).
Do mesmo modo, a parcela da populagdo que mais direta e
intensamente lida com a cultura escrita tem também uma nor-
ma peculiar, isto €, aqueles fendmenos de lingua que caracteri-
zam o uso desse grupo social, seja em situagées formais de fala,
seja na escrita.
Para designar os fatos de lingua que este grupo social mais
diretamente afeito as atividades de escrita usa correntemente em
situagoes formais de fala e na escrita, costumamos, entao, usar a
expressao norma culta, expresso que, como veremos adiante,
nao se confunde com norma-padrdo.
Ha na designagéo norma culta um emaranhado de pressu-
postos nem sempre claramente discerniveis. O qualificativo “cul-
ta”, por exemplo, tomado em sentido absoluto pode sugerir que
esta norma se opée a normas “incultas”, que seriam faladas por
grupos desprovidos de cultura. Tal perspectiva esté, muitas ve-
zes, presente no universo conceitual e axioldgico dos falantes da
norma culta, como fica evidenciado pelos julgamentos que cos-
tumam fazer dos falantes de outras normas, dizendo que estes
“nao sabem falar”, “falam mal”, “falam errado”, “sao incul-
tos”, “sao ignorantes” etc.
Contudo, nao hé grupo humano sem cultura, como bem
demonstram os estudos antropolégicos. Por isso, é preciso traba-
39
| ann ALnenro Fanaco
Ihar criticamente o sentido do qualificativo eulia, apontando seu
efetivo limite: ele diz respeito especificamente a uma certa di-
mensao da cultura, isto é& a cultura escrita, A
norma culta deve ser entendida como designando a norma lin
giiistica praticada, em determinadas situagdes (aquelas que en-
volvem certo grau de formalidade), por aqueles grupos sociais
mais diretamente relacionados com a cultura escrita. em espe-
cial por aquela legitimada historicamente pelos grupos que con-
trolam o poder social.
Por outro lado. é interessante lembrar que essa designa-
go foi criada pelos préprios falantes dessa norma. 0 que deixa
transparecer aspectos da escala axiolégica com que interpre-
tam o mundo. Seu posicionamento privilegiado na estrutura
econdmica e social os leva a se represéntar como “mais cultos™
(talvez porque. historicamente, tenham se apropriado da cul-
tura escrita como bem exclusivo. transformando-a em cfetivo
instrumento de poder) e. por conseqiiéncia. a considerar a sua
norma lingiifstica — mesmo difusa em sua variabilidade de
im, a expressio
prontincia. vocabulario ¢ sintaxe — como a melhor em con-
fronto com as muitas outras normas do espago social. Isso. como
sabemos. € fonte de varios pré-juizos e preconceitos lingiiisti-
cos que afetam o conjunto da sociedade. mas. em especial. os fa-
lantes de normas que sao particularmente estigmatizacas pelos
falantes da norma culta.
A norma culta esta também em contato com as demais nor-
mas sociais. havendo ai nviltiplas interinfluéncias e eventuais
processos de mudangas em diferentes diregdes (para mais deta-
Thes sobre a situacio brasileira, ver. entre outros Lucchesi. 1994).
Mas a questao das normas nao se encerra aqui. A cultura
escrita, associada ao poder social. desencadeou também. ao lon-
go da histéria, um processo fortemente unificador (que vai al-
cangar basicamente as atividades verbais escritas). que visou e
visa uma relativa estabilizagao lingiiistica, buscando neutralizar
a variagio e controlar a mudanga. Ao resultado desse proceso. a
esta norma estabilizada. costumamos dar o nome de norma-pa-
dréo ou lingua-padrao.
40
NORMA-PADRAO. BRASILENRY,
A questao da chamada horma-padrao é ¢
nte das mais
complexas no campo das inve:
s. Quando nos
que nao se trata
wado de expressdes da
lingua. como se o fendmeno sociocultural do padrao se ri
se a um problema exclusivamente de vi
gramatica:
tam
stigagdes lingiitstic
embrenhamos em seu estudo, fiew logo evidente
apenas de recortar um conjunto determi
sumis-
ocabuldrio e estruturas
© que encontramos. de fato. nesta area 6 um complexo en-
trecruzamento de elementos léxico-gramaticais ¢ outros tantos
de natureza ideolégiea que. em seu conjunto, definem o fenéme-
no que designamos tecnicamente de norma-padrao. E é esse con-
junto que tem de ser considerado se queremos desenvolver um
entendimento cientifico abr:
‘angente da complexidade desse fe-
némeno — entendimento este que tera de ser. portanto. multi-
disciplinar e nao apenas lingiiistico.
E, preciso lembrar. por exemplo, que a norma-padrao esta
vinculada estreitamente ao espectro de praticas socioculturais
que constituem o que se pode chamar de cultura letrada em sen-
tido amplo. isto é as |
aticas culturais que cnvolyem nao ape-
nas atividades de Ieitura ¢ eserita como tais. mas toda e qual-
quer atividade (mesmo que. em si. se dé apenas oralmente) que
tem 0 processo histérico do eserever como pano de fundo. Em
outras palavras. a cultura letrada é como tém procurado de-
monstrar os estudos sobre letramento. maior do que apenas ler e
escrever. Do mesmo modo. a norme
padrao é mais que apenas
um rol de elementos léxico-gramaticais.
O dominio da cultura letrada. por sua vez, esta ensopado
de uma densa teia de valor
8 que gera e mobiliza uma vasta
gama de modos de ser. de agir. de pensar e. evidentemente, de
dizer — seja no sentido de géneros discursivos (cf. Bakhtin, 1992
[1952]): seja no sentido do prestigiamento de certas formas léxi-
co-gramaticais. Além disso, aquela densa teia de valores partici-
pa do processo de constituigao ¢ funcionamento do universo do
imaginar
» social que recobre os fendmenos lingiiisticos.
Por outro lado, o dominio da cultura letrada ¢ seus valores
estiio articulados a todo um arcabouco institucional (ele mesmo,
41
Cantos ALBERTO FARGO
alias, em boa medida, frato da cultura letrada) correlacionado
com 0 processo de discriminagio dos elementos propriamente
lexicais ¢ gramaticais identificados como padrao: interesses do
Estado ¢ seus aparelhos (como a
ola, por exemplo)
mentos de codificagéo (formularios ortograficos, gramética
ciondrios) e agéneias de comunicagio soci
io social.
A norma-padrao, enquanto realidade léxico-gramatical, é
wn fendémeno relativamente abstrato: ha, em sua codificagao,
um processo de relativo apagamento de marcas dialetais muito
salientes. f por ai que a norma-padrao se torna uma referéncia
supra-regional ¢ transtemporal.
Nesse sentido, o padrio tem sua importancia e utilidade
como forga centripeta no interior do vasto universo centrifugo
de qualquer lingua humana, em especial para as praticas de es-
crita. O padrao nao conseguira jamais suplantar a diversidade.
porque, para isso, seria preciso o impossivel (¢ o indesejavel.
obviamente): homogeneizar a sociedade e a cultura e estancar 0
movimento e a historia. Mesmo assim, 0 padrao tera sempre, por
coagées sociais, um certo efeito unificador sobre as demais nor-
mas, nao estando, porém, isento de também receber influéncias
dessas mesmas normas.
Embora 0 padrao nao se confunda com a norma culta, esta
mais proximo dela do que das demais normas, porque os
codificadores ¢ os que assumem o papel de seus guardides ¢ cul-
tores saem dos extratos sociais usuarios da norma culta. Se esse
é um fator de aproximagao, é também um fator de tensao, por-
que o inexoravel movimento histérico da norma culta tende a
criar um fosso entre ela ¢ o padrao, ficando este padrao cada vez
mais artificial e anacrénico, se nio houver mecanismos sociocul-
turais para realizar os necessarios ajustes.
O caso brasileiro é particularmente exemplar nesse sentido,
em especial porque o padrao foi construido, na origem, de forma
excessivamente artificial. A codificagéo que se fez aqui, na se-
gunda metade do século XIX, néo tomou a norma culta brasilei-
ta de entéo como referéncia. Bem ao contrario: a elite letrada
conservadora se empenhou em fixar como nosso padrio um cer-
42
Nonwty-PADe tO BRASILEIRY
to modelo lusitano de escrita, p
micado por alguns escritores
portugueses do Romantisme (ef, Pagotto, 1998; Faraco, 2002).
O modelo nao foi, portanto, a lingua de Portugal, como muitos
naginando uma homogeneidade que, de fato
ja que o portugues de li ¢
rio existe.
lingua, um emaranha-
pensam.
como qualque
do de variedades.
Por tras dessa atitude excessivamente conservadora, além
de uma heranga da pesada tradigao normativa dos paises de lin-
guas latinas. esto desejo daquela elite de viver num pais bran-
co ¢ curopeu. o que a fazia lamentar o carater multirracial €
mestigo do nosso pais (aspirando, de modo explicito até a déca-
da de 1930. a um “embranquecimento da raga”): e, no caso da
lingua. a fazia reagir sistematicamente contra tudo aquilo que
nos diferenciasse de um certo padrao lingitistico lusitano.
Nesse sentido, a reagéo a um abrasileiramento da norma-
padrao (conforme propunha, por exemplo. José de Alencar) se
fazia no mesmo tom com que se combatia os fendmenos lingiiis
ticos identificados como “portugués de preto” ou “pretogués”.
essa “lingua de negros hogais ¢ de ragas inferiores” (ver discus-
sao em Christino. 2001). sindnimo de corrupgao. degeneracao,
desintegragao.
Como a distancia entre a norma culta e o padrao artificial-
mente forjado era muito grande desde o inicio, enraizou-se, na
nossa cultura. uma atitude purista e normativista que vé erros
em toda parte e condena qualquer uso — mesmo aqueles ampla-
mente correntes na norma culta e em textos de nossos autores
mais importantes — de qualquer fendmeno que fuja ao estipula-
do pelos compéndios gramaticais mais conservadores. Essa si-
pao tem Nos ¢
usado intimeros males, seja no ensino, seja no
uso de um desejavel padrao, Este, que deveria ser um elemento
sociocultural positivo, se tornou, no caso brasileiro, um pesado
fator de discriminagao e exclusio sociocultural.
F evidente para muitos ¢ desde hi muito que é preciso mu-
dar essa situagao, superando o quadro de verdad:
n
esquizofre-
lingiiistica em que estamos metidos. E isso 6 pode ser viabi-
lizado aproximando 0 padrio da norma culta. Para alcancarmos
43
Garios ALBERTO FARAGO
esse patamar, teremos nos — lingiiistas, gramiaticos, professores,
autoridades educacionais, meios de comunic jal, usud-
rios do padrao em geral — de travar uma guerra ideolégica ao
normativismo, F., ao mesmo tempo, flexibilizar as referéncias
padronizadoras, incorporando mudangas que ja se generaliza-
ram, como fez. sxemplo, em grande parte e com bastante
prop! i s da Lingua Portuguesa.
Antes de entrarmos em nossas_andlises, sera importante
destacar também que o processo de padronizagao teve, histori-
camente, um curioso efeito — o de aproximar, no imaginario das
comunidades lingitisticas, o padrao e a lingua. Desse modo, é 0
padrao que passa a constituir a referéncia com.a qual os falantes
(ou, pelo menos, aqueles grupos sociais que operam mais direta-
mente com ele) dao sentido a realidade lingiiistica. Atribui-se &
lingua, por esse viés, um caréter homogéneo, o que redunda em
tratar a variagéo ¢ a mudanga lingitisticas como desvios, como
erros, como nao-lingua. E-Ihes, no fundo, incompreensivel aquilo
que se depreende dos estudos cientificos sistematicos dos ulti-
mos duzentos anos: uma lingua s6 existe como um conjunto de
variedades (que se entrecruzam continuamente) e a mudanga é
um _processo inexoravel (que alcanga todas as variedades em
miiltiplas diregées).
Ora, tamanha complexidade faz com que os préprios lin-
giiistas, em sua atividade cientifica, tenham nao poucas dificul-
dades para separar o imaginario que recobre os fendmenos lin-
giiisticos, da observagao e andlise sistematica desses mesmos fe-
némenos. Foi talvez este fato que levou Haugen (2001 [1966]:
102) a dizer que, “na tentativa de esclarecer essas relagées, a
ciéncia lingiiistica tem tido um sucesso apenas modesto”.
A propésito do poderoso jogo de forgas envolvidas na ques-
tao da norma-padrao, o que inclui as préprias representagdes
imagindrias que constituiram historicamente a concepgao geral
de lingua de nossa cultura, é interessante lembrar, por exemplo,
das reflexdes do lingiiista russo Volochinov (1997 [1929]). Ao
tentar recuperar aspectos da histéria de diferentes concepgdes
de linguagem, ja apontava cle (ver 0 cap. 5 de seu livro) de que
44
|
NORMA-PADRAO BRASILEIRN |
modo a abordagem filolégica ou, como ele prefere chamar, ©
filologismo (isto é, 0 trato com as linguas mortas) foi determi-
nante na constituicdo do pensamento lingiiistico do mundo eu-
ropeu. O filologismo deu como baliza a esse pensamento apenas
fendmenos (em geral descontextualizados) de lingua escrita, vi-
venciada esta como um todo isolado que se basta a si mesmo €
que demanda do filblogo uma compreensao passiva.
Mais recentemente, Romaine (1994), ao estudar 0 processo
de transformagao do tok pisin numa lingua-padrao eserita pelos
missiondrios europeus, argumentou (p. 20) que a nogao de lin-
gua-padrao é um conceito especificamente europeu, cujos erité-
rios definidores sio baseados em atributos das linguas-padriio
européias e em valores culturais europeus. A autora diz ainda
mais: “In fact, | would go further and say: that the notion of a
language is very much an European artifact” (1994: p. 20).
Essas afirmag
coincidem, de certa forma, com as refle-
xbes de J. Milroy (2001), que, ao discutir o tema da padroniza-
cdo lingiiisti
a, em especial o fato de que ela nao é um univer-
sal. mostra como. no fundo, o pensamento lingiiistico esteve €
esti contar
inado por aquilo que ele chama de ideologia da
lingna-padrao, ¢ como
ma ideologia.
Grosso modo, pode-se caracterizar tal ideologia como a pers-
pectiva que confunde uma lingua com seu padrao, o que é parti-
cularmente o caso cultural das linguas curopéias de amplo uso.
Lembrando que boa parte dos metodos ¢ teorias em lingitistica
foram (¢ sao) elaborados tendo essas linguas em sua norma-pa-
drao como referéneia. Milroy (2001) considera que inevitavel-
mente aquela ideologia interfere na lingitistica e na anéli
linguas em geral. E afirma (p. 531):
[...] we may well suspect that there are covert ideological
influences on some aspects of linguistic thinking and that many
of these are not recognized or acknowledged. ‘
Further, some of these influences flow from the fact that, as we
have noticed, a number of major (i.e. widely used) languages
that possess written forms are believed by their speakers to
ribui para a reprodugao desta mes-
» das
45
CarLos ALBERTO Faraco
exist in standardized forms. Our reliance on the standard
languages of nation states may therefore have distorted our
understanding in some way:
Se, no dmbito do trabalho cientifico, é dificil separar as coi-
sas, mais dificil fica quando se trata de debater extramuros a
questao da norma-padrao: quanto mais os envolvidos no debate
estio distantes do trato cientifico da lingua (no qual, em prinei-
pio, as assertivas devem ser sustentadas empiricamente e nao
apenas enunciadas categoricamente; ou, em outras palavras, no
qual a validade das proposigGes nao decorre da autoridade de
quem as enuncia), mais nebulosa fica a possibilidade de enfren-
tamento desapaixonado da questao. Bastaria lembrar aqui a enor-
me dificuldade de se instaurar no Brasil um amplo debate social
— que envolva lingiiistas, gramAticos, professores, jornalistas,
autoridades ptiblicas e interessados em geral — em torno do pro-
blema da norma-padrao.
Uma primeira razao para essa dificuldade advém do fato de
que boa parte dos que se envolvem com o tema costuma ter uma
visdo reducionista do problema: a norma-padrao é, nessa pers-
pectiva, apenas um rol congelado de formas ditas “corretas” no
vazio. Eo tom do debate (ha mais de século e meio) é sempre 0
mesmo: recrimina-se os brasileiros por supostamente nao sabe-
rem falar e escrever “corretamente” (e isso é, de certa forma, facil
de fazer, porque, em geral, nem mesmo os mais letrados usam
aquelas formas cultuadas); e por nao cuidarem de sua lingua.
Por outro lado, qualquer debate hoje costuma logo ser abor-
tado por recorrentes acusagées da e na midia de que os lingitis-
tas sao (perigosamente) relativistas e, portanto, contrarios ao
ensino da norma-padrao. Mesmo admitindo com Haugen que os
lingiiistas avangaram pouco no deslinde da questao como um
todo, eles tém razodvel clareza do sentido sociolingiiistico da
norma-padrao e, por isso, nao sa0 contrarios a seu cultivo e en-
sino (ver, por exemplo, Castilho, 2002).
O que os lingitistas efetivamente vém combatendo é 0 cara-
ter excessivamente artificial do padrao brasileiro; é a concepgao
do padréo como uma camisa-de-forga e todos os preconceitos
46
NORMA-PADRAO BRASILEIRA
dai advindos. Desse modo, sao estas as questdes que devem cons-
tituir o ponto de partida e o nucleo de qualquer debate e néo a
equivocada acusacéo de relativismo. Como esta acusagéio, no
entanto, decorre de um grosseiro mal-entendido, o desafio preli-
minar que se pe aos lingiiistas é buscar meios de limpar a area,
meios de esclarecer publicamente seu efetivo posicionamento.
Isso posto, podemos agora nos voltar para as andlises que
nos propusemos a fazer neste texto, enfocando, entéio, os ma-
nuais de redagio dos grandes jornais, as colunas gramaticais e 0
programa do ENEM — Exame Nacional do Ensino Médio.
2. 0 caso dos manuais
O primeiro aspecto a merecer nossa atengao é 0 fato de que
os chamados grandes jornais (aqueles que extrapolam seu con-
texto local de circulagao ¢ alcangam varias partes do pais), em
especial aqueles publicados em Sao Paulo (0 que, por si 86, exi-
giria uma reflexdo), elaboraram, nas tltimas décadas, manuais
de redagao, tendo neles incluido capitulos dedicados & fixagao
de um padrao de linguagem para seus textos.
Essa medida dos jornais pode ser, em principio, considera-
da como positiva. Em especial, se lembrarmos que a fungio ba-
sica de um padrao de linguagem ¢ estimular, pelo menos na es-
crita, uma relativa uniformizagao lingiiistica num amplo e di-
versificado espago sociocultural. Uma tal uniformizagao, mesmo
que sempre relativa, tem indiscutivel relevancia em sociedades
do porte da nossa, no sentido de garantir uma base de comuni-
cagao supra-regional, transtemporal ¢ multifuncional; ou, como
diz Haugen (2001 [1966]: 110), aquele ideal de lingua caracte-
rizado pela variagéo minima na forma e maxima na fungao (so-
ciocultural).
No entanto, para alcangar esse objetivo, os jornais nada mais
fizeram do que transcrever acriticamente 0 que esta estipulado
nos velhos compéndios de gramatica, que so, reconhecidamente,
artificiais em excesso quanto ao padrao que preconizam, ja que
47
ETE ©
Cantos ALBERTO Fico
sao ra
procuram fugir de wn normativismo estéril ¢ r
vido realismo (isto é, com base em observacdes empiricas). fend-
menos ¢ tendéncias da norma culta, sugerindo. mesmo que uas
entrelinhas, a necessidade de sua incorporagao ao padrao.
Em alguns manuais. a situagao é tio absurdamente artifi-
cial e dogmatica que seus autores recusam peremptoriamente
julgamentos flexiveis de bons gramaticos. que se baseiam em
dados empiricos 6byios, em especial na pratica dos “melhores
escritores’. Assim é que, como observa Bagno (2001: 35). 0
manual do jornal Estado de 8. Paulo contém observagoes absur-
das do tipo: “Ha gramaticos que aceitam essa contragao [da pre-
posigao com 0 artigo em construgdes como ‘Apesar do presidente
ter dito a verdade....’]: o Estado. porém. segue a norma da lin-
gua” — como se a lingua tivesse em si uma norma. independen-
temente de seus falantes. da histéria. dos quadros institucionais.
Desse modo. os jornais se mostraram ineapazes de ampliar
seu universo de referéneias quanto ao padrao escrito brasileiro.
E ha nisso um grande paradoxo. ja que seus proprios textos cons-
tituem. hoje. uma das principais foutes desse mesmo padrao,
pal. considerando que a expressiva expansio dos
ros aqueles que. como o de Celso Cunha e Lindley Cintra.
ar, com o de-
‘gi
sendo a prin
incios de comunicagao social. no século XX. transformou-os, aqui
como em outras partes. em poderosos parceiros da coustrugao ¢
uagem. Se no passado podiamos
literatura. hoje
da difusdo do padrao de lit
tratar do padrao exclusivamente com base ne
isso mudou radicalmente: a literatura. embora importante, é
apenas uma das referéncias.
Aconseqiiéncia do paradoxo que apontamos acima ¢ 0 cou-
flito permanente entre aquilo que os manuais estipulam ¢ aquilo
que se pratica efetivamente nos textos. isto é. entre wm padréo
excessivamente artificial e a norma culta escrita.
Esse conflito entre regras e pratica — facilmente observa-
vel a propdsito de varios fendmenos (pode-se ler bons exemplos
em Bagno. 2001) — constitui por si sé uma yaliosa fonte 1
apenas das caracteristicas da norma culta brasileira, como tam-
hém das suas tendéncias.
48
NORMA-PADRKO. BRASILEIRO
Como vimos acima. um padrao de linguagem para as ativi-
dades escritas tende a ser bastante estavel durante um periodo
longo de tempo. principalmente porque o poder social de poli
sobre a escrita é muito maior do. que sobre a fala. E isso é facili
tado pelo fato da escrita. em razio de seu suporte fisico ser me-
nos fluido. conhecer permanéncia maior que a fala (jA diziam os
antigos: Jerba volant. scripta manent)
n conseqiiéncia disso. essa relativa estabilidade do pa-
drao cria wn natural descompasso entre ele ea fala culta, na
medida em que os processos de mudanga desta tiltiia sao. em
termos. mais rapidos. Gera-se. entao, uma tensao continua entre
norma culta ¢ norma-padrao, considerando que ambas convi-
ver na experiéncia dos mesmos falantes. tensdo que. inevitavel-
mente, redunda em movimento. isto é.
y mudanga (mesmo que
em muito longo prazo). porque. como diz Rey (2001 [1972]:
115). *nenhiuma lingua escapa aqueles que a utilizam”, Fos
fendmenos cor
iqueiros na norma culta falada comegam a subs-
tituir, na pratiea da escrita. aqueles preconizados pela codifica-
gio do padrao
Ora. a mudanga lingitistica é certamente um dos pontos mais
complicados a ser enfrentado em qualquer debate sobre a line
bre a norma-padrio. porque o sentimento
geral dos falantes é¢ de que a lingua (identificada. em certo ima-
ginario social. com o padrao) é estatica: ¢. desse modo, eles ten=
dem a confundir a mudanga com uma idéia de decadéneia, de-
generagao. desintegragao da lingua.
gua. em especial
Outro fator que contribui para distanciar as duas normas ¢
reforgar o conservadorismo do padrao é 0 controle consciente de
fendmenos lingitisticos que se faz com mais facilidade na ativi-
dade escrita (por ser ela muito mais propicia ao controle reflexi-
vo) do que na fala, Néo obstante isso. 0 movimento é inexoravel,
e fendmenos freqitentes na fala culta acabam por inevitavelmen-
te se estabelecer na escrita.
Assim. sea Folha de S. Paulo estampa uma manchete como
“Do jeito que o Guga nao gosta” (3/1/2002. p. D-1), nao se
pode tomar o caminho simplista de dizer que o jornalista “nao
49
Cartos ALBERTO Faraco
sabe portugués”; ou que os revisores “comeram bola”; ou que oO
jornal “é displicente na utilizagao da lingua”. O fato é, certa-
mente, muito mais complexo e dele devemos tirar liges relevan-
tes para a discussio da norma-padrao do Brasil.
Egse fendmeno de corte da preposicao em oragdes relativas
éuma caracteristica forte da fala brasileira, nao estando de modo
algum restrito a dita fala popular, j4 que ocorre regularmente na
fala culta. Em outros termos, admitimos, sem maiores estigmas,
na fala culta brasileira, as construgées relativas sem preposigao,
embora sua ocorréncia na escrita seja ainda condenada. Ora, se
essa construgdo comega a aparecer numa manchete de um jornal
que tem nao s6 uma politica explicita de cuidado com a lingua,
mas também mecanismos institucionais para colocé-la em pré-
tica, estamos ai frente a um indicio muito significativo de que os
falantes letrados esto comegando a perder o controle consciente
daquela estrutura (isto é, 0 curso da mudanga da lingua esta se
impondo) e um fenémeno sintatico recorrente na fala culta esta
comecando a se estabelecer na escrita.
Embora isso nao constitua nenhum mal, muitos véem ai,
temerosos, uma suposta desintegragao da lingua, porque essa é a
(ica chave de interpretagao dos fatos que o senso comum lhes
oferece. A historia das Iinguas, na contramao do sentimento co-
mum, mostra cristalinamente que as mudangas, embora conti-
is, néo geram perda e desintegragéo, mas ape-
nas reacomodagées de aspectos estruturais. Em outros termos.
as mudancas redesenham a gramatica, mas jamais afetar a ple-
nitude estrutural da lingua e, conseqiientemente, sua funciona-
lidade social. E isso porque as mudangas nunca se fazem dé modo
abrupto e universal, muito menos quando se trata da transposi-
gio de fendmenos da fala para a escrita.
No caso especifico do verbo gostar em oragées relativas a
que nos referiamos acima, a batalha parece estar praticamente
perdida para a estrutura conservadora (isto ¢, com a preposigao
acompanhando o pronome — Do jeito de que o Guga nao gos-
ta), embora nao se possa certamente dizer 0 mesmo de outros
verbos, a confirmar o principio de que a mudanga nunca é abrupta
e universal (ver, porém, dados em Bagno, 2001).
50
NoRMA-PADRAO BRASILEIRA
Com 0 verbo gostar sao abundantes os exemplos na publi-
cidade (como a dos filmes Fuji que esteve em varias revistas
nacionais e que dizia: “Fotografe com FUJI tudo o que vocé gos-
ta”. Ou a recente publicidade de lavadoras Electrolux, nas mes-
mas revistas nacionais, dizendo: “Exatamente do jeito que as
mulheres gostam”) e também na imprensa.
A manchete citada nao é uma excegiio e nem seu uso exclu-
sivo dos jornalistas. 0 mesmo jornal, no caderno especial Folha
— 80 anos (18/02/2001), reproduzia 0 depoimento de varias
personalidades na sobre seus 80 anos. Em alguns desses
nais
depoimentos, incluindo 0 do governador do Estado de Sio Pau-
lo, o de uma critica literdria de grande prestigio e o de um dire-
tor de teatro bastante afamado, a mesma construgao com 0 ver-
bo gostar (“O que mais gosto...) la estava. Outros exemplos
ainda podem ser lidos em Neves (2000: 381).
Se o conflito regras do manual rs. textos do jornal é, no
fundo inevitavel, considerando o artificialismo da base de refe-
réncia, a irrupgao de fendmenos da fala culta no texto escrito é
precioso documento das recomposigées pelas quais vai passan-
do, também de modo inevitavel. a nossa escrita.
Essas irrupgdes servem igualmente de motivagao para aquilo
idade de uma discussio ampla e
que temos defendido: a nec
irrestrita sobre os fendmenos que efetivamente compdem o pa-
drao brasileiro. Um primeiro alvo dessa discussio tera de ser,
obviamente, a propria atitude normativista, Quer dizer, precisa-
mos submeter ao rigoroso filtro da critica essa atitude que, recu-
sando os dados da realidade, se apega a uma excessiva ¢ infun-
dada rigidez de julgamento. O Brasil, em termos de padrao lin-
gitistico, néio pode mais ser confundido com a acanhada “repti-
blica das letras” do Rio de Janeiro do século XIX.
Precisamos acolher os frutos da observagao sistemiatica da
norma culta ¢ incorporé-los ao padrao, como fez, por exemplo, o
Diciondrio Houaiss da Lingua Portuguesa. tmpossivel continuar
a falar da lingua portuguesa do Brasil como se nao existissem ou
fossem irrelevantes trabalhos como os sete volumes da Gramdtica
do Portugués Falado e os levantamentos de lingua escrita publi-
51
| ecemans ALBERTO FRAO.
|
cados no Dictondrio Cramatical de Verbos da Partiugués Contom-
pordneo do Brasil (Borba etal. 1990) ena Granuitica de Uses do
Portugués (Neves. 2000). Mém, & claro. das abservag
gramaticos mais ponderados, como Gelso (
des dos.
nha.
Levar em consideragao as realidades finguistieas apontada
por estes ¢ outros estos si
em pontos
ifica. necessariamente, flexibilizar,
uciais. a rigidez de um aparato normative excess
vamente artifi
rial, Esse aparato tem sido um enorme dbiee a
difusiio ¢ democratizagio da cultura eserita no nosso pais. bem
como do proprio cultivo produtive de um padrao realista
3. O caso das colunas
Outro efeito curioso do ressurgir do velho discurso de que a
lingua portuguesa vai (muito) mal no Brasil foi o renascimento
das colunas gramaticais na imprensa. A existéncia de espagos
nos meios de comunicagdo social para se discutir fendmenos da
lingua em geral ¢ do padrao em espe
1 é, em prineipio. um fato
positivo, seja como uma fonte de enriquecimento da cultura lin-
gitistica da populagao (e. por
ssa via. vetor politicamente rele-
vante do combate aos preconceitos e A discriminagao social de
base lingitistica. ainda tao fortes no Brasil), seja como espago de
divulgagao cientifica (por exemplo, dos estudos do portugués que
se ampliam no Brasil).
O modelo que se cristalizou entre nés. contudo, nao atende a
nenhum desses importantes aspectos, em razdo de seu vicio de ori
gem. Seu criador parece ter sido o gramatico portugués Candido
iredo que. no fim do século XIX ¢ comego do XX. dispu-
nha de espago em jornais de Lisboa ¢ do Rio de Janeiro para tratar
de questées de lingua. Em sua coluna
espirito inqu
de Figu
dedic
torial. a cagar “erros” de lit
va ele, no melhor
tat em toda parte ea
condenar furiosamente os falantes por sua suposta ignoraneia lin-
gilistica & pelo descuido ¢ descaso das questOes verniculas.
A matriz de referé
era uma espe
nia do combate aos “hereges” da lingua
ando. a
ddice normative que foi se eri
52
NORMA-PADRAO BRASILEIRA
cialmente. no mundo da lusofonia (como, de resto, em outros
pontos do mundo r
miinico). sob inspiragdo do trato aristocrati-
co da lingua fixado ¢ difundide pela Academia Francesa. Os
gramaticos foram construindo esse cédice, combinando gostos €
preferéucias pessoais (transmudados em regras gramaticais) com
o apelo ao uso de autores tomados como classi
. se cédice ne
cos da lingua.
mativo (eve, entre nds, momentos de gléria
durante 0 século X1X e comego do XX por ocasiao das famosas
polémicas sobre a lingua que envolveram a obra de José de Alen-
car ¢, posteriormente, 0 texto do Cédigo Civil. Encontrou, aqui,
campo fértil para se desenvolver, nas mos de uma elite letrada
conservadora que. como vimos acima, empenhou-se em fixar um
padrao 0 mais possivel afastado da norma culta brasileira.
Intevessante observar que. naqueles momentos de acirrada
polémica. ficou claro que. para os cultores do eédice normativo,
a autoridade dos clssicos 6 valia efetivamente quando seus usos
sustentavam as regras inventadas pelos gramdticos. De outro
modo. estes nao tinham pejo algum em lhes imputar erro — 0
que mostra bem a complexidade cultural e politica da questao
do padrao.
O mesmno figurino da coluna gramatical criada por Candi-
do de Figueiredo veio a ser extensamente usado, na segunda
metade do século XX. pelo gramatico Napoledio Mendes de Al-
meida e por outros menos famosos. Enganaram-se todos os que
eventualmente acreditaram que. com a morte de Mendes de Al-
meida. morreria também 0 modelo: as colunas gramaticais re-
tornaram recentemente aos jornais e se espalharam pelo pais.
Sem muita excegao. esses conselheiros gramaticais deixam
transparecer um espantoso desconhecimento da histéria da lin-
gua e da realidade lingitistica nacional: operam sem distinguir
devidamente a fala culta do padrao: e, pior. tentam impor um
absurdo modelo tnico, anacrénico ¢ artificial de lingua com base
no padrao estipulado nos compéndios gramaticais excessivamente
conservador
. Sustentam-se no danoso equivoco de que o pa-
drao é uma camisa-de-forga que nao conhece variagdo, nem
mudanga no tempo. Mantém-se incdlume. portanto, seu vicio de
Cartos ALsEnTo Faraco
origem, isto é, o velho substrato inquisitorial e dogmatico. Ape-
sar disso, ha, neste novo ciclo das colunas gramati
diferengas aprecidveis em relagao ao passado.
Destas, talvez a mais interessante seja o fato de que a re-
missao aos classicos praticamente desapareceu da argumenta-
¢ao dos colunistas. Jé nao citam mais Vieira, Bernardes, Hercu-
lano, Garrett ou Camilo; simplesmente assevetam que a norma-
padrao nao admite tal ou qual construgaéo.
EK, sem dtivida, curioso observar esse deslocamento argu-
mentativo. Seria ele um sinal dos tempos? Talvez, a falta de um
conhecimento filolégico ¢ lingiiistico mais substancial, s6 tenha
restado mesmo personificar a norma-padrao e, deslocando-a para
um Olimpo etéreo, decretar, em seu nome, o certo € 0 errado.
Recentemente, a Folha de S. Paulo publicou (31/5/2002, p.
A-3) a carta de um leitor que captou de modo muito feliz esse
processo de personificagéo da norma-padrao. Comentava ele a
noticia do dia anterior a propésito da ironia de Lula sobre a con-
jugagao do verbo intervir ¢ dizia que tal ironia talvez ajudasse “a
por a nu a hipocrisia dos que se servem da dita norma culta (ah,
essa dona Norma...) para humilhar milhées de brasileiros ¢ para
exclui-los da vida politica e dos bens culturais”. A observacdo en-
tre parénteses fala por si mesma como deniincia de um processo
que se generalizou nos comentarios sobre a norma-padrao.
Elevar a norma-padrao a agente é escamotear os processos
hist6ricos, politicos e culturais envolvidos no funcionamento so-
cial da lingua. Por isso, tornar a norma-padrao um ente com
existéncia propria é extremamente favordvel aos colunistas: per-
mite a esses autores eludir todo um conjunto de questdes da maior
relevancia para a elucidagéo dos problemas nao triviais que en-
frentamos no Brasil com o padrao, desde a compreensio critica
de sua histéria e as caracteristicas e sentidos de sua ocorréncia
social até a crucial questéo de quem é responsavel por sua des-
crigao e codificagao e como se deve proceder para tanto.
O deslocamento argumentativo observado acima pode tam-
bém ser, talvez, decorréncia de inevitavel imposigéio do mercado
que, face & velocidade do nosso cotidiano, nao pode mais perder
icais, algumas
54
NORMA-PADRAO BRASILEIRA
tempo com s6lidos argumentos e quer o pragmatismo das solu-
gbes répidas e diretas, o que, evidentemente, favorece as assergoes
categéricas ¢ nao fundadas na pesquisa filolégica e lingiiistica.
De qualquer forma, o resultado é desastroso. Nao bastasse
0 seu pressuposto inquisitorial e dogmatico, as colunas reforgam
ainda a idéia de que o padrao existe por si ¢ em si, dado (sabe
Deus por quem) de uma vez para sempre, o-que, no fundo, im-
plica em alienar os falantes da sua prépria lingua.
Nesse sentido, apesar do seu aparente sucesso mercadolégi-
co (ganharam até espaco no meio televisivo), o retorno das colu-
nas gramaticais nao tem trazido qualquer contribuigao efetiva
para o desenvolvimento da cultura lingitistica da sociedade como
um todo. Ao contrario: seu artificialismo, seu dogmatismo, seu
espirito inquisitorial contribuem antes para manter essa cultura
estagnada, nada acrescentando para desatarmos os nés lin,
ticos que tanto embaracgam ainda o ensino e o uso do portugués-
padrao no nosso pais. Nesse sentido, nada de positivo trazem
para nossa compreensio cultural do que deve ser 0 cultivo de
um desejavel padrao de lingua.
4, 0 caso do ENEM
Um terceiro fato a merecer registro neste nosso texto é 0
lugar de destaque em que a norma-padrao foi posta no progra-
ma do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Devemos lembrar, de inicio, que o ENEM nao se prope a
~ ger um teste de dominio de contetidos (nao é, portanto, um teste
de saber enciclopédico), mas — dentro da concepgio que pau-
tou a reforma do ensino no contexto da Lei n. 9394/96 — visa
testar competéncias e habilidades dos egressos da escola média.
Os documentos do Exame conceituam competéncias como as mo-
dalidades estruturais da inteligéncia, ou melhor, agées e opera-
ges que utilizamos para estabelecer relagdes com ¢ entre obje-
tos, situagdes, fendmenos e pessoas que desejamos conhecer”; e
dizem que as habilidades “decorrem das competéncias adquiri-
55,
Cantos ALBERTO FARACO
das e referem-se ao plano imediato do ‘saber fazer’. Por meio
das agdes e operagées, as habilidades aperfe:
oam-se € articu-
lam-se, possibilitando nova reorganizacao das competéncias.
No caso da Lingua Portuguesa, o programa do ENEM esti-
pula, em sua matriz de competéncias, o dominio da norma culta
(leia-se norma-padrao) como a competéncia maxima a ser tes-
tada nos egressos do ensino médio. Em decorréncia, as provas
do ENEM devem, em tese, avaliar nao a capacidade de identifi-
cagao enciclopédica de formas que pertencem ao padrao (as for-
mas “corretas”), mas, digamos assim, a capacidade de operar
com o padrao. Em outros termos, o conceitual que sustenta o
ENEM procura dirigir 0 foco da avaliagao nao para os contetidos
que os alunos dominam, mas para as relagdes cognitivas que sio
capazes de estabelecer ¢ para aquilo que sao capazes de fazer
com os contetidos ¢ relagdes cognitivas.
Nao nos interessa aqui evidentemente discutir os fundamen-
tos conceituais dessa reforma (ver, para isso. Kuenzer, 2000),
nem os do ENEM. Contudo, considerando o porte que este exa-
me esta tomando no sistema de ensino brasileiro, é pertinente
nao perder de vista algumas das implicagdes do estabelecimento
do dominio da norma-padrao como a competéncia maxima a ser
testada por aquele exame.
A primeira vista, as diretrizes pedagogicas do ENEM pare-
cem estar mudando significativamente a diregao da avaliagéo
escolar da lingua no pais: deixam de enfatizar o conhecimento
de formas (que é a maneira tradicional da escola e dos exames
vestibulares, por exemplo, testarem a programagao de Lingua
Portuguesa) e pautam a avaliagéo por uma competéncia e por
habilidades de uso.
No entanto, apesar dessa aparente inovagao, o ENEM, de fato,
apenas reproduz a velha concep¢gao pedagogica que, na area da
lingua, toma a parte pelo todo. Ao estabelecer 0 dominio da nor-
ma-padrao como competéncia maxima a ser atingida ao fim da
escolaridade média, o ENEM isola a norma do conjunto a que ela
pertence ¢ no interior do qual ela tem efetivo sentido social, isto é,
o grande caldo das praticas sociais da cultura escrita legitimada.
56
NORMA-PADRAO BRASILEIRA
Em conseqiiéncia disso, as diretrizes do ENEM vao no sen-
tido contrario ao do discurso pedagégico que vem circulando
entre nds, desde pelo menos a década de 1980. Esse discurso,
em contraposi¢ao a um ensino centrado no conhecimento de
nomenclaturas ¢ contetidos gramaticais, tem colocado 0 domi-
nio das atividades de fala em situagdes formais e das atividades
de leitura e de escrita como primordiais no ensino e, correta-
mente, atrela o dominio do padrao ao amadurecimento daque-
las atividades.
Por outro lado, aquelas diretrizes, ao inverterem o discurso
pedagégico e ao isolarem a norma-padrao, apenas reiteram, sob
um manto de aparente inovagao, a classica reificagao e€
fetichizagao escolar da norma-padrao. O produto maior da esco-
laridade média na Area da lingua nao pode ser 0 dominio de um
objeto recortado no abstrato (como tradicionalmente se faz na
escola brasileira), mas — como temos intensa e extensamente
debatido ha décadas — 0 dominio de praticas sociais préprias
da cultura escrita, no interior das quais (e sé af) faz sentido falar
de norma-padrao.
‘As diretrizes do Exame nao deixam o dominio das praticas
de escrita totalmente de fora do processo.de avaliagao. Contudo,
a forma como 0 conjunto esta apresentado deixa claro 0 equivo-
co de se priorizar 0 conhecimento da norma-padrao ¢ a ele su-
bordinar o dominio das praticas de leitura e produgéo de textos.
Além disso, é necessdrio observar que 0 ENEM, ao colocar
o dominio da norma-padrao como produto maior do ensino mé-
dio na area da lingua, esta presumindo (como faz tradicional-
mente o sistema escolar) que essa norma é uma questo pacifica,
sobre a qual nao recaem dividas ou polémicas; esta presumindo
que essa norma é uma realidade clara, bem definida e suficien-
temente legitimada em termos sociais.
Ora, como nada disso, conforme comentamos acima, é ver-
dadeiro, a matriz de competéncias do ENEM, embora sugira ter
resolvido um problema (oferecer uma diretriz para o ensino de
portugués), contém, de fato, um grande problema (o que é, afi-
nal, a norma-padrao do portygués brasileiro? ).
wee ALBERTO FARACO
E isso fica particularmente evidente nas diretrizes para a
prova de redagéo, nas quais “dominar a norma culta” (leia-se
horma-padrio) remete aos “fundamentos gra
escrito” refletidos na utilizagio da norma em as} pmo sin-
taxe de concordancia, regénei fo. Km outros termos,
nada mais se fara, neste nivel de avaliacgéo, do que testar e atri-
buir pontuagao exatamente ao conhecimento- das regras artifi-
ciais estipuladas pelos compéndios gramaticais conservadores ¢
reiteradas pela tradigao escolar. Desse modo, 0 Exame nao con-
segue, na pratica, realizar seus pressupostos gerais: cai na malha
do velho modelo escolar de ensino e avaliacao. E, da mesma
forma que os manuais de redacao dos jornais e as colunas gra-
maticais, também nao consegue, na area de Lingua Portuguesa,
desembaragar nés ¢ dar efetivos passos a frente.
Pensamos que tudo isso acabaré um dia nos tribunais.
Como a referéncia geral do Exame é 0 padrao artificial (e a
falta de dominio deste implica em perda de pontos); e como ja
dispomos de gramaticas e dicionérios que acolhem varios as-
pectos da norma culta real como padrao, os alunos prejudica-
dos certamente irao, um dia, cobrar seus pontos na justiga! E,
ai, talyez, se abra uma discussao politica conseqiiente sobre a
norma-padrao brasileira.
aticais do texto
C108
5. Consideracoes finais
A partir da rapida andlise dessas trés situagdes que esto
correlacionadas com o ressurgir do tema da norma-padrao entre
nds, podemos arrolar, de modo claro, alguns dos intrincados pro-
blemas que cercam o tema no Brasil:
© primeiro, a forte tendéncia em se reificar e fetichizar a nor-
ma-padrao, isolando-a de seu contexto social, cultural ¢ his-
torico;
* segundo, a identificago do padrao com o contedido dos com-
péndios gramaticais excessivamente conscrvadores, o que tem
intimeras conseqiiéncias negativas ¢ perturbadoras para a
58
NORMA-PADRAO BRASILEIRA
efetiva padronizagao lingiiistica no pais.
ue esses compéendios tém de artificial e
* terceiro, a atitude
homogénco ¢
, em especial pelo
anacronico;
1 normativista que toma 0 padrio como
estatico (nfo admitindo, por isso, a variagio e
a mudanga) e se poe a cacar “eros” em toda parte, atribu-
indo aos falantes uma entranhada ignorancia lingiiistica e
i vel des
¢, por fim, a supos
so pela lingua:
» de que o padrao é apenas um certo
conjunto de estruturas ¢ que fragienté-lo numa taxonomia
de formas ¢ listas de regras é 0 modo adequado de realizar
seu estudo,
Contrapor-se a esse quadro nao é tarefa facil, embora funda-
mental se considerarmos a relevancia, numa sociedade do porte
da nossa, da ampla difusdo social dos padrées realistas de lingua,
junto com a democratizagao dos bens da cultura escrita. O desafio
écriar condigdes para uma critica da atitude normativista, de modo
a favorecer a criagdo de wm novo patamar conceitual que permita
9 rompimento, no ensino e no uso do padrao, das amarras que
hoje impedem sua apropriagéo como bem cultural pelo conjunto
da populagao. E essa nao é uma tarefa apenas para especialistas,
porque ela é, de fato, de natureza politica. $6 um debate pablico.
amplo e irrestrito, podera desencadear 0 processo de necessario
redesenho do padrao e da cultura lingiiistica do pais.
Enquanto esse debate nao ocorre. fariamos bem em, por
exemplo, abolir as regras de colocagao de pronomes, aceitar como
padrao a variedade de regéncias de certos verbos corriqueiras na
norma culta (por exemplo: assistir, aspirar, obedecer como tran-
sitivos diretos), institucionalizar a concordancia variavel em cons-
trucdes com a palavra se, reconhecer a variagdo sintatica dos
pronomes pessoais (e/e como objeto direto; lhe com verbos tran-
sitivos diretos; eu com preposigao entre etc.), aceitar — como
fazei os portugueses — a chamada mistura pronominal, admi-
tir a concordancia verbal varidvel em ovagées com verbo a es-
querda do sujeito, ¢ assim por diante.
Flexibilizando o padrao na pratica, poderemo
gir nossos esforgos, no ensino © nas atividades cot
entao, diri-
lianas, para
59
Cartos ALBERTO Faraco
aquilo que de fato importa: 0 dominio das praticas sociocultu-
rais de leitura e de produgao de textos.
Referéncias
Bacxo, M. (2001): Portugués ow brasileiro” Um convite @ pesquisa. Sio
Paulo: Parabola Editorial.
Baxtrry. M. M. Os géneros do di (1952). In: (1992):
Estética da criagéo rerbal. So Paulo: Martins Fontes. pp. 279-326.
Bouns. F. da S. (coord.) (1990): Diciondrio gramatical de rerbos do por-
tugués contempordneo do Brasil. Sao Paulo: Editora da Unesp.
Casri.io. A. T. de (2002): Guerra nas letras. Ciéncia hoje. Rio de Janeiro.
vol. 31. n. 182. p. 8-12. maio/2002. SBPC
Gunistixo. B. P. (2001): “Portugués de gente branca’ — certas relacées
entre lingua e raca na década de 1920. Dissertagio de mestrado,
Sao Paulo: Universidade de Sio Paulo (FFLCH — Programa de Pés-
Graduagao em Semisticn e Lingitistica Geral).
Dicionério Houniss da Lingua Portuguesa/ Antonio Houaiss e Mauro de
Salles Villar. Rio de Janeiro: Objetiva. 2001.
Fanaco, (200 Machado
de Assis ¢ cercanias. Linguas instrumentos lingiiisticos. Campinas.
h. 7, p. 33-51. jan jun. 2001, Unicamp/Editora Pontes
Fovcattr. M. (1997): 4 argueologia do saber. 5* Ed. Rio de Janeiro: Fo-
rense Universitaria. 1997,
Cramética do portugués falado (Ataliba'T. de Castilho et al.): 7 vol.
Campinas: Editora da Unicamp. 1991-2000.
Hatcrs. E. (2001. 1996): “Dialeto. lingua. nagdo”. In: Bacyo. M, (org.)
Norma lingiiistica. Sao Paulo: Edigdes Loyola. pp. 97-114
Ixstrrero Nacional. pe ESTUpos & Pr Epvcvcionsis/ Exame Nacional
do Ensino Médio — enem.htt inep.gov.br/enem.
Kveyzer. A. (org.) (2000): Ensino médio: construindo una proposta para
os que rivem do trabatho. Sio Paulo: Cortez Editora,
Luccnst, D. (1994): Variagao e norma: elementos para uma earacteriza-
Gao sociolingiiistica do portugués do Brasil. Kerista Internacional de
Lingua Portuguesa. Lisboa, n. 12. p. 17-28. dez.
Munnoy. J. (2001): Language ideologies and the consequences of
standardization. Journal of Sociolinguistics. Oxford (UK). vol.
+. p. 530-555. Blackwell Publishers.
Munroy. L. (1980): Language and social networks. Oxford (UK): Basil
Blackwell.
): A questao da lingua: revisi
00
NoRMA-PADRAQ BRASILEIRA
M. H. de M. (2000): Gramatica de usos do portugués. Sao Paulo:
ditora da Unesp.
pacorto. E. G. (1998): Norma e condescendéneia: ciéneia e pureza. Lin-
guas e instrumentos lingiiisticos. Campinas, n. 2, p. 49-68, jul./dez.
Editora Pontes.
Rev, A. (2001. 1972): Usos. julgamentos e prescrigées lingiisticas. In:
Bacno, M. (org.) Norma lingiiéstica, Sio Paulo: Exligdes Loyola, pp-
115- 144.
Romaisk. $. (1994): Language standardization and linguistic fragmentation
in Tok Pisin. In: Mone AN. M. (org.) Language and “the social
construction of identity in creole situations. Los Angeles: Center for
Afro-American Studies — UCLA. pp. 19-42.
Vorocuxov. VN. (Baxirix, M.) (1997, 1929): Marvismo e filosofia da
Tinguagem. 8* ed. $0 Paulo: Hucitec.
NEVE:
61
Você também pode gostar
- Bagno (1997)Documento8 páginasBagno (1997)CLAUDIAAinda não há avaliações
- Semana 4Documento1 páginaSemana 4CLAUDIAAinda não há avaliações
- ArtigoDocumento14 páginasArtigoCLAUDIA100% (1)
- Artigo - Cibercultura SEMANA 2Documento11 páginasArtigo - Cibercultura SEMANA 2CLAUDIAAinda não há avaliações
- Atividade - FundamentosDocumento11 páginasAtividade - FundamentosCLAUDIAAinda não há avaliações