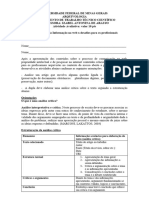Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Vista Do Um Ensaio Historiográfico Sobre A História Dos Arquivos e Da Arquivologia No Brasil
Vista Do Um Ensaio Historiográfico Sobre A História Dos Arquivos e Da Arquivologia No Brasil
Enviado por
Wellington Nonato0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações35 páginasTítulo original
Vista do Um ensaio historiográfico sobre a história dos arquivos e da arquivologia no Brasil
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações35 páginasVista Do Um Ensaio Historiográfico Sobre A História Dos Arquivos e Da Arquivologia No Brasil
Vista Do Um Ensaio Historiográfico Sobre A História Dos Arquivos e Da Arquivologia No Brasil
Enviado por
Wellington NonatoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 35
Um ensaio historiografico sobre a historia dos arquivos e da
arquivologia no Brasil: balango e perspectivas
Anistoriographic essay on the history of archives and archival sci
in Brasil: assessment
and perspective / Un ensayo historiogratico sobre la historia de los archivos y la archivologia
en Brasil: eval
Paulo Roberto Elian dos Santos
Doulor em Historia pela Universidade
de S80 Paulo (USP) Pesquisador
{do Departamento de Arquivo
2 Documeniarao da Casa de
Oswaldo Cruz, Fundagio Oswaldo
Cruz (COCTFiccruz). Professor dos
programas de pos-gladuagao em
Biasido de Documentos e Arquivos da
Univarsidade Federal do Estado do
io de Janeiro (Uninio) 2 Preservacso
Gestio da Patrimdnio Cultural das
Ciéncias 0 da Saiide da COCIFiocuz
paulo.eliangafiocruz br
Acervo, lo de Janet, v 95.0.2. p. 2
ién y perspectivas
RESUMO
artigo, de natureza historiognifica, busca sistematizar
e analisar a producao académica e institucional no am-
dito da histéria dos arquivos eda arquivologia no Brasil.
‘Toma como corpus um amplo conjunto de trabalhos
produzidos, em grande parte, entre os anos de 2000 e
2020, e que indicam o crescente interesse da dea no co-
nhecimento da sua trajetéria historica. Localizaelemen-
tos que sinalizam possiveis referenciais teéricos, temas
mais abordados, uma agenda de pesquisa e seus desafios
relacionados, por exemplo, aosmétodose fontes.
alavras-chave: anquivologia; historia da arquivologia; hstéria
dos arquivos; pesqulsctem arquivologia; metodologiade pesquisa.
ABSTRACT
This historiographical article secks to systematize and
analyze the academic and institutional production in
the field of the history of archives and archival science
in Brazil. Tt chooses as corpus a wide range of works
produced largely between the years 2000 and 2020,
and that indicates the growing interest of the field in
its own historical trajectory. It identifies elements that
highlight possible theoretical systems of references, the
‘most addressed themes, a research agenda and its relat-
ed challenges, for example, to methodsand sources.
Keywords: archival science; history of archival science; history
of archives; research inarchivalseience; research methodology.
RESUMEN
El articulo, de naturaleza historiografica, busca sis-
tematizar y analizar la produccién académica e insti-
tucional en el contexto de la historia de los archivos
y la archivologia en Brasil. £1 escoge como corpus un
copioso conjunto de obras producidas en gran parte
entre los aitos 2000 y 2020, y que indican el creciente
interés del campo porel conocimiento sobre su trayec-
toria histérica. Localiza elementos que sefialan posi-
bles referenciales tedricos, los temas mas abordados,
una lista de pendientes de investigacién y sus desafios
relacionados, por ejemplo, a losmétodosyy las fuentes.
Palabras clave: archivologia; historia de la archivologia;
hristoria de los archivos; investigacion en archivologia; me-
todologia de investigacion.
Incepenctnoias: 209 anos de histéria © niatoringrania
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
Introdugao
A busca pela afirmagio de um estatuto cientifico e maior presenga no mundo
académico é uma das caracteristicas do processo de institucionalizagéo da ar-
quivologia a partir da década de 1990. Para o aleance desse objetivo, a pesquisa
cientifica cumpre papel central no desenvolvimento da disciplina, que passou
a interessar-se por diversos aspectos de seu percurso, analisando-os em uma
perspectiva histérica. Segundo Sue McKemmish e Anne Gilliland (2013, p. 80),
além de construir teorias e modelos, desenvolver as bases de conhecimentos e
habilidades profissionais, a pesquisa conduz a um aumento da compreensio
do éthos do campo, seu papel social e sua dinamica no tempo. Cumpre ainda
a fungao de promover a investigacao critica e analitica, bem como a reflexao e
a avaliagao das teorias, prine{pios, literatura e prdticas da 4rea por uma ética
temporal, e, por vezes, enfrentar o desafio de oferecer respostas as transforma-
ges sociais, intelectuais e tecnolégicas.
0 objetivo deste artigo é identificar e sistematizar a produgio académica e
institucional que podemos classificar no ambito da histéria dos arquivos e da
arquivologia no Brasil. Trata-se de um amplo e diverso conjunto de trabalhos,
como livros, teses, dissertagdes, artigos, memérias, obras de referéncia, depoi-
mentos, entre outros, produzidos em grande parte nas duas primeiras décadas
do século XXI, e que indicam o crescente interesse da rea no conhecimento
sobre sua trajetéria histérica no pais. Sem a pretensao de realizar um levanta-
mento exaustivo, nosso propésito é apresentar um panorama desses estudos e
trabalhos, localizando elementos que sinalizem possiveis referenciais tedricos,
os temas mais abordados, uma agenda de pesquisa e seus desafios relacionados,
por exemplo, aos métodos e fontes. De infeio, para dar conta do nosso objetivo,
consideramos importante localizar de forma breve o tema da historia dos ar-
quivos e da disciplina no contexto da pesquisa internacional para, em seguida,
apontar e analisar os elementos que caracterizam a produgio brasileira.
Por fim, cabe lembrar o fato de que um ensaio dessa natureza sempre estaré
sujeito a omissées ¢ falhas, em relacao As quais somos inteiramente responsaveis.
1 _Noesforgo de estabelecer uma area tematica, consideramos mais adequado 0 uso do termo que con-
temple a evolugao da arquivologia como disciplina académica, mas também considere a trajet6ria das
instituigdes, centros e servicos de arquivos que, ao longo da histéria, desenvolveram métodos, técnicase
riticas e constituem espagos de construgao de conhecimento arquivistico.
2 _Aandlise cobriu prioritariamente livros, artigos, dissertagdes e teses entre os anos 2000 ¢ 2020, mas
podemos eventualmente fazer mencao a trabalhos anteriores ou posteriores ao periodo estabelecido.
AAcervo, Ro de Janeira, v 95,7. 2. p. 1-98, se ez
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
A pesquisa em arquivologia, temas e tendéncias: o cenario internacional
Com o intuito de tragar um quadro amplo e completo da situacao dessa disci-
plina na pesquisa e na formagao, o canadense Carol Couture langou-se a um
empreendimento académico pioneiro, que resultou na obra La formation et la
recherche en archivistique dans le monde, publicada em 1999.’ Os esforgos de in-
vestigacao da equipe de Couture, da qual fizeram parte Jocelyne Martineau e
Daniel Ducharme, apontavam uma tendéncia para o crescimento da formacao
no ambiente universitrio e da pesquisa na 4rea. Os principais temas que des-
pontaram no levantamento de 1999 foram sistematizados em nove campos de
pesquisa: objeto e finalidade da arquivistica; arquivos e sociedade; histéria dos
arquivos e da arquivistica; fungdes arquivisticas; gestao de programas e servi-
cos de arquivo; tecnologias; suportes e tipos de arquivos; 0 meio profissional;
problemas particulares relacionados aos arquivos (Couture et al., 1999, p. 193).
Uma década depois, a imagem registrada pelo empreendimento académico
do final do século XX parecia ter sofrido alteragées significativas, perdendo re-
levancia. A introdugio de meios tecnoldgicos cada vez maiores nos ambientes
de trabalho, a importancia do processamento e troca de dados, a fragilidade das
novas midias digitais e a crescente expansio do ensino arquivistico na univer-
sidade, entre outros fatores, sinalizavam mudangas. Na visao do renomado ar-
quivista canadense, era preciso verificar, proceder a uma atualiza¢ao dos resul-
tados de 1999 para poder medir a trajetéria coberta, a extensio das mudancas,
bem como as continuidades (Couture; Lajeneusse, 2014, p. 187-188).
O novo empreendimento académico resultou no livro Larchivistique a Vere
du numerique: les éléments fondamentaux de la discipline, escrito em parceria
com Marcel Lajeneusse e publicado em 2014. Entre os intimeros aspectos apon-
tados na obra, sobre os quais nao cabe aqui tratarmos, se destaca a evidéncia de
uma ampla sobreposi¢ao dos temas, comparados com o estudo de 1999. Novos
temas ganharam importancia, alguns trazem as marcas da segunda década do
século XI, como o que se nomeou “anthropologie et sociologie archivistique”
uo tema da “mondialisation de larchivistique” (Couture; Lajeneusse, 2014, p.
218). O estudo destaca tendéncias que influenciaram a pesquisa de forma abran-
gente e sao especificas para o novo perfodo, enquanto outras sao a continuidade
de influéncias ja presentes no final do século XX (p. 216). A primeira dessas ten-
déncias, na qual se destaca o canadense Terry Cook, 6a corrente pés-moderna,
3 0 livre foi publicado no Brasil em 1999, com tradugio de Luis Carlos Lopes e prefiicio de Heloisa
Liberalli Bellotto. Ver: Coutureet al. (1999).
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
que postula uma nova perspectiva sobre os arquivos, entendidos como constru-
cao social, nao natural, e longe de serem testemunhos neutros de nosso passa~
do, mas instrumentos carregados de simbolismo e poder.
Sem perder de vista a presenca de abordagens inovadoras que alcangam 0
coragio da teoria arquivistica, vale chamar atengao para o aumento crescente
do tema da “histéria dos arquivos”, que aparece com destaque na relacao geral
de temas e nos projetos de pesquisa de professores.
Com perspectivas distintas dos trabalhos de Carol Couture, mas apontan-
do na mesma diregao, destacamos o texto de Sue McKemmish e Anne Gilliland
(2013) e mais recentemente o artigo de Huiling Feng, Zhiying Lian, Weimei Pan,
Chunmei Qu, Wenhong Zhou, Ning Wang e Menggiu Li (2021), de universida-
des da China. MeKemmish e Gilliland (2013, p. 79) fornecem uma visio geral da
pesquisa em arquivistica, revisio e reflexao sobre o desenvolvimento histérico,
tendéncias atuais e futuros caminhos. Ao constatarem a répida diversificagao
© expanso da pesquisa na 4rea, as autoras apresentam os referencias filoséfi-
cose teéricos utilizados, tirados da ciéncia arquivistica e de outras disciplinas,
particularmente aqueles que suportam o tratamento e a manutengio de docu-
mentos de arquivo, em diferentes contextos culturais e sociais. O mesmo ocorre
com a identificagio dos métodos e técnicas de pesquisa - incluindo aqueles de-
rivados de outros campos disciplinares-, fundamentais no processo de ensinoe
formago de pesquisadores em arquivistica.
Oartigo das pesquisadorase pesquisadores chineses, contribuigao mais atual
voltada ao tema, tem origem na formagio de um grupo, criado em 2020, para in-
vestigar o status quo dos estudos arquivisticos no pais ¢ na cena internacional,
de maneira a fornecer recomendagoes para os rumos da disciplina nos préximos
cinco anos. Apoiada na combinacao de coleta e andlise de dados da producao aca-
démica‘ e uma survey com especialistas da 4rea, a pesquisa dialoga come atualiza
outros esforcos similares ja mencionados. Os resultados revelam a existéncia de
semelhangas e diferencas entre os temas mais destacados na produgio académica
chinesa e mundial e entre os principais tépicos de pesquisa recomendados para
08 cinco préximos anos, por estudiosos da China e do cenério internacional.
O resultado da pesquisa apontou para um conjunto de 4reas de investigagao
recomendadas tanto por chineses como por especialistas de outros paises. Entre
4 Ouniverso da produgao cientifica cobriu artigos de seis periddicos em lingua inglesa, publicados entre
janeiro de2016 eabril de2020 e posieionadosem A+ ou A, na lista de revistas classificadas segundo eritérios
do Australian Research Council Research Excellence: Archival Science, Archivaria, The American Archivist,
Archives and Manuscripts, Archives and Records e Records Managentent Journal. Apés a utilizago de ferra”
‘mentaeaaplicacao de procedimentos, 372 artigos foram selecionados para anslise (Fengeetal.,2021,p.395)-
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
semelhangas e algumas diferengas, vale destacar a presen¢a da historia, que en-
tre os chineses recebe a denominagio de “history of Chinese archival thinking
and the development of Chinese archival theory”, enquanto para os académicos
internacionais aparece com sua denominagao classica, “history of archives and
the archival discipline” (Feng et al., 2021, p. 402). Para os chineses ¢ necessirio
explorar a histéria das ideias sobre arquivos e gestao de arquivos e desenvol-
ver a teoria arquivistica local a partir do estudo de suas praticas arquivisticas,
comparando estudos arquivisticos nacionais com estudos internacionais (p.
403). A investigacio dos pesquisadores chineses nos revela que os complexos
ambientes digitais devem permanecer no centro das preocupagées da comuni-
dade arquivistica global, contudo, as distintas tematicas ali presentes sempre
demandarao uma revisita 4 histéria dos arquivos e da disciplina, aos conceitos e
prineipios da teoria e & diplomética. Esses campos denominados “tradicionais”
continuarao a cumprir importante fung4o nos préximos anos.
Para finalizar, podemos inferir que hé um potencial de engajamento na
pesquisa em arquivos, que cada vez mais vem direcionando suas abordagens
nao apenas para os aspectos gerenciais e profissionais da pratica arquivistica,
mas também aos fatores disciplinares que mobilizam suas dimensées politica,
social e cultural. Em sintese, se observa uma cultura de pesquisa em amadure-
cimento, com abordagens mais inovadoras e fortalecimento da tendéncia para
colaboracées transdisciplinares (Feng et al., 2021, p. 408).
A pesquisa em historia dos arquivos e da arquivologia: génese e trajetoria
No Brasil, nas duas “ltimas décadas, a pesquisa em arquivologia aleangou um
crescimento significativo, traduzido em teses e dissertagdes produzidas em pro-
gramas de pés-graduagao de diferentes 4reas do conhecimento, como a prépria
arquivologia, a ciéncia da informacao ea histéria. Marques (2018) publicou os re-
sultados de um extenso estudo sobre as pesquisas com tematica arquivistica em
sessenta programas de pés-graduagio stricto sensu no pais, entre as décadas de
1970 e 2010. Ao considerar seu trabalho uma continuidade das iniciativas anterio-
res, de Fonseca (2005) e Marques e Roncaglio (2012), entre outros autores,’ traga
um mapa atualizado da producao cientifica na pés-graduagao com dados quanti:
tativos, acompanhados de reflexdes cruciais sobre a agenda de temas de pesqui-
sa, a luz da realidade brasileira. Nos interessa aqui destacar, entre as conclusdes,
5. Ver Rodrigues Aparicio (2002) e Jardim (2012).
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
da autora, a “necessidade de verticalizacao de estudos que contemplem aspectos
ligados & epistemologia da disciplina”, em sua percep¢io ainda pouco investiga-
dos. Nesse sentido, compartilhamos da mesma visio sobre a preméncia de inves-
timentos em estudos de natureza histérica que permitam uma compreensao da
disciplina, sob o risco de nos tornarmos “reféns de praticas e estudos contingen-
ciais” com pouca capacidade de contribuirem para o “desenvolvimento de seu es-
tatuto tedrico-epistemolégico” (Marques, 2018, p. 28).
Como parte desse processo de crescimento da pesquisa, identificamos 0
surgimento de estudos e trabalhos de natureza diversa que parecem sinalizar
a génese de uma 4rea de investigac’o, na qual as instituigdes arquivisticas, ato-
res, politicas, principios, fundamentos, conceitos, métodos, técnicase praticas
podem constituir-se em objetos de pesquisa suscetiveis a uma abordagem his-
térica. Nosso objetivo é apresentar esse conjunto de trabalhos em uma linha
cronolégica combinada com demarcacées tematicas, destacando autores, apor-
tes tedricos e metodoldgicos, objetos de investigacio e contribuicées tematicas,
natureza dos trabalhos e principais fontes utilizadas.
© amplo espectro de temas e abordagens da sinais do interesse embrionario
pelo que podemos nominar “histéria dos arquivos e da arquivologia”. Desde a
metade dos anos 2000, diferentes pesquisas tém tomado como objeto de andli-
se o percurso histérico da arquivologia no pais, com o intuito de compreender o
processo de institucionalizacao em suas dimensées politicas, técnicas, metodolé-
gicas, sociais e culturais, e sua relacdo com o estatuto cientifico que a disciplina
busca alcangar. Antes de ingressarmos no século XXI, destacam-se, na década de
1990 no Brasil, trés trabalhos académicos desenvolvidos na pés-graduagio, que
cumprem uma fungao original ao estudar as politicas e instituicdes arquivisticas,
mobilizando recursos metodolégicos da histéria e das ciéncias sociais.
© livro Sistemas e politicas piiblicas de arquivos no Brasil," de José Maria
Jardim (1995), tomou como objeto de andlise a opcao brasileira pelo modelo de
Sistema Nacional de Arquivos. A indagacio do autor recai sobre as razdes que
levaram o paisa insistir em um modelo marcado por insucessos, entre as déca-
das de 1960 € 1990, € por uma auséncia na agenda de discussées da comunidade
6 _Ollivro é resultado da dissertacio defendida em 1994, no Programa de Pés-Graduagio em Ciéneia
da Informagio do Instituto Brasileiro de Informagio em Ciéncia e Tecnologia (Ibict) e da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com o titulo Cartografia de uma ordem imaginéria: wma andlise do
Sistema Nacional de Arquivos, sob a orientagao da professora Maria Nélida Gonzdilez de Gomez. Para
‘Jardim (2016), na dissertacio sungiram dimensSes e teméticas que mais adiante seriam aprofundadas no
doutorado, como as politicas piblicas de informaeio, as politicas publicas arquivisticas e o Estado como
campo informacional.
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
arquivistica internacional (p. 29). Para responder as suas questées, Jardim re-
corre aos métodos da histéria, com uma pesquisa significativa em fontes do-
cumentais e uso de entrevistas, a0 mesmo tempo que realiza um esforgo bem-
-sucedido de acionar elementos da ciéncia da informagao, da ciéncia politica e
da antropologia. Foi nessa direcéio que o mesmo autor publicou Transparéncia
€ opacidade do Estado no Brasil: usos ¢ desusos da informagéo governamental
(1999), obra que resultou de sua tese de doutorado. A opacidade informacional
como um componente fundamental para a compreensio do Estado ao longo do
processo histérico brasileiro serviu as indagacées e possibilidades de interpre-
tagao de Jardim (1999). O que ele denomina “deficit de transparéncia do Estado
brasileiro” é analisado como uma construgio social forjada a varias maos por
atores humanos. Além de um capitulo dedicado ao percurso histérico da admi-
nistracao publica federal nas décadas de 1980 e 1990, 0 livro conta com outros
capitulos que revelam as estruturas de arquivos e informacao da mesma admi-
nistracio no contexto posterior 4 Lei de Arquivos de 1991 e a criacio e atuacio
do Conselho Nacional de Arquivos (Conarg). E plausivel afirmar que os livrosde
Jardim abrem uma linha interpretativa no campo da “antropologia do Estado”
ou da sociologia, que passa a ser referéncia para os estudos sobre 0 Estado e as
politicas de informagio e arquivos.
Se os estudos de Jardim (1995, 1999) se debruaram, em uma perspectiva
multidisciplinar, sobre as politicas e as estruturas da administracao publica, foi
com a tese Meméria ¢ administracéo: 0 Arquivo Piblico do Império ea consolida-
gio do Estado brasileiro,* defendida por Célia Leite Costa em 1997, que surgem as
instituigdes como tema de pesquisa sob a abordagem dos métodos da histéria. A
autora parte de um problema: a inexpressiva presenca do Arquivo Nacional na
estrutura administrativa do Estado brasileiro, se mirarmos para sua trajetoria
e nos determos na incipiente politica para arquivos e na fragilidade da institui-
co, no limiar do século XXI. Portanto, na perspectiva de Célia Costa (2000),
se fazia necessario pensar sua funcionalidade em relacao ao Estado, desde suas
origens. Ao partir da premissa que 0 Arquivo Publico, criado em 1838, deveria
7 A tese Os arauivos (in)visiveis: a opacidade informacional do Estado brasileiro foi defendida em 1998,
soba orientario de Maria Nélida Gonzélez de Gémer (Ibict/UFRJ), e publicada noano seguinte (Jardim,
1999). Foi considerada a melhor tese de doutorado em ciéncia da informagao (1998-2000) pela Associaga0
Nacional de Pesquisa e Pés-Graduagao em Ciéncia da Informagao (Ancib).
8 Em sua pesquisa, a autora consultou extensa documentagio (relatérios, correspondéncia, regi-
‘mentos, normas, colecdes particulares e revistas, entre outros materiais) no Arquivo Nacional, Museu
Imperial, Arquivo Histérico do Itamaraty e Instituto Histérico e Geogréfico Brasileiro (IHGB). A tese de
Costa (1997) foi orientada por Manoel Luiz Salgado Guimaraes (UFRJ). Suas ideias centrais constam em
artigo publicado na revista Estudos Histéricos (Costa, 2000).
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
cumprir a dupla misao de fortalecer as estruturas do Estado emergente e con-
solidara ideia do regime monarquico em um contexte continental mareado pela
hegemonia das repablicas, ela observa uma instituigio com sérias dificuldades
para realizar os objetivos tipicos dos arquivos: servir de instrumento & agio ad-
ministrativa dos Estados nacionais emergentes e subsidiar a pesquisa histérica
(p. 218). Na anélise da autora, nao se cumpriu seu cardter instrumental para 0
projeto de Estado da elite politica brasileira.
Ainda sobre a pesquisa de Célia Costa (2000), vale destacar sua anélise do
papel que a heranga patrimonial portuguesa desempenhou na configuragio do
Estado brasileiro. Seus componentes centrais, expressos na forte presenga do
pensamento e da cultura juridica, do corporativismo e da rigidez da hierarquia
social, se combinaram com a politica do “sigilo oficial” e resultaram em um
Estado centralizador e burocratico, que atravessaré o Império e ganhar4 con-
tornos durante o periodo republicano. A compreensio da natureza e das carac-
terfsticas do Estado no Brasil é fundamental para o entendimento do modelo de
instituicio arquivistica que teremos e, nesse sentido, seu estudo apontava desa-
fios para novas investigagdes sobre as relagdes entre transformagées do Estado
e modelo de instituigdes arquivisticas.
Institucionalizacao da arquivologia como disciplina
No contexto internacional, o tema da arquivologia enquanto ciéncia, disciplina
ou area do conhecimento serviu como motivador de estudos dedicados ao exame
de sua trajetéria histérica.’ No Brasil, um dos primeiros trabalhos nessa linha
de anilise é de Maria Odila Fonseca (2005), cujo livro Arquivologia e ciéncia da in-
formacao” considerado uma referéncia, nao apenas pelo esforco de tragar um
panorama histérico das duas areas e travar uma discussio com o pensamento he-
geménico na area dos arquivos, mas de identificar as perspectivas renovadoras
nesse mesmo pensamento, seja pela abordagem que reconhece o momento atual
como 0 de uma mudanga de paradigma, seja por aquela que o identifica como a
ocasiio de inserg’io numa nova “episteme” ~ a da pés-modernidade. O exame das
9. Ocanadense Terry Cook éautordo texto classico "What is past is prologue: history ofarchival ideas
since 1898 and the future paradigm shift”, publicado na revista Archivaria, v. 43, p- 17-63, 1997. Com 0
titulo “O passado é prédigo: uma hist6ria das ideias arquivisticas desde 1898 e a futura mudanca de pa-
radigma’”, o artigo foi publicado na coletanea Pensar os arquivos: ona antologia, organizada por Luciana
Heymann e Leticia Nedel (2018).
10 0 livro teve origem na tese de Fonseca (2004), com orientagio de Maria Nélida Gonzalez de Gémez
(tbict/UFRJ).
AAcervo, Ro de Janeira, v 95,7. 2. p. 1-98, se ez
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
caracteristicas do processo de institucionalizagao da arquivologia no pais, a par-
tirda década de 1970, serve de base para sua reflexio e contribuicao original sobre
os elementos que constituem a 4rea disciplinar da arquivologia no Brasil, em es-
pecial a universidade, a pesquisa, a produgio ea comunicagao cientifica.
O livro de Maria Odila Fonseca (2005) foi um marco nos estudos sobre a ins-
titucionalizagao da arquivologia no Brasil e influenciou outras pesquisas desen-
volvidas posteriormente na pés-graduagao. Uma das publicacdes que se filia a
essa perspectiva é 0 livro de Angelica Marques, A arquivologia brasileir:
por autonomia cientifica no campo da informagao e interlocucées internacionais,
: busea
com edigdes em 2013 ¢ 2019." Trata-se de uma obra inovadora que apresenta a
mais ampla visio panordmica sobre as praticas, as instituigdes, os marcos te
rico-metodoldgicos, politicos e legais, e os espagos de geragao de conhecimento
arquivistico no Brasil ao longo do século XX. Realiza, ao mesmo tempo, um den-
so levantamento de dados e informagées que indicam a configuracao de uma
comunidade cientifica, e revela uma pesquisa inédita sobre a presenga e as and-
lises de especialistas e estudiosos estrangeiros, os diferentes aspectos da reali-
dade brasileira, assim como a circulagio e a apropriagio que fizemos do pensa-
mento arquivistico internacional.”
No caminho aberto por Maria Odila Fonseca, os trabalhos de Angelica
Marques delineiam um tragado histérico-epistemolégico que passa a marcar
seus estudos sobre a institucionalizagao da arquivologia no Brasil.” Nesse as-
pecto, é necessario apontar o papel desempenhado pelos trabalhos de Marques
(2007, 2011, 20132, 2013b, 20172, 2017b, 2017¢, 2018) dedicados & compreensio do
seu processo de institucionalizacdo, a reflexio sobre seu corpus teérico ¢ con-
ceitual, suas relagdes disciplinares, e os embates travados na busca por uma
“autonomia” cientifica e académica, Em meio as diferentes possibilidades te-
miticas, a autora inaugura uma linha de investigago que trata da institucio-
nalizagao da disciplina a partir das relagdes internacionais com um olhar volta-
do as contribuigées e influéncias da Franca nas instituigdes, no pensamento e
11 O livro resultou de sua tese de doutorado (Marques, 2011), defendida sob a orientagao de Georgete
Medleg Rodrigues. A tese foi vencedora do concurso de monografias Maria Odila Fonseca, da Associagao
dos Arquivistas Brasileiros (AB), em sua primeira edieo (2012). No mesmo ano, recebeu ainda os pré-
miosda Ancib, de melhor tese, e da Capes, de melhor tese na area Ciéncias Sociais Aplicadas I.
12 Sobre as influéneias ¢ percepedes de arquivistas estrangeiros que vieram em missio ao Brasil, entre
as décadas de1960. 1980, ver artigo de Luis Calos Lopes (2000/2001). No mesmo artigo, o autor apresenta
‘um panorama dos arquivos e da arquivistica no Bras
13, Suadissertagio de mestrado (Marques, 2007), sob orientagao de Georgete Medleg Rodrigues, ja apon-
tava para o interesse em pesquisas sobre o processo de constituicao da disciplina no pais.
AAcervo, Ro de Janeira, v 95,7. 2. p. 1-98, se ez
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
na producao cientifica brasileira. De sua diversificada producao destacam-se
os trabalhos sobre a gestio do historiador José Honério Rodrigues 4 frente do
Arquivo Nacional, entre 1958 e 1964, ea presenga do arquivista francés Henri
Boullier de Branche na instituig&o, a participagao de brasileiros em cursos, pu-
blicagdes e eventos cientificos franceses, ¢ a circulagio de obras francesas no
meio arquivistico brasileiro.”
Anecessidade de compreender o processo de institucionalizagao da arquivo-
logia significa uma mudanga, uma inflexio, em grande medida influenciada pe-
las pesquisas desenvolvidas nos programas de pés-graduagio, que ampliavam os
contatos com uma literatura internacional. Para tema, os trabalhos de historia~
dores, antropélogos ¢ filésofos identificados com os chamados “estudos sociais
da ciéncia” passam a ser fundamentais para ressaltar os vinculos indissocidveis
entre o pensamento e a aplicacao dos principios tedricos, dos métodos e das pré-
ticas arquivisticas, historicamente construidos, das agdes e estratégias dos seus
principais atores sociais, sejam instituigdes, associacdes, grupos ou individuos.
Sob essa perspectiva histérica e sociolégica, Arquivistica no laboratério: his-
téria, teoria e métodos de uma disciplina, de Paulo Elian dos Santos (2008) é um
estudo de referéncia. Publicada dois anos depois, a tese continha, em um de seus
capitulos, um panorama histérico da arquivologia no Brasil, a partir da década
de 1930, sustentado em bibliografia, pesquisa em arquivos, periédicos, mas so-
bretudo em entrevistas realizadas com um grupo de arquivistas que iniciaram
sua trajetéria profissional nas décadas de 1940 e 1950 ¢ estiveram presentes na
criagio da Associagio dos Arquivistas Brasileiros (AAB), no inicio da década de
1970.” Naquele contexto, a obra oferecia o mais completo panorama da histé-
ria da arquivistica brasileira, qualificando seus agentes e suas matrizes concei-
tuais, e colocava em pauta a importancia de se estudar nao apenas os aspectos
técnicos, mas a dimensao politico-institucional da atuagao do Departamento
Administrativo do Servigo Publico (Dasp), da Fundagao Getiilio Vargas (FGV),
do Arquivo Nacional durante a gest&o de José Honério Rodrigues, e da ABB.
14, Sobre a presenga ¢ influéncia francesa no Arquivo Nacional, merece mencio o artigo de Estevio ¢
Fonseca (2010).
15 Ver Marques (2021); Marques e Praciano (2020); Marques e Ramalho (2021) e Marques e Rodrigues (2017).
16 Atese (Santos, 2008), sob a orientago de Helotsa Liberalli Bellotto, foi publicadaem 2010, com apoio
da Fundasio Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperi)..
17 Nos anos de 2006 ¢ 2007 foram realizadas entrevistas com José Pedro Esposel, Helena Corréa
‘Machado, Marilena Leite Paes ¢ Nilza Teixeira Soares. Com excegio da entrevista com José Pedro
Esposel, as demais foram publicadas. Ver Santos (2010, 2016, 2021).
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
10
lm ensai histor
© lugar das instituicdes: entre os arquivos publicos, a administracao e o
associativismo
Do olhar atento ao papel dessas instituigdes surgiram outros estudos no Ambito
da pés-graduagao que merecem mencio. As dissertagdes de Maria Leonilda Reis
da Silva (2010), Histéria e meméria do Arquivo Central da FGV, e de Yuri Queiroz
Gomes (2011), Processos de institucionalizacao do campo arquivistico no Brasil,
1971-1978, e a tese de Eliezer Pires da Silva (2013), Meméria e discurso do movimen-
to associative na institucionalizagdo do campo arquivistico no Brasil, 1971-1978,"
trilharam 0 caminho de uma renovagio historiogréfica ao mobilizarem os mé-
todos da pesquisa em ciéncias sociais, 0 conceito de meméria e o uso de fontes
documentais. Se, por um lado, Maria Leonilda Reis da Silva (2010) narra com de-
talhes todo o percurso de criacao e legitimagao do sistema de arquivos da FGV
sob a lideranga de Marilena Leite Paes, a partir do final da década de 1950, Yuri
Gomes (201) e Eliezer Silva (2013) se debrugam sobre a atuagio da AAB, que de-
sempenhou, ao longo da década de 1970, papel central na institucionalizacéo da
arquivologia no pais e na constituigio de uma comunidade profissional que reu-
nia arquivistas, bibliotecdrios, historiadores, advogados e administradores, en-
tre outros que compartilhavam de um mesmo projeto. A promogao, a partir de
1972, dos congressos brasileiros de arquivologia; a lideranga nos esforcos para a
criagéo do curso universitario e a regulamentagao da profissao; e a publicacio
da revista Arquivo & Administragao sio evidéncias de uma grande capacidade de
apoio politico e mobilizagio de estruturas institucionais e recursos demonstrada
pelo movimento associative naquele perfodo. Os trabalhos de Eliezer Silva e Yuri
Gomes nos oferecem ainda uma interpretacao original e uma operagio tedrica
dificil e ousada, ao utilizarem o conceito de campo, de Pierre Bourdieu, introdu-
zindo aideia de um “campo arquivistico”, espaco marcado por relagdes de poder,
disputas e busca por posicdes, no qual atuam individuos, coletivos e instituicdes.
Entre as instituigdes que passaram a ser objeto de estudo encontra-se 0
Dasp, criado em 1938, durante o Estado Novo, com a tarefa de empreender um
projeto modernizador capaz de viabilizar a separagio entre politica e adminis-
tracdo, no contexto de forte centralizagio do poder na Presidéneia da Republica.
Em nossa perspectiva, o érgao foi agente promotor de agdes que configuram
a génese da fase moderna do conhecimento arquivistico, traduzido em técni-
cas, métodose praticas, e destinado a encontrar lugar na administracéo publica
18 A dissertagio de Silva (2010) foi defendida sob a orientagiio de Leticia Borges Nedel. A dissertagio de
Gomes (2011) ea tese de Silva (2013) foram defendidas sob a orientagio deEcléia Thiesen (Unirio) eEvelyn
G. Dill Orico (Unirio), respectivamente.
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
1
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
reformada (Santos, 2018). Para viabilizar essa fungao, fez uso de diversos ins-
trumentos, como as publicacées oficiais.
Fonte de propagagao da doutrina do Dasp e repositério oficial da reforma
administrativa em marcha na década de 1930, a Revista do Servigo Pidblico (RSP)
foi instrumento das ideias “daspianas” em matéria de documentagio admi-
nistrativa, arquivo e biblioteca. £ de Eliane Bezerra Lima (2019) a dissertagao
Arquivologia nas paginas da Revista do Seruico Piiblico, 1960-1989," que analisa
a institucionalizagao da arquivologia no Brasil a partir de sua presenca na RSP,
entre os anos de 1960 e 1989. Periédico mais antigo em circulagio no pais, volta-
do a difusao de conhecimentos relacionados ao Estado, a administragao cienti-
fica e gestio governamental, a RSP serviu de apoio as ages do Dasp e acompa-
nhouas transformacées das estruturas estatais. A autora transita por um largo
periodo histérico, desde a década de 1930, e nos oferece uma andlise detalhada
de seu conteiido, verificando a presenga e a abordagem dos diferentes temas ar-
quivisticos. Sobre a mesma RSP vale mencionar o estudo de Fonseca e Bezerra
(2018), “Arquivos e documentagio publica: a tematica arquivistica na Revista do
Servico Pablico, 1938-1945”, no qual também pretendem examinar a recorréncia
das questées arquivisticas, de forma a medir as reais preocupagées ou compro-
missos do Dasp com uma pauta de mudangas na gestio dos documentos e ar-
quivos. Na visio dos autores, a andlise do material publicado revela tais preo-
cupagées, contudo, afirmam no ser possivel “aquilatar sua influéncia sobre as
instituicdes arquivisticas” (Fonseca; Bezerra, 2018, p. 447).
Os dois trabalhos dedicados ao exame da presenga de temas arquivisticos
na Revista do Servico Publico apresentam inovagées, que cabe destacarmos: a
primeira reside no fato de acolherem a ideia dos periédicos como lugares de
institucionalizagao de conhecimentos disciplinares e legitimagao de grupos, e
a segunda, no tratamento que dio a esse tipo de fonte documental para a com-
preensio do processo histérico.
O Arquivo Nacional, principal institui¢ao arquivistica do pais ea gestaoino-
vadora de José Honério Rodrigues, entre 1958 e 1964, nao poderiam escapar da
anélise atenta dos estudos realizados na universidade e nos centros de pesquisa.
Na segunda década de século XXI, dissertacées, projetos de pesquisa e artigos se
debrugam sobre diferentes aspectos e iniciativas do historiador que tomou para
sua gestio a tarefa de reposicionar o Arquivo no centro da administracio puibli-
ca. Buzzatti (2015), Santos e Lima (2016), Marques e Rodrigues (2017), Marques e
19. Dissertagao (Lima, 2019) defendida com a orientagao de Ivana Denise Parrela (UFMG).
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
12
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
Ramalho (2021) e Marques (2020), apoiados em pesquisa nos arquivos, dirigem
suas anélises para essa quadra da histéria do Arquivo Nacional e analisam o pri-
meiro diagnéstico da principal instituigao arquivistica do pais. Sem se pren-
derem ao relatério publicado em 1959, esses autores buscaram langar luz sobre
um plano de agiio que contemplava a elaboracdo do projeto do Sistema Nacional
de Arquivos e a consequente aproximagao do Arquivo Nacional com os érgaos
da administragao publica federal, a presenga de especialistas estrangeiros, a in-
fluéncia francesa, a formacio profissional, a tradugio de uma série de obras de
referéncia internacional e a criagao de Curso Permanente de Arquivos (CPA),
que representou experiéncia seminal de sistematizagio do conhecimento ar-
quivistico em formato curricular e deu origem ao primeiro curso universitarie
de arquivologia, na década de 1970.
A dissertagao de Buzzatti (2013), voltada ao estudo das relagdes entre pes-
quisa histérica e téenicas de arquivo no contexto da reforma administrativa em-
preendida por José Honério Rodrigues, se destaca no conjunto dos trabalhos. 0
autor identifica, nas alteragdes provocadas pela introdugao de prineipios e pré-
ticas da arquivologia moderna, evidéncias de mudanga do modelo institucio-
nal. Mesmo reconhecendo o sucesso parcial das iniciativas de “modernizacio”
da gestio do historiador, aponta para uma reorientagdo da finalidade da insti-
tuigao. De certo, novos estudos devem ampliar o conhecimento do periodo e 0
legado da sua administracao.
Sobre a nogio de “modernizagio” de arquivos, a pesquisa de Buzzatti (2015)
traz elementos de interesse para um cotejamento com outros trabalhos que fa~
zem uso do termo, contextualizado por Jardim (2014) em texto no qual traga um
panorama da arquivologia brasileira na década de 1980 e analisa as transforma-
ges ocorridas no Arquivo Nacional, sob a gestdo de Celina Vargas do Amaral
Peixoto, entre 1980 e 1990.
A despeito da longa trajetéria histérica iniciada noImpério, ahistoriografia so-
bre o Arquivo Nacional tem se concentrado na gest’o José Honério Rodrigues, en-
tre 1958 e 1964. Algumas pesquisas mais recentes, desenvolvidas em programas de
pés-graduagao em hist6ria, passaram a dirigir sua atencao para outros perfodos.
trabalho de Louise Glaber Sousa (2015), Entre a administracao e a historia: 0 lugar do
Arquivo Piblico do Império nos projetos de modernizagao do Estado na década de 1870,
investiga o lugar que o Arquivo ocupou na administragao e como espaco dedieado a
hist6ria ea meméria nacional durante a gestio de Joaquim Pires Machado Portella
(0873-1898), concentrando sua atengéio na anéllise da década de 1870, periodo de re~
formas em diferentes érgios de governo. Ainda na primeira metade dos anos 2010,
deve ser mencionada a contribuigao de Mariana Simées Lourengo (2014), que se
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
13
Um ensaio histor
dedicou ao estudo das publicacdes do Arquivo Nacional a partir de uma discussao
central sobre a producio editorial das instituigdes de patriménio, em especial os
arquivos. Em sua perspectiva, ao operar um trabalho “historiografico-editorial de
selegio, critica e edigao” de documentos, o Arquivo deixava de ser apenas uma ins-
tituigdo de guarda e incorporava as suas fungées o lugar de produgio historiogr4-
fica.” Na mesma década, Renata Barbatho (2018) fez um estudo sobre a instituigao
durante a ditadura do Estado Novo, resultado de sua tese de doutorado, cuja anali-
se se direcionou as principais caracteristicas do Arquivo Nacional durante a gestio
de Eugénio Vilhena de Moraes, entre 1938 e 1945, perfodo no qual a instituigao se
destacou com uma dupla fungio. Para Barbatho, além de espelhar internamente
parte das praticas centralizadoras do governo Getilio Vargas, a instituicao ainda
foi mobilizada para atender duas faces do projeto de nagio estado-novista: de mo-
dernizagao da administragao publica e de exaltagao da nagao.”
Na histéria da arquivologia no Brasil, as instituigdes arquivisticas ~ em par-
ticular, os arquivos ptiblicos - ainda carecem de pesquisas mais sistematicas. Ha
ainda um longo caminho para aleangarmos uma visio mais global dessa traje-
téria histérica, de forma a rompermos os limites do eixo Rio-Sao Paulo. Nesse
sentido, podemos citar as contribuigées de Shirley do Prado Carvalhédo (2003),
Janice Gongalves (2006), Josemar Melo (2006), Ivana Parrela (2009), Maria
Teresa de Britto Matos e Rita de Cassia Rosado (2012; 2013), Taiguara Aldabalde
e Georgete Rodrigues (2019), e Maria Celia Fernandes (201).
A dissertacio de Carvalhédo (2003), 0 arquivo Piblico do Distrito Federal:
contextos, concepcées e praticas informacionais de uma instituigéo arquivisti-
ca, éum trabalho consistente, que, ancorado em pesquisa bibliografica, docu-
mental e entrevistas, examina os antecedentes, a criagio e a trajetéria de uma
instituicao arquivistica publica, estabelecendo o pano de fundo dos diferentes
contextos politicos, sociais e culturais do Brasil e do Distrito Federal, que de al-
guma maneira influenciaram sua histéria.
E de Janice Gongalves (2006) um dos textos mais inovadores sobre as rela-
ges entre historiadores, historiografia e arquivos piiblicos. A autora focaliza a
20. Aspesquisasde Louise Glaber Sousa (2015) ede Mariana Simdes Lourengo (2014) foram realizadas sob
a orientacio de Gisele Martins Venancio (UFF).
21 A tese de Barbatho (2018) foi defendida sob a orientagio de Tania Maria Tavares Bessone da Cruz
Ferreira Uer}) e coorientacio de Vitor Manoel Marques da Fonseca (UFF),
22 Ver “Apresentagao”, de Santos e Fonseca (2021).
aah Smestasio de Carvathédo (2003) fot defend so a rientagio de Georgste Med Rodrigues
(Unb).
24. Atese de Goncalves (2006) foi defendida sob a orientagio de Ana Maria de Almeida Camargo (USP).
AAcervo, Ro de Janeira, v 95,7. 2. p. 1-98, se ez
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
4
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
historiografia sobre Santa Catarina, problematizando suas tensoes, a forte pre-
senga do Instituto Histérico e Geografico de Santa Catarina (IHGSC), eas condi-
ges e locais de produgio de trabalhos de carter histérico. Apoiada em extensa
pesquisa nos arquivos, noticidrio de imprensa, publicagées periddicas, legisla-
gio, teses e depoimentos orais, Janice Gongalves produz uma escrita detalhada
do processo de institucionalizagao dos arquivos piiblicos em Santa Catarina, na
segunda metade do século XX, e sua dinamica na relacao com a administragao,
a histéria, a historiografia, a meméria e os direitos. Ao assumir 0 desafio de
adotar o conceito de campo de Pierre Bourdieu, a autora se propés a estudar os
processos de constituigao e interagao de dois campos profissionais ~ 0 “campo
historiografico” e o “campo arquivistico” ~ e produziu uma contribuigao origi
nal para a hist6ria das instituigdes arquivisticas e da historiografia.
Outra pesquisa de grande relevancia é Entre arquivos, bibliotecas e museu
construcio do patriménio documental para a escrita da historia da patria mineira,
1895-1937, de Ivana Parrela (2009). No contexto histérico e politico de criagio da
nova capital do estado de Minas Gerais, a proposta da autora é investigar os ele-
mentos que orientaram a concepgao e organizagio do Arquive Piiblico Mineiro
(APM), conduzidas por José Pedro Xavier da Veiga, seu primeiro diretor. As ba-
ses legais apoiadas na reforma do Arquivo Piblico Nacional de 1893, a linha de
acervo vislumbrada e suas formas de tratamento conformaram um projeto que
estabeleceu aquilo que deveria ser essencial da meméria de Minas Gerais. Para
Parrela, as escolhas de recolhimento e aquisicao de conjuntos documentais,
quando da criagao do APM, foram pautadas por narrativas de um grupo de ato-
res sobre a histéria patria e motivagdes que acabariam por influenciar os cami-
nhos futuros da pesquisa hist6rica.”*
Na segunda década do século XXI, a historiografia sobre os arquivos publi-
cos ganharia novos estudos, com destaque para os artigos de Maria Teresa de
Britto Matos sobre o Arquivo Pitblico do Estado da Bahia (Apeb). Nos primeiros
trabalhos, publicados com Rita de Cassia Rosado, encontramos uma descrigao
dos processos de criagio e de institucionalizagao do Apeb, a partir dos cinco re-
gulamentos e regimentos formulados entre as décadas de 1890 e 1980.” Mais re-
centemente, Matos (2018, 2020) vem conduzindo seus estudos para a analise da
5 A tese de Parrela (2009), com orientago de Eliana Regina de Freitas Dutra (UFMG), foi publicada
fem 2012, com o titulo Patriménio documental e escrita de wma historia da patria regional: Arquivo Pablico
Mineiro, 1895-1937. Para uma anslise sobre as origens das bases legais que orientaram a criagio do APM,
ver artigo de Venineio (2012).
26 Ver Matos; Rosado (2012, 2013).
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
18
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
gestao do historiador Luis Henrique Dias Tavares a frente do Apeb, entre 1959 e
1969. Apoiada na literatura e ampla pesquisa nos fundos documentais do arqui-
vo pitblico, a autora identifica um corpo de iniciativas, tais como o projeto de
reestruturagao legal da instituigio; a criagao do curso de formagao de arquivis-
tas, do Conselho de Assisténcia Técnica aos Arquivos e da Biblioteca Francisco
Vicente Vianna; e a elaboracao e publicagao do Guia do Apeb, que a faz consi-
derar o historiador um “gestor pioneiro da governanga arquivistica na Bahia”
(Matos, 2018, p. 147).
Cumpre aqui lembrar que a gestdo Luis Henrique Tavares aconteceu no
mesmo periodo em que outro historiador, José Honério Rodrigues, estava &
frente do Arquivo Nacional e, portanto, abrem-se perspectivas de anilises so-
bre interagées, troca de informagées e semelhangas programiticas. Esse as-
pecto nao escapou a abordagem do trabalho de Paulo José Viana de Alencar
(2021), A primeira Reunido Interamericana de Arquivos e sua influéncia no desen-
volvimento tedrico-pratico da arquivologia brasileira. Resultado de sua disserta-
go de mestrado,” a pesquisa de Alencar se debruga sobre a Primeira Reuniao
Interamericana de Arquivos (Pria), realizada em outubro de 1961, nos Estados
Unidos, promovida pelo National Archives and Records Service (NARS) com
apoio do Department of State, além dos patrocinios da Rockefeller Foundation
e da Organizacao dos Estados Americanos (OBA). Nesse evento, organizado por
T. R. Schellenberg (BUA) e Gunnar Mendoza (Bolivia), estiveram presentes re-
presentantes de diversos arquivos nacionais para debater questdes teérico-me-
todolégicas que repercutiram no desenvolvimento da arquivologia na América
Latina. O autor analisa a organizagao do evento, suas discussées, atores envolvi-
dos e recomendacées finais, de modo a compreender as influéncias da Pria nas
medidas implantadas nas gestdes de José Honério Rodrigues e Luis Henrique
Dias Tavares, participantes brasileiros na reuniao.
Taiguara Aldabalde e Georgete Rodrigues (2019), no artigo “Revisitando 0
trajeto institucional do Arquivo Publico do Estado do Espirito Santo: as praticas
eos usos das origens imperiais ‘ocultas’ ao inicio da Primeira Republica”, estu-
dam as origens da instituicio para identificar quais sio os principais marcos
temporais, praticas e usos para a construgao de sua identidade. Ao compulsar
os documentos da prépria instituicao, os autores identificam o contexto politi
co de sua fundacao, revelam dados sobre a presenca de arquivistas, assim como
praticas arquivisticas legadas 4 atualidade.
27 A dissertagio de Alencar (2021) foi desenvolvida sob a orientagio de Clarissa Moreira Schmidt (UFF)
‘eagraciada com o Prémio Maria Odila Fonseca de melhor dissertagio, edigao 2021.
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
16
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
O mesmo Arquivo Publico do Estado do Espirito Santo (APEES) foi objeto
da tese de Taiguara Aldabalde (2015),** que procurou identificar as diferentes
praticas de mediacao cultural em suas sucessivas gestdes, no periodo de 1985 a
2015, bem come discutir a instituigo arquivistica como lugar de cultura. Para o
mapeamento dos tipos de praticas de mediagao cultural, tais como efemérides
e visitas de escolas, o autor realizou uma ampla pesquisa documental no fundo
do proprio APEES, o que demonstra o potencial de uso dessas fontes para com-
preensio dos mais diversos aspectos da histéria das instituicdes.
Ainda no campo dos estudos sobre os arquivos piblicos, deve ser destacada
a tese de Josemar Henrique de Melo (2006), A ideia de arquivo: a Secretaria do
Governo da Capitania de Pernambuco (1687-1809), com enfoque na identificagao
e estudo da Secretaria do Governo da Capitania de Pernambuco como um “sis-
tema de informagao” constituido na relagéo metropole-colénia. Nesse proces-
so, o autor apresenta a estrutura da capitania de Pernambuco com 0 propésito
de estabelecer a interface entre as atividades administrativas do governo dessa
capitania com as séries documentais por ela produzidas e recebidas. A partir do
estudo, que compreendeu pesquisas no Arquivo da Torre do Tombo e nos cédi-
ces da Secretaria de Governo disponiveis no Arquivo Publico Estadual Jordao
Emerenciano, o autor péde estabelecer a ordenagao de suas séries, identifican-
do também as inter-relacdes com arquivos portugueses, de forma que o conjun-
to documental pudesse refletir a estrutura na qual se encontrava inserido. E do
mesmo autor o artigo publicado na revista Ciéncia da Informacao, “Os acervos
coloniais ¢ os secretarios de governo das capitanias: o inicio dos arquivos no
Brasil”. Com o intuito de compreender e apresentar as tipologias documentais
ea forma como foram criados os primeiros arquivos brasileiros, Melo (2015)
analisa a estrutura de produgao, tramita¢ao e guarda dos documentos no pe-
riodo colonial a partir dos secretarios de governo das capitanias, que atuavam
no despacho ena organizacio dos documentos dos governadores. Associadas de
forma estreita As necessidades de identificagao e organizacao dos fundos docu-
mentais, a linha de investigagao e a metodologia podem ampliar o conhecimen-
to sobre a trajetéria das instituicdes arquivisticas estaduais.
A histéria dos arquivos ptiblicos estaduais e municipais avanga a partir de
estudos concebidos no ambito da universidade e da pés-graduacaéo, mas tam-
bém de projetos das préprias instituicSes. Como contribuicdes relevantes para o
28 Atesede Aldabalde (2015) foi defendida sob a orientagao de Georgete Medleg Rodrigues (UnB).
29 O trabalho de doutoramento de Melo (2006) foi desenvolvido sob a orientagio de Fernanda Ribeiro
(Universidade do Porto).
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
Ww
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
conhecimento da trajetéria dos arquivos piiblicos, devem ser lembradas as obras
Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro: a travessia da “arca grande e boa” na histéria ca-
rioca e Memérias do Rio: 0 Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro em sua trajeto-
ria republicana (2011), que propiciam aos estudiosos do tema acesso a uma grande
quantidade de valiosas informagées, depoimentos de ex-dirigentes da instituigio,
além do conhecimento de corpos documentais importantes. Obras que transitam
entre os terrenos da histéria e da meméria, as publicagdes do Arquivo Geral da
Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ) podem estimular novos estudos sobre arquivos
municipais, respeitadas suas caracteristicas singulares, ao abrigar acervos de uma
cidade que foi sede, capital e centro politico-administrativo do pais de 1763 1960.”
Formagao, ensino superior e eventos de arquivologia
A atribuigdo de formar arquivistas, em dado momento, esteve sob a respon-
sabilidade de uma instituig&o arquivistica. Foi assim que, no inicio da década
de 1960, o Arquivo Nacional implantou 0 Curso Permanente de Arquivo (CPA),
na intengio de atender uma das recomendagées do relatério do francés Henri
Boullier de Branche. No entanto, a temética da formagio e do ensino de arqui-
vologia sob um enfoque histérico nao tem, até o momento, alcangado o interes-
se dos pesquisadores. Sao rarosos trabalhos dedicados ao tema, que para alguns
tem seu marco de referéncia em 1911, quando ocorreu a primeira tentativa de
formacio por meio do curso de diplomatica voltado aos funcionarios do Arquivo
Nacional.” Um exemplo dessa linha de abordagem ¢ o estudo de Augusto Moreno
Maia (2006) A construgao do Curso de Arquivologia da Unirio: dos primeiros pas-
sos @ maturidade universitdria?, que percorre a trajetéria do Arquivo Nacional
para compreender a presenga ou a auséncia do tema na pauta institucional e as
poucas iniciativas que tém como marcos os anos de 1911 e197, quando o CPA foi
transferido para a entao Federacao das Escolas Federais Isoladas do Estado do
Rio de Janeiro (Fefierj), atual Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(Unirio), e passou a ser denominado Curso de Arquivologia.
© marco cronolégico de 1911 para o ensino nao encontra sustentagio nas
pesquisas. A formagao de arquivistas de nivel superior ou destinados as tarefas
30. Em1960, coma transferéncia da capital federal para Brasilia, a cidade do Rio de Janeiro foi transfor-
‘mada no estado da Guanabara, condi¢aoem que permaneceu até 1975,
31 Em.ign, o decreto n, 9.197, de 9 de janeiro, estabeleceu o regulamento do Arquivo Nacional, Em seu
artigo 10°, previu o curso de diplomatica, que por fatores pouco conhecidos nao se concretizou. Em.1922,
coma cria¢ao do Museu Histérico Nacional (MHN), as atribuicdes do referido curso teriam sido absorvi-
das pelo curso téenico oferecido pela nova instituicao. Ver Maia (2006, p. 65-66).
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
18
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
executivas comecou efetivamente a ser objeto de cursos regulares, avulsos ou de
carter permanente, no inicio da década de 1960, sobretudo apésa criagao do CPA
no Arquivo Nacional. As tinicas excegdes antes disso foram dois cursos promovi-
dos pela administracao de José Honério Rodrigues em 1959, com apoio do Dasp,
© segundo contando com a participagio do arquivista francés Henri Boullier de
Branche, em missao de trabalho no pais. Esse enfoque que defendemos localiza
na experiéncia do Arquivo Nacional, durante cerca de 15 anos, as rafzes, a génese
da institucionalizagao do ensino da disciplina, sem desconsiderar as transforma-
des operadas posteriormente pelas instituicdes universitdrias, a partir da déca-
da de 1970, e a necessidade de pesquisas sobre o préprio CPA.
Um trabalho que deve ser citado é o de Gabrielle de Souza Carvalho Tanus
e Carlos Alberto Avila de Aratijo (2013). No artigo “O ensino da arquivologia no
Brasil: fases e influéncias”, os autores nos oferecem uma ampla revisao de lite-
ratura com o objetivo de abordar a trajetéria histérica do ensino da arquivologia
e delinear suas influéncias e fases, desde a implantacao do primeiro curso até os
dias atuais. Estimulados pelo crescimento recente dos cursos de graduagao da
disciplina, os autores denominam essa nova fase de “académico-institucional”,
e localizam sua matriz na diversidade de espacos universitarios onde os cursos
de arquivologia estio abrigados e na proximidade a outros cursos, sobretudo de
biblioteconomia, museologia e ciéncia da informacao. Preocupados em estudar
aspectos epistemolégicos e curriculares, Tanus e Araiijo, assim como outros au-
tores, tendem a recuperar a evolucao do ensino de arquivologia, enfocando sua
trajetéria institucional desde o inicio do século XX.
Os cursos universitarios, as sociedades profissionais, os periddicos, assim
como os eventos cientificos e as agéncias de fomento sio estruturas formais que
fornecem os componentes sociais de que uma disciplina precisa para possuir
uma identidade. No nosso entendimento, conhecer a evolucio dessas estrutu-
ras formais em uma perspectiva histérica é parte de uma agenda de pesquisa
atualizada, que necessita refletir sobre o saber e as praticas da arquivologia. Aos
poucos trabalhos sobre as associagées profissionais e cursos universitarios j4
mencionados soma-se 0 livro de Mariza Bottino (2014), 0 legado dos congressos
brasileiros de arquivologia (1972-2000): uma contribuigao para o estudo do cenario
32 Para conhecera presenga ea atuagao de Boullier de Branche no Arquivo Nacional, ver Santos (2014);
‘Marques; Ramalho (2021)
33 Para 0 enfoque que analisa a experiéneia de formagdo em arquivologia conduzida pelo Arquivo
‘Nacional, ver Santos (2014). Para um panorama da formagio nos Estados Unidos, Reino Unido, Canada e
Franca, assim como a trajet6ria e os desafios da formagao na graduagio ena pés-graduacao no Brasil, ver
artigo de Georgete Medleg Rodrigues (2006).
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
19
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
arquivistico nacional. Realizado com significativa regularidade entre 1972
2012, trata-se do evento cientifico mais representative da area, que serviu como
espago de expresso de suas agendas politicas, tedricas, metodolégicas e téeni-
case, portanto, de suas mudangas e permanéncias por quatro décadas. O traba~
Iho de Mariza Bottino é uma descrigao de 13 edicdes do congresso, concentran-
do sua andlise nas recomendacées ~ em que medida foram implementadas ou
“esquecidas pela comunidade cientifica” e os possiveis pontos de “falha” em um.
processo mareado por propostas recorrentes ao longo dos anos.
Esforgo de pesquisa semelhante foi empreendido por Katia Isabelli Melo
¢ Aline da Cruz Cardoso (2018), que se propdem a abordar o protagonismo do
arquivista em 16 edigdes do Congreso Brasileiro de Arquivologia (1972-2012) e
oito edigdes do Congresso Nacional de Arquivologia (2004-2018). Ao explora-
rem as discussdes sobre os aspectos que envolvem a formacao, o associativismo
e 0 mercado de trabalho do arquivista, as autoras utilizaram documentos dos
congressos, identificaram a dispersio dessas mesmas fontes e apontaram uma
maior presenca do tema dos arquivos publicos em detrimento do tema do profis-
sional arquivista. Mais recentemente, Ana Célia Navarro (2021) publicou o arti-
go “Os congressos de arquivologia do Mercosul ea participagao brasileira”, com
0 objetivo de apresentar um panorama histérico dos congressos, especialmen-
te do primeiro e daqueles realizados no Brasil. Evento que nasceu de iniciativa
conjunta da Faculdade de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM) e de duas organizacées argentinas, o Archivo General de la Provincia de
Entre Rios e a Asociacién de Archiveros de Santa Fe, o Congresso do Mercosul é
uma experiéncia de cooperagio e intercambio que ainda carece de anélises mais
aprofundadas sobre seus possiveis efeitos na arquivistica regional.
A literatura especializada que se propée a analisar aspectos histéricos da ar-
quivologia no Brasil tem dado pouca atencao 20 papel desempenhado pelo ensi-
no, pelos periddicos e eventos cientificos no processo de institucionalizacao da
disciplina. Outros temas como 0 associativismo sao um pouco mais recorrentes
e se beneficiaram do uso de referéneias tedricas, conceituais e metodolégicas
da histéria, da meméria e da sociologia.”* 0 conceito de “campo”, do socidlogo
34 ©Congresso Brasileiro de Arquivologia tevesua primeira edigioem1972, promovido pela Associago
dos Arquivistas Brasileiros (AB), criada um ano antes. Sua tltima edigao foi em 2012. O Congreso
Nacional de Arquivologia acontece desde 2004 e tera sua 9* edigao em 2022, sob a organizagioo geral do
Forum Nacional das Associagdes de Arquivologia do Brasil (Fnarq). As duas entidades sempre procura-
ram realizar os eventos em parceira com nticleos regionais ou associagées estaduais, além de outras ins-
tituigdes. Ver Melo; Cardoso (2018).
35. Autores como Robert Merton, Thomas Kuhn, Bruno Latour e Pierre Bourdieu, para citar os princi-
pais nomes, possuem trabalhos basilares que estabeleceram marcos tedrico-metodolégicos e ensejaram
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
20
lm ensai histor
Pierre Bourdieu, empregado por Gomes (2011) e Silva (2013) para compreender 0
conjunto de atores em disputa no jogo de forcas da década de 1970, é uma abor-
dagem ousada e inovadora, ainda que a ideia de um “campo arquivistico” possa
ser questionada e necessite de argumentos mais sélidos.
Politicas publicas de arquivos
Outro tema para o qual devemos dirigir nossa atengio é o das politicas de ar-
quivos. As formulagdes acerca das politicas puiblicas de arquivos no pais encon-
traram nos trabalhos de José Maria Jardim uma matriz em diélogo constante
com as ciéncias sociais. Em suas pesquisas emerge uma linha de interpretacio
que utiliza o arcabougo conceitual da ciéneia politica com uma contribuigio
substantiva na abordagem das politicas piblicas arquivisticas (Jardim, 2006;
2013b), dos arquivos estaduais (Jardim, 2011) e da implantacao da Lei de Acesso
& Informagio (Jardim, 2013}; Jardim et al., 2016)"
A partir de uma outra perspectiva, Renato Pinto Venincio (2014) analisa as poli-
ticas piiblicas com enfoque direcionado para a administragio publica na Reptiblica e
apresenga das estruturas e fungdes arquivisticasa partir de recortes teméticos ou por
esfera de governo. Nas suas pesquisas, a gestio publica, as reformas administrativas,
a legislacao e as instituicdes e servigos arquivisticos s4o abordados & luz do método
histdrico e de sua relacao com a arquivologia. Nessa linha de interpretagio, 0 traba-
Iho “Arquivos universitdrios no Brasil: esboco de uma cronologia”, publicado na co-
letanea organizada pelo proprio autor e Adalson Nascimento, é uma inflexio original
sobre a legislagio federal relacionada a questo dos arquivos no ambite do ensino fe-
deral superior, desde o surgimento das primeiras “universidades” na década de 1920.
Nessa mesma linha esté o texto “Uma trajet6ria interrompida: 0 Arquivo Nacional
na legislago republicana, 1889-1937", no qual Ven4ncio (2013) procura demonstrar
como, antes da expansio da estrutura do Estado brasileiro, no periodo pés-1930, 0
Arquivo Nacional desempenhou varios servigos arquivisticos eadministrativos. Para
© autor, esse quadro foi sendo modificado em razio da evolugao interna da institui-
do, assim como das mudangas verificadas na propria administragao publica federal.
Ao deslocarem a reflexao da esfera federal para Minas Gerais, Venancio e
Barbosa (2018) exploram a relagao entre a hist6ria das instituicdes. os processos
1 formacao de correntes do pensamento sociolégico sobre a atividade cientifica. Conceitos como éthos
cientifico, ciéncia normal, campo cientifico, comunidade cientifica, capital cientifico, capital simbslico,
entre outros, devem ser apropriados por pesquisadores da area arquivistica.
36 Sezinando, Jardim e Silva (2016).
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
21
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
de constituigao dos fundos de arquivo. No artigo “Como surgem os fundos ar-
quivisticos: administracio publica e produgio documental em Minas Gerais”,
a escolha reeai sobre o fundo Secretaria de Viac&o e Obras Piiblicas, original-
mente denominado como Secretaria de Estado dos Negécios da Viagio e Obras
Publicas, custodiado pelo Arquivo Publico Mineiro. Segundo os autores, apoia-
dos em pesquisa documental e legislativa, o emprego do método histérico é fun-
damental para a compreensao dos procedimentos que dao origem aos fundos
arquivisticos custodiados nos arquivos publicos.
A participagio social ao longo da histéria politica brasileira tem sido objeto
de interesse de historiadorese cientistas sociais, especialmente a partir da déca-
da de 1970. Um dos marcos recentes dessa histéria foi a Assembleia Constituinte
de 1987/1988, na qual a participagio da sociedade no desenho, implementagao e
controle social das politicas ptiblicas se revelou intensa e determinante. Dentre
0s diferentes instrumentos de participacao social, destacam-se as conferéncias
nacionais, que se transformaram em espagos puiblicos ampliados e reafirma-
ram a ideia de que as politicas piblicas sio mais do que iniciativas centralizadas
no Estado e dotadas essencialmente de instrumentos técnicos e burocraticos.
No século XXI, essa visio vem sendo substitufda gradualmente por abordagens
que convergem para uma maior complexidade e integralidade desses processos,
que obrigatoriamente devem envolver diferentes atores da sociedade.
Em 2011, no contexto de uma mobilizacao de diversos segmentos da comu-
nidade arquivistica, de entidades cientificas e da sociedade contra a transfe-
réncia do Arquivo Nacional da Casa Civil da Presidéncia da Reptilia para 0
Ministério da Justiga, foi convocada a 14 Conferéncia Nacional de Arquivos (1*
Cnarq), que ocorreu no final daquele ano. Esse proceso politico tinico e singular
experimentado pela rea de arquivos foi objeto da tese 1* Cnarq: a Conferéneia
Nacional de Arquivos e a construcao de uma politica nacional para os arquivos
brasileiros, de Sheila Margareth Teixeira Adio (2017)2” No trabalho, a autora
procura situara construgéo da politica nacional de arquivos no ciclo de politicas
ptiblicas, mapear o arcabougo juridico que demonstra o interesse piiblico pelos
arquivos no Brasil e identificar a agao politica do Arquivo Nacional, do Conarq
e de outros agentes do campo arquivistico em defesa da elaboragao de leis e po-
liticas piblicas. A partir do cendrio desenhado, Adio faz uma anilise da Cnarq
37 A tese de Adio (2017) foi defendida sob a orientagio de Renato Pinto Venaneio (UFMG). No mesmo
ano, Sheila Margareth Teixeira Adio e Renato Venincio publicaram o artigo “O papel da 1* Conferéncia
Nacional de Arquivos (Chara) no processo de construcao de uma politica de estado para os arquivos bra-
sileiros” na revista Pesquisa Brasileira em Ciéncia da Informacao e biblioteconomia, v.12, p. 145-154, 2017.
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
22
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
e conclui que o insucesso de suas deliberacoes — sem influéncia nas decisoes do
governo - se deve a fatores como 0 contexto politico desfavoravel, a baixa par-
ticipagao da sociedade civil na conferéncia e a descontinuidade da mobilizagao
e das acées de pressio por parte dos atores sociais no periodo pés-conferéncia.
Outro trabalho dedicado ao tema da participagio social na formulagio
das politicas arquivisticas é 0 artigo de Diego Barbosa da Silva (2015) “Onde
esta a sociedade civil na politica nacional de arquivos?”. Trata-se de um traba-
tho original na temética das politicas piblicas ao reunir e sistematizar dados
sobre 0 Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), a 1* Conferéncia Nacional
de Arquivos (Cnarq), realizada em 20n1, e 0 Colegiado Setorial de Arquivos do
Conselho Nacional de Politica Cultural, formado em 2012, e realizar uma ana-
lise comparativa com canais e instrumentos de participagio social, conselhos e
conferéncias de outros setores da administragao publica federal.
tema das politicas puiblicas de arquivos, em uma perspectiva histérica,
pode ser tratado sob diferentes dimensdes. Ainda que nao guardem relagio di-
reta com as politicas de arquivo, abordagens sobre a patrimonializagao dos ar-
quivos sio bem-vindas e podem abrir linhas de investigagao com influéncias,
por exemplo, no conhecimento sobre a histéria dos arquivos piblicos, dos cen-
tros de documentagao e memédria e da relagdo das politicas de arquivo com as
politicas de patriménio cultural. Nesse sentido, a tese de Cougo Junior (2021) A
patrimonializacao cultural de arquivos no Brasil" é uma pesquisa original que
se debruca sobre o tema de forma a desvelar os agentes sociais envolvidos na
patrimonializagao, assim como suas praticas, discursos e acdes. Ao cobrir dois
séculosde histéria, Cougo Junior produz uma visao panoramicae identifica um
conjunto de “atos performativos”, dentre os quais se incluem o tombamento, a
declaragao de interesse publico e social e 0 reconhecimento por meio do pro-
grama Meméria do Mundo, da Unesco. No texto, tracos histéricos essenciais do
Estado brasileiro e das politicas piblicas de arquivos ajudam a compreender os
limites, as contradi¢des e os impasses presentes nos processos de patrimoniali-
zagio, e abrem perspectivas de novas investigacées.
Neste artigo, trouxemos até o momento um amplo leque de trabalhos sobre os
arquivos e a arquivologia no Brasil tratados como problema de pesquisa, sob uma
perspectiva histérica. Sao capitulos em livros, artigos, dissertagdes e teses que pre-
tenderam investigar a trajetéria das instituigdes, do conhecimento e das praticas
arquivisticas no pais. Somam-se a esses trabalhos algumas poucas iniciativas que
38 A tese de Cougo Junior (2021) foi orientada por Renata Overnhausen Albernaz (UFPel)e coorientada
por Ramén Alberch Fugueras (Archiveros sin Fronteras).
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
23
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
visaram produzir obras coletivas, reunindo diferentes estudos sob uma mesma
chave temitica ou de preocupagées teéricas, epistemoldgicas e historiogrificas.
Dessa forma, surgiu o livro Histéria da arquivologia no Brasil: instituigdes,
associativismo e producao cientifica (2014), reunindo textos de professores uni-
versitérios e pesquisadores que, em oito capitulos, analisam o papel das insti-
tuigdes; a contribuigao de entidades e personalidades estrangeiras; a criagao e
atuacao da AAB na década de 1970; o panorama dos arquivos na década de 1980;
ea producio recente de conhecimento em arquivologia. Para Venancio (2015),
esse “primeiro desenho do que poderia ser definido como a formagao da arqui-
vologia contempordnea no Brasil” foi também inovador ao optar pela “hist
ria-problema”, aquela que “identifica temas, recorre a conceitos teéricos ¢ a
hipéteses para compreendé-los e explicé-los”. Essa opcéio, contudo, comporta
desafios de natureza cronoldgica e metodoldgica, por exemplo, para uma abor-
dagem da arquivologia e de seus fatos e eventos.
Duas outras iniciativas merecem destaque: os dossiés tematicos “Histériae
Arquivo”, de 2018, publicado na Revista Brasileira de Historia, e “Histéria da ar-
quivologia no Brasil: instituigdes, atores e dinamica social”, de 2021, publicado
na revista Acervo. Mais do que a reafirmagio e a diversidade dos temas, a inova-
ao das abordagens, a necessidade de coletar depoimentos e a potencialidade de
futuras pesquisas no uso dos “arquivos dos arquivos” (VenAncio; Fleiter, 2018),
© ponto mais significativo desses estudos e textos é ressaltar o reposicionamen-
to das relacées disciplinares entre a arquivologia e a histéria. A constituicio de
uma area de estudos em historia dos arquivos e da arquivologia deve, entre ou-
tras tarefas, aprofundar o emprego do método histérico no conjunto de instru-
mentos e técnicas de pesquisa em arquivologia.
Algumas iniciativas institucionais podem também contemplar preocupa-
ges de natureza histérica e memorialistica. Duas obras, pelo menos, devem
servir de referéncia e inspiracao para outros empreendimentos dessa natureza.
A primeira retine um conjunto de artigos, capitulos de livros, entrevistas, con-
feréncias e pronunciamentos inéditos da professora Heloisa Liberalli Bellotto
ao longo de sua trajetéria de mais de quatro décadas de pesquisa e ensino em ar-
quivologia. Como contribuigao a evolugao dos estudos e dos métodos arquivis-
ticos no pais, Arquivo: estudos e reflexdes (2014)” é uma obra pioneira que lanca
luz sobre uma das mais representativas personagens do pensamento brasileiro
na area.
39. O livro integra a Colegao Arquivo (Editora UFMG), dirigida por Renato Pinto Venancio.
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
£ da Camara dos Deputados a obra A Camara dos Deputados e a arquivisti-
ca brasileira (1970-2000),*° que guarda alguma semelhanga com a iniciativa da
UEMG. Em decorréncia da sua significativa tradigio na preservagio dos arqui-
vos € na aplicagao de métodos e técnicas sustentados pelas mais abalizadas re-
feréncias da doutrina arquivistica internacional, por muito tempo a Camara
dos Deputados serviu de modelo a diferentes érgaos da administracao publica.
Destinado a contemplar em seu eixo central os diferentes aspectos da estrutura-
cao funcionamento do sistema de arquivos e da gestio de documentos da ins-
tituigao, o livro, organizado pelo arquivista Vanderlei Batista dos Santos, retine
textos de Nilza Teixeira Soares,“ Maria Aparecida Silveira dos Santos, Astréade
Moares e Castro“ e Frederico Silveira dos Santos,* profissionais do corpo téc-
nico da casa que exerceram atividades a partir da década de 1950. Vale destacar
no livro os estudos de Nilza Teixeira Soares sobre controle da produgao docu-
mental, avaliagao, selecao e eliminacao de documentos, que ocupam um espaco
privilegiado em sua produgio, marcada pela adogao cuidadosa de critérios me-
todoldgicos e rigor téenico.
Consideragées finais
Uma reflexao sobre a produgao historiografica relativa 4 histéria dos arquivos eda
arquivologia nos conduz de imediato a destacar trabalhos de referéncia obrigaté-
ria. Quer pelo pioneirismo de suas contribuigdes, quer pela influéncia que exerceu
nos debates nos anos posteriores, merece destaque a obra de Maria Odila Fonseca
(2005), em que se inaugura uma linha de investigagdes preocupada em entender a
trajetéria da disciplina, suas relagdes com outros campos disciplinares, sua busca
por uma identidade, um estatuto cientifico ou académico, em sintese, um lugar no
mundo da ciéncia. Mas outros inimeros estudos trouxeram contribuicdes para a
histéria dos arquivos e da arquivologia sem necessariamente percorrerem o cami-
nho da institucionalizagio cientifica, conforme procuramos demonstrar.
No que se refere aos aspectos teéricos e metodolégicos, consideramos ne-
cessarios estudos que analisem os referenciais teéricos utilizados ao longo do
40. Ver Camara dos Deputados (2017)
41 Sobre a trajetéria da arquivista e bibliotecaria Nilza Teixeira Soares, ver entrevista publicada na re-
Vista Acervo (Santos, 2016),
42. Sobrea trajetéria da arquivista Astréa de Moares ¢ Castro, ver seu livro de memérias (Castro, 2008).
43 Foi chefe da Segio de Avaliagao e Recolhimento da Coordenagio de Arquivos da Camara dos
Deputados.
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
25
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
tempo pela nossa arquivologia. Isso vale para a segunda metade do século XX se
quisermos examinar a produgio da universidade, mas também fora da univer-
sidade, e identificar quais foram as referéncias tedricas que alimentaram boa
parte da reflexdo sobre os arquives.
Do ponto de vista das abordagens e dos referenciais tedricos e conceituais,
externos ao pensamento arquivistico, julgamos importante o dominio da ampla
literatura sobre a institucionalizagao da ciéncia, sobretudo aquela que tem sua
origem nos chamados “estudos sociais das ciéncias” e procura compreender a
trajetéria de campos disciplinares, 0 modus operandi da ciéncia, dos cientistas,
das instituigdes cientificas, dos elementos que definem o éthos, enfim, uma sé-
rie de aspectos que envolvem a conformagio de espacos institucionais, como os
periédicos cientificos, os processos de comunicagio da ciéneia, a circulagio dos
saberes, os métodos e as praticas.
Ainda no que se refere aos aspectos tedricos e metodolégicos, é indiscutivel
que estamos analisando uma area de investigacao na qual o método histérico é
fundamental e est presente do ponto de vista do manuseio de fontes documen-
tais, sobretudo de arquivos, da critica ao documento edo uso da metodologia da
histéria oral.
Ao longo do artigo trouxemos uma diversidade de trabalhos que, longe de
esgotarem as possibilidades de pesquisa, abordam a trajetéria histérica da disci
plina, da formacao e do ensino, do associativismo profissional, das instituigdes
— sejam arquivos piblicos ou outros érgios e centros dedicados ao tratamento
dos arquivos -, dos eventos cientificos e das politicas puiblicas. Contudo, essa
agenda de pesquisa pode ser incrementada e absorver um conjunto de temas e
desafios que passamos a destacar: 1) a historia dos principios, dos fundamentos,
dos conceitos e das chamadas “fungdes arquivisticas” & luz dos métodos, técni-
cas, praticas e aplicagdes que mobilizamos historicamente no tratamento dos
arquivos; 2) a histéria da produgao de conhecimento, da producio cientifica no
campo dos arquivos, que é marcada pela presenga da universidade nas duas til-
timas décadas, mas é muito mais longeva e est presente em outros espacos ins-
titucionais que nos legaram manuais, guias, catalogos, instrumentos técnicos
e outras intimeras obras de referéncia; 3) a ideia da circulagao e apropriagao de
saberes arquivisticos, da cooperacao, das relagées entre paises, das missdes de
profissionais e trocas bilaterais ou de blocos econémicos, ou perspectivas re-
gionais, como da América Latina e Caribe; 4) uma hist6ria das instituigdes que
abrigam arquivos, sobretudo arquivos pessoais, e nao se configuram como cen-
tros ou servigos arquivisticos vinculados & estrutura da administragdo publi-
ca. No Brasil, bibliotecas, centros de meméria e museus so espagos com longa
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
26
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
trajetéria no tratamento de arquivos e produgao de conhecimento; 5) trajet6-
rias e biografias de personagens da arquivologia, pensadas de maneira articu-
lada ao seu contexto histérico, social, cultural e teenolégico e aos problemas
arquivisticos do seu tempo. Aqui, as entrevistas realizadas com base no método
da histéria oral podem cumprir um papel fundamental.
Contudo, nao realizaremos essa agenda de pesquisas e novos estudos se nao
tivermos acesso, compulsarmos, e fizermos uso sistematico de fontes de arqui-
vos. 0 Arquivo Nacional continuaré a ser um importante centro de preservacio
de fundos de arquivos para pesquisas. Destacamos o seu préprio arquivo, o fun
do do Departamento Administrativo do Servigo Ptblico (Dasp) e, mais recente-
mente, o acervo da Associagao dos Arquivistas Brasileiros (AAB), com registros
de suas atividades desde a década de 1970, em especial os congressos de arquivo-
logia ea edigao da revista Arquivo & Administragdo. Outra fonte inestimével para
a década de 1970 é a publicacéo Mensdrio do Arquivo Nacional (MAN).* Ao mes-
mo tempo, devemos dedicar atencio aos arquivos institucionais dos arquivos
estaduais e municipais, fontes de informagio sobre suas histérias, suas ativi-
dades e constituic&o dos seus acervos. Cumpre também mencionar os arquives
das associagdes profissionais que ainda esto em plena atuagio, algumas delas
sucessoras dos niicleos regionais da AAB, como a Associagao de Arquivistas de
Sao Paulo (ARQ-SP).
Os arquivos das universidades compreendem um outro universo muito
sensivel para o qual devemos dirigir esforgos. Nao apenas sob o ponto de vis-
tada trajetéria da disciplina nas universidades onde existe o curso superior de
arquivologia, mas do reconhecimento dessas instituigdes como espagos de pré-
ticas arquivisticas, de adogao de politicas, métodos, programas arquivisticos,
e lécus privilegiado para centros e nticleos de meméria e documentagao custo-
diadores de arquivos privados e, em alguns casos, de conjuntos documentais de
érgaos da administracao publica.
Um outro aspecto que merece um olhar atento e uma aco colaborativa e
cooperativa de instituigdes e pesquisadores é a necessidade de identifiear, reu-
nir e preservar arquivos pessoais de arquivistas, docentes e outros profissionais
com trajetdria na area. Ainda nao dispomos de iniciativas dessa natureza e esta-
mos sob 0 risco de perder acervos que contemplam trajetérias individuais, mas
também projetos coletivos para os arquivos e a arquivologia.*
44 Pode ser acessado pela Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional em: http:/memoria.bnbr/
DocReader/docreader. aspx? bib=005959éepast a=ano%20197&pesq=&pagfis=0.
45. Fato de grande relevncia foi a doagio do arquivo e da biblioteca pessoal de José Pedro Esposel para
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
27
lm ensai historogréficn sobre histxia das arquivas e da arquvologia no Bras: balang e perspectvas
Ainda sobre os arquivos dos centros de meméria e documentagao, nossa
atengao deve também se dirigir aos que se encontram fora das universidades
e por décadas vém desempenhando um papel destacado na trajetoria da arqui-
vologia no Brasil, como a Fundagio Casa de Rui Barbosa, o Centro de Pesquisa
Documentagao de Histéria Contemporinea do Brasil (Cpdoe/FGV), a Casa de
Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) e o Museu de Astronomia e Ciéncias Afins (Mast).
Nos referimos também aos arquivos de instituicdes detentoras de fundos do-
cumentais, como a Biblioteca Nacional, museus federais e outros museus e bi-
bliotecas. A estas, soma-se o Instituto Histérico e Geografico Brasileiro (IHGB),
um centro de arquivos com uma trajetéria que nos remete ao século XIX, assim
como osinstitutos histéricos e geogréficos estaduais, que funcionam como cen-
tros arquivisticos em muitos estados e capitais do pais.
£ importante, nesse processo, identificarmos fontes documentais que se-
ro fundamentais para diferentes pesquisas histéricas. Percebemos que alguns
trabalhos sem o uso de fontes de arquivo estarao sempre limitados na possibili-
dade de explorar aspectos novos para conhecimento da histéria dos arquivos e
da arquivologia no pais. Nesse sentido, a preservacao e o acesso aos arquivos das
instituigdes arquivisticas ¢ central.
Nossa intencio foi ultrapassar os limites convencionais da numeragio de
uma diversidade de obras e autores. f preciso abrir esse leque para estudarmos as
grandes influéncias, os principais marcos e ampliarmos aos poucos as fronteiras
jd estabelecidas no tema da histéria dos arquivose da arquivologia. Mas a despei
to de toda diversidade, o que surge desses trabalhos é o potencial da pesquisa em
perspectiva histérica, capaz de renovar o conhecimento da area sobre sua traje-
toria e influenciar discussdes, reflexdes e desafios da arquivologia na atualidade.
‘a Coordenagio do Curso de Arquivologia da Universidade Federal Fluminense (UEF), em fevereiro de
2023, Historiador, arquivista e ex-professor da universidade, José Esposel (1931-2018) desempenhou pa-
pel de destaque na formagao de arquivistas, na eriacio da AB e na militancia em defesa dos arquivos.
Ver Schmidt; Alencar (2022).
AAcervo, Ro de Janeira, v 95,7. 2. p. 1-98, se ez
Indepencénoias: 200 anos de histéria enistriogratia
Paulo Robert Elian dos Santos
lm ensai historiogréficn sobre &histvia das aquivas e
Referéncias
ADAO, S. M.'T.14 CNARQ: a Confortneia Nacional de
Arquivos construcio de uma politica nzeional
‘paras arquivos brasileiros. Teso (Doutorado em
Citneia da Informagio) - Universidade Pederal
de Minas Gerais, Bolo Horizonte, 2017. Dispontvel
‘om: https:/repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/
BUBD-AXWLKC/1/tese_eompleta_eom_fi
cha_1 pdf. Acesso em: 25 jul. 2022.
ALDABALDE, T. V.; RODRIGUES, G. M. Revisitando
© trajeto institucional do Arquivo Péblico do
Estado do Espirito Santo: as priticas @ 0s usos
das origens imperiais “ocultas” 20 infcio da pri-
rmeira ropdblica. Agora: Arquivologia em debs-
te, Hlorianépolis, v. 30. n. 60, p. 148-162, 2019.
Disponivel em: https:fagora.emnuvens.com.br/
ry/article/view/882/pd. Acosso em: 25 jul. 022.
ALDABALDE, T. V. Mediagao cultural em instituigdes
arquivisticas: 0 caso do Arquivo Péblico do Estado
do Espltito Santo. Tese (Doutorado em Cidneia da
Informario) - Universidade de Brasilia, Brasilia,
2015. Disponivel em: https:frepositorio.unb.br/
hhandle/10483/19742. Acesso em: 25 jul. 2022.
ALENCAR, P. J. V.A primetra Reunido Interamericana
de Arquivosesuainfluéncia no desenvolvimento ted
ico-pritico da arquivologia brasileira, Dissertacto
(Mestrado em Ciéncia da Informagio) —
Universidade Pederal Pluminense, Niter6i, 2021.
Disponivel em: hrtps:/fapp.utf.br/riuff/hand-
Ie/t/az7s. Acesso em: 25 jul. 2022.
BARBATHO, R. R. G. O Arquivo Nacional no Estailo
Novo: 2 gestio de Bugtnio Vilhena de Moraes
‘entre 1938 01945, Tose (Doutorado om Histéria) ~
Universidade do Bstado do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2018.
BELLOTTO, H. L. Arquivo: estudos o reflexdes. Belo
Horizonte: UPMG, 2014.
BOTTINO, M. 0 legado dos congressos brasileiros de
arquivologia (1972-2000): uma contribuigao para
‘estudo do cendrio arquivistico nacional. Rio de
Janeiro: FGV, 2014.
BRASIL. Congresso Nacional. Camara dos Deputados..
‘A Cimara dos Deputados ¢ a arqulvistiea brasileira
(4920-2000). Brasilia: CAmara das Deputados, 2017.
Disponfvel om: https:/bd.camaractog.br/bd/han-
dle/bdeamara/34421. Acesso em: 25 ul. 2022.
BUZZATTI, J.V.T. Daméquinaeruditaainstituigao ar
‘quivistica: rupturas e continuidades nas relagSes
AAcervo, lo de Janeira, v.95, n 9. p. 1-98, set lez. 2022
Incepenctnoias: 209 anos de histéria © niatoringrania
entre pesquisa histérica ¢ téenicas de arquiv
0 caso da reforma administrativa do Arquivo
‘Nacional (1958-1964). Dissertagio (Mestrado em
Histéria) - Universidade Foderal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, 2015. Dispontvel em: https/f
lume.ufrgs be/handle/toi84/i34114. Acesso em:
25jul.2022.
CARVALHEDO, . P. 0 arquivo Pablico do Distrito
Federal: contextos, concepgdes © préticas in-
formacionais de uma institui¢ao arquivis-
tica. Dissertagio (Mestrado em Cifneia da
Informaca0) - Universidade de Brasilia. Brasilia,
12003. Dispontvel em: https:/epositorio.unb.br/
hhandle/1o482/36073. Aeesso em: 25 jul. 3022.
CASTRO, A. M. Arquivologia: sua trajetéria no Brasil.
a0 Paulo: Stile, 2008.
COOK, - passado é prdlogo: uma hist6ria dasideias
arquivisticas desde 1898 e a futura mudanga de
paradigm, In: HEYMANN, L.; NEDEL,L. (ed).
Pensar os arquivos: uma antologia. Rio de Janeiro:
FGV, 2018. .17-81.
COSTA, C. 0 Arquivo Pablico do Império: 0 legado ab-
solutista na construgso da nacionslidade. Estudos
ist6ricos, Rio de Janeiro, v.14. n. 26, p. 217-231,
2000, Disponivel em: https:/bibliotecadigital.
figv.br/ojs/index.php/reh article/view/2129/126.
‘Acesso em: 25 jul. 2022,
COSTA, C. Meméria © administragio: © Arquivo
Piiblico doImpérioeaconsolidagaodoestadobra-
sileiro. Tese (Doutorado em Histéria) ~ Instituto
de Filosofia © Ciéncias Sociais, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1997.
Disponivel em: https:/pantheon.usij.br/bits-
tream/n1422/1334/1/467438.pdl, Acesso em: 25
jul. 2022,
COUGO JUNIOR, F. A.A patrimonializapao cultural de
arquivos no Brasil. Tese (Doutorado em Meméria
Social e Patriménio Cultural) - Instituto de
Cidncias Humanas, Universidade Federal de
Pelotas, Pelotas, 2023. Disponivel em: http:
quaiaca.ufpel.edu.br/bitstream/prefix/7423/1/
‘Tose_Francisco_Alcides_Cougo_Junior.péf.
‘Acesso em: 25 jul. 2022
COUTURE, C.; LAJENEUSSE, M. Larchivistique @
Tere du numérique: les éléments fondamentaux de
la discipline. Québec: Presses de "Université du
Québec, 2014.
28
Paulo Robert Elian dos Santos
lm ensai historiogréficn sobre &histvia das aquivas e
COUTURE, C.; MARTINEAU, J.; DUCHARME, D. A
Jormagio € a pesauisa em arquivistiea no mundo
‘contempordneo. Brasilia: Finatec, 199.
ESTEVAO, S. N. M.: FONSECA, V. M. M, A Franga
€ 0 Arquivo Nacional do Brasil. Acervo, Rio de
Janeiro, v. 23, n. 1, p. 81408, 2010. Dispontvel
‘om; http: /[revistaacervo.an.gov.br/index. php/
revistaacervo/article/view/42/42. Acesso em: 25
jul. 2022.
FENG, H.: LIAN, Z.; PAN, W. et al. Retrospect and
prospect: the research landscape of archival stu
dies. ArchSei[s.LJ,¥.21,n.4,p.391-All,Dec. 2021,
DOI: hittps:fMdoi.org/0.1007/810502-021-09364-1.
Disponivel em: ttps:/www.researchgate.net/
publication/351835103 Retrospect. and_pros
pect_the_research_landscape_of_archival_stu-
dies. Acesso em: 8 go. 2022.
FERNANDES, M. C. Arquivo da Cidade do Rio de
Janeiro: a travessia da “arca grande ¢ boa” na
histéria carioca, Rio de Janeiro: Secretaria
Municipal do Cultura, Arquivo Geral da Cidade
Você também pode gostar
- Trabalho Final de Pesquisa Em ArquivologiaDocumento1 páginaTrabalho Final de Pesquisa Em ArquivologiaWellington NonatoAinda não há avaliações
- ATIVIDADEDocumento1 páginaATIVIDADEWellington NonatoAinda não há avaliações
- Entre a teoria e a prática a atuação no mercado de trabalho dos estagiários e egressos do curso de arquivologia da Universidade Federal de Minas GeraisDocumento17 páginasEntre a teoria e a prática a atuação no mercado de trabalho dos estagiários e egressos do curso de arquivologia da Universidade Federal de Minas GeraisWellington NonatoAinda não há avaliações
- Atividade Avaliativa Disseminação Da InformaçãoDocumento2 páginasAtividade Avaliativa Disseminação Da InformaçãoWellington NonatoAinda não há avaliações
- Atividade - Roteiro para Análise de Teses e DissertaçõesDocumento5 páginasAtividade - Roteiro para Análise de Teses e DissertaçõesWellington NonatoAinda não há avaliações
- Classificação de Documentos PessoaisDocumento1 páginaClassificação de Documentos PessoaisWellington NonatoAinda não há avaliações
- 1 Arquivos Servem Pra QueDocumento2 páginas1 Arquivos Servem Pra QueWellington NonatoAinda não há avaliações
- Sobre Região SudesteDocumento5 páginasSobre Região SudesteWellington NonatoAinda não há avaliações
- Compra e Venda 1Documento1 páginaCompra e Venda 1Wellington NonatoAinda não há avaliações
- Memorial Descritivo T.G.819Documento11 páginasMemorial Descritivo T.G.819Wellington NonatoAinda não há avaliações
- Memorial Descritivo Ol.m.Documento10 páginasMemorial Descritivo Ol.m.Wellington NonatoAinda não há avaliações
- Lev ArqDocumento1 páginaLev ArqWellington NonatoAinda não há avaliações