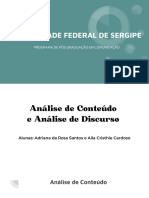Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A MAQUINA DE ESPERAR - Mauricio Lissovsky - Intro-Cap2
A MAQUINA DE ESPERAR - Mauricio Lissovsky - Intro-Cap2
Enviado por
Aíla Cristhie0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
39 visualizações34 páginasTítulo original
A MAQUINA DE ESPERAR - Mauricio Lissovsky - intro-cap2 (1) (1)
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
39 visualizações34 páginasA MAQUINA DE ESPERAR - Mauricio Lissovsky - Intro-Cap2
A MAQUINA DE ESPERAR - Mauricio Lissovsky - Intro-Cap2
Enviado por
Aíla CristhieDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 34
ORIGEM E ESTETICA
DA FOTOGRAFIA MODERNA
Mauricio Lissoysky
Desde logo, as primeiras reflexées
sobre a fotografia assinalaram sua
dimensBo magica, A esse respeito,
dois aspectos foram costumeiramen-
te ressaltados: 0 mistério da imagem
latenie ~ que fazia surgir, do nada, 0
mundo quea cdmera havie feito desa-
parecer em seu interior ~ e 0 milagre
dda permanéncia ~ que conferia eter-
nidace as circunstancias efémeres da
existénca. Mas nenhume dessas
duas caracteristicas nos fala da magia
répria do instantneo. A fotografia,
depois de tirada, € 0 coelho {a saido
da certola. Sua verdadelra magia sé
pode estar em algum momento ante:
ror, auando a varinha ia esté erguida
© estranhes forcas se conjugam, no
interior escuro da cartola, A partir de
uma concepgo imanente do instan-
te, este livro percorre as obras de
alguns dos matores fotégrafos do
século XX, para encontrar, no modo
‘como esperam, no seu passe de magl-
ca, a origem dos aspectos formais de
suas imagens,
Copyright @ by Mauricio Lissoeshy, 2008
Pediat 2010)
Direitos desta edigio reservados &
“MAUAD Fatoes Lda
Rus Jongum Silva, 9, 9° andar
Lapa — Rio de Inet — RJ — CEP: 20241-110
‘Tels Qn) 2479-1422 — 21) 97675-1026
‘wovwemauad come
Projo Gritco:
Naclea de Arte/Mauad Béitora
(Cur Brasi, CataLouarto-saFoxre
Sniotcaro Nacional bos Borronss De Livtos, BJ
Snr
Lissovsky, Manco
‘A miquine de espe: origem ¢ exon da fotografia modema
“Marcio Lissovsky- Rio de Janeito : Mauad X, 2008,
Incl bibliograia
ISDN 979-85.7478.2029
1. Potogrfi- Histia~ Seoul XIX. 2. Fotégrafos. Titulo
opeasas, cpp:770
cpu7T
SUMARIO
Introdugio
1. Invisibilidade e originalidade da fotografia moderna
2. Da fotografia como refim do tempo
a0 surgimento de instantinco
3. Primeira dissertacio sobre o aspecto fotogriifico
4. Aspectos clissicas do pOr-se fora do tempo
5. Segunda dissertacZo sobre o aspecto fotogrifieo:
a miquina de expectar
6.4 inquictude do instante e seus aspectos
7. Terecira dissertaco sobre o aspecto fotogritic
Augenblick
8. No coragiio do instante
Conclusto:
Por uma antogénece dae acpector fotogrificos
Bibliogratia
33
B
”
47
147
157
197
us
=
A Maquine 0: Eovena
Introdugéo
Tradicionalmente, toda investigago nasce de uma pergunta, da qual eos
tuma decarrer uma hipdtese, cuja validag3o a pesquisa busca empreender.
‘Sempre tive uma enorme faseinagao por essas perguntas inaugurais. HA uma
‘aura em tomno delas, as quais se costuma associat a intuigio do verdadeiro
cientista. © grande hersi modeto das perguntas foi, inquestionavelmente,
Albert Einstein. Ao perguntar-se “E se fosse eu que estivesse eaiindo em vez.
dda maga?" numa famosa inversdo de ponto de vista -, teria aberto caminho
para a criagao da Teoria da Relatividade Geral, uma radical e profunda revi-
silo da teoria da gravitagio, monumento maior da fisica newtoniana.
Mas de todas as perguntas inaugurais, eélebres ou obscuras, a minha fa-
Vorita foi formulada por Antonin Artaud. O dramaturgo conta a histéria de
\um nobre cujos dominios estendiam-se por toda uma ilha, Numa noite, ele
sonha que um navio ancora no porto espalhando a peste pela populagto lo-
cal, que se consome em corrupsiio c desgraga, Na manha seguinte, € infor-
‘mado que uma embarcago mercante, vinda do Oriente, pede lieenga para
atracar. Tomado de horror, envia uma canhoneira ao seu encalgo, exigindo
‘que se afuste, Escorragado, o navio parte para Marselha, desencadeando ali
‘uma das mais terriveis ondas de peste que a Europa conheceu, Pergunta-se
Artaud: como foi possive! que a peste tenha aparecido de forma tio viva,
‘em todos os seus aspectos, no sonho do principe, sem que ele tenha sido
contaminado? Em outras palavras: como a peste pde propagar sua ima-
‘gem sem propagar asi mesma? Essa pergunta, surpreendente, equivoca por
natureza, 6 ponto de partida de um magnifico ensaio sobre a peste e o seu
imaginario.*
ARTAUD, Antonin. O"Teatro e peste. In: The Theater and its double. New York:
Grove Press, 1981.
Introdugao
AN invetigagio que aqui apresento tem a pretensdo deter nascio de
uma pergunia dose tipo, ainda que de aeance bem mais modest, uma
prgunta acerca do instatineo fotogréfico. Pode sr assim resunida GD
‘Na sua simplicidade, SagBergunta eseondsaleuns pressupostas
ro dele é;admitindo-se que a fotografia sej, como quase unanimemente
se afrma, una “enperiéncis” to caracteristicamente modems, no &pos-
sivel conceber uma experiéncia sem duragdo, tal como se costuma definir
0 instante O segundo, um pouco mais idiossinertico, € que a pastir da
década de 1980, @RHRBHIBDornou-sesaco de pancadas favorito de es-
tudos “culturais” e "de genero”, do desconstrucionismo, do neomarximo
¢ de outa tants dissplinas © vertents teéricas ent emergents, tendo
sido praticamente banido da retérica dos curadores ¢ criticos de arte. De~
nunciouse 0 inslantaaeo por ser “"mistifcador”, “machista", “lusionist”,
institucionalzaste, “ideoloa-
cainentecomprometid” e,acima de tudo, “vulgar”. A cada nova obra de
revisto critica ehistrica da fotografia o nstuntneo esteve sempre ali dis
ponfvel para reeeber mais um pontape terico em seus vis fandamentos.
ipretensamente objetivo”, “canonizante”,
‘Apés duas décadas de temporada de casa académica ao instantineo,
considerei que podia ter chegado a hora de resgatar um pouco da sua di
nidade, Parece ter havido ali, na experigncia moderna da fotografia, um
vigor que ainda hoje nos atravessa, uma mensagem que ainda nos toca,
tama conformagio do nosso altar de tal modo difanéida que tornou impro-
‘vel, ainda hoje, visar uma fotografia a nfo ser com olhos modemos.
coi olhos modernos que reencontranos a forografia do século XIX. FE si0
nossosoihas medemos que mos pennies nour diferenya Us Tots
“de are” contemporinen*
TA curacko, esclarece Deleuze, "ndo apenas experiéncia vivida; 6 também
‘experiéncia alargada ou leveda adiante; @ & j8 uma condico da experséncia.”
DELEUZE, Gilles. Bergsonicm, Nova York: Zane Books, 1991, 37,
> Um bom exemple desta debra do modemo sobre o olhar contemporsneo & 0
juizo do ertico Ancy Grunberg acerca da fotografia abstrata: *... 2 fotografia
‘a mais representadonal das artes, é fnalmente incapaz de se tomar abstrata,
Em ver disso, ela serve para representar 9 idela de abstracio, 0 que no final do
A Miguia oe Esters
cont essa prevalecia da experincia modems que se insurgirant
tebrcos como Artindo Machado, para quem “apesar da eescentedigai-
zal doprocnan foil es ig om ule, gr pro oa cals
tericas e profisionaispermanecepaalisada pela mstica do ‘liqu’, do
‘momento dcisivo, do instante mdgic em que o obturador psc, deizan.
do queatuzenme na clmerae enable o filme”. Amisien do instante
fez-com que “grande parte do proceso fotogfico” tena sido “eclpsado
pela hipertrofa do (GSH REEERSD,*
A mistiadostantnen, que Machado se refere, omergiu em resposta
8 tensto supa noadoulo XIX com o aparecimento da clmcm ftogrf-
ca Tesenuraeve-e vaio, “pel pelle veda sir”, um moo
imagem representacionalleivel ou siniiatvaineiromeonte
Ess circustincia teria questionndo QE
inclusive, come imagen ores) porgus es eal
Teamente almmavaa tll secundsriedade do sje" *O cansiangimenio
da situs era sentido pelos propriosftdgratos, Nader, caja eameira eve
inicio em 1853, escreveu: fotografia € uma descoberta maravilhosa.
ma cicia qu alain ot more infects, una ale que exis menies
acnte-6 ura qe peeve tod or qualguet aos
No admira assistamos hoje, nos mesmos marcos teéricos em que a
desconstrugdo do instantineo tem curso, a redescoberta do pictorialismo
oitocentista, movimento que pretendia distinguir seus adeptos dos fordgra-
fos “passivos", contrapor a subjetividade do “artista-fotdgrafo” a objet
vidade imbecil do rettatista parvo, O holocausto do instantaneo & © prego
que pagam hoje a historiografia e a critica modernistas por seu esforgo
sistematico para exoreizar o fantasma de Touro Sentado ~ 0 primeiro “na-
Século XX € tudo que realmente importa.” GRUNDBERG, Andy. Crisis ofthe rea.
New Jersey: Aperture, 1999, p. 164.
+ MACHADO, Adindo. O quarto iconoclasmo, Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos,
2001, p. 133,
5 LASTRA, James. From the Captured Moment to the Cinematic Image, In: AN
DREW, Dudley. The Image in Dispute, Austin: University of Texas Press, 1997,
p. 283,
* Citado em BLAU, Herbert. Flat-out Vision. In: PETRO, Patrice (org.). Fugitive
Images. Indianspols: Indiana University Press, 1995, p. 257.
Introducao
tivo ameticano” a tirar uma fotografia, em 1882, acionando por acidente 0
obturador da camera, No seu gesto “inconsciente”, 0 Grande Chefe encarna
essa “manifestagao” do acaso, esse hilito gélido de incubo que assombrout
a noite instantGnea dos fotdgrafos modernos, reduzindo-os & décil possivi-
dade de seu “momento decisive”.
ste livro busea responder & pergunta formulada anteriormente — a
pergunta sobre o destino do tempo no instantineo fotogréfico ~ e, para
tanto, reeorre a um méiodo e, certamente, também a uma teoria. Sobre
‘ambos, algumas palavras podem ser adiantadas nesta introcugao. Desde
‘que me aproximei éa fotografia, ainda como um historiador As voltas com
6 estatuto documental de suas fontes, tinha a sensagio de que Benjamin
Foucault podi iados de modo a guiar nosso olhar através
dessas imagens. ra possivel tomar de empréstimo a noglo
em que ele & constituido por
distinguem da massa indiferenciada do enunciavel, projetando-se sobre o
corpo visivel do “estrato”? Essas duns perspectivas reuniam-se para criar
lum método de interrogar a historicidade dos registros fotogrificos ~ mé-
todo que havia intimamente apelidado “autista-critico”, paratraseando 0
“metodo paranoico-eritico”, inventado por Salvador Dali. O “método para-
noieo-eritico” voltava-se para a “aparigdo” estridente do “insignificante”,
‘irracional”, dos “objetos deploraveis” ali onde eles “reclamam, trombe-
teando, da sua situapdo inapercebida, sua evidente realidade fisiea”.* Jé a
perspectiva autista-eritica nfo estaria proliminarmente em busca da “coisa”
na fotografia ~ 0 puncfum de Barthes ~ mas assumiria diante da imager
‘im estranhamento fundador: composicao, distribuigio das luzes, valores
Sobre e fotografia como monada, na obra de Benjamin, ver LISSOVSKY, Mau~
ricio. Sob 0 signo do ‘cic’ fotografia e historia em Walter Benjamin. In: FELD-
MAN-BIANCO, Bela; MOREIRA LEITE, Miriam L. Dasafios da Imagem. Campinas
(GP): Pepirus, 1998, Sobre diagramas @ estratos na obra de Foucault, ver DE-
LEUZE, Gilles, Foucautt, Usboa: Vega, s/d
® cf. DALI, Salvador. Sim ou a paranoia. Rio de Janeiro: Artenova, 1974, p. 20]
Nesse mesmo livro, a curiosa aplicaco do método &leitura de uma fotografia:
Psicologia néo-eudidena de uma fotografia, p. 136-141
10
re
[A MAQUI De Esreran
plisticos e “informativos” deveriam ser encarados como uma estranha con-
figurasio, ums poderosa maquinagdo nega-entrdpica que arranca e cristali-
2a formas em face do vazio indiferenciado que € seu leto de origem.
Como um autista, para quem o mundo padece de organizago afetiva
natura, sendo cada momento um esforgo para decifar sua
studo sobre a
oesfio, este
Nesse sentido, no se trata
aqui de uma pesquisa sobre 0 “fotogrifica”, mas sobre o “pré-Lotogratico”,
{al como essa nogao poderia emergit do pensamento de Gilbert Simondlon:
lum estudo sobre as condigdes de individuagdo da imagem fotogrifica mo-
dlerna; sobre o processo de diftrenciagdo que a configura. Nos termos da
tradigo formalista russa, um estudo sobre as condigbes de sua faetura—a
Uunidade singular realizada pela materia, a cada momento, na sua forma —, 0
vestigio do fazimento na sua fexiira.
‘Ainda que meu foco recaia sobre a fotografia modems, as reflexdes que
apresento dizem respeito, ereio, a recepgto de qualquer fotografia, Pare-
ce ser uma caracterfstica da fotografia te sua recepeto indissoluveimente
ligada a um juizo sobre sua feitura. Em seu ensaio sobre a fotografia, 0
filésofo Patrick Maynard sustenta: “Ao olbarmos uma fotografia nés esta-
‘mos interessedos em como a imagem apresenta o seu motivo e em como
«esse motivo foi usado para fazer a imagem.”™A elucidagdo dos tragos dessa
factura, sopde Maynard, consiuira a tarefa de uma estétien prépria a0
fotogrifico: “Se, entéo, a aparénciaestétiea de uma imagem pode inclu a
aparGncia do ato formative de produzi-a,e se isto é perceptivamente iden-
tficdvel em termos do grupo de agdes a que pertence, ent, entender este
grupo pode afetar a experiéncia estética da imagem."
A presente pesquisa comega, de certo modo, onde a de Maynard aca-
ba, Seu percurso implica certamente uma “hist6ria”. Convem ressaltar que
quests formais predominaram sobre as cronologicas no modo de organi
‘ago desta hist6ria. Os fotdgrafos e as fotografias so referidos e discuti
T HAYWARD, ratick Te Engine of Vubaatio; think
fsuoiatio; thinking trough photogr
Phy. Ithaca: Cornell University Press, 1997, p. 289. =
Idem, p 308.
a
Introdusao
itério que é antes cronotépico que
dos a0 longo do livro,
cronolégico — isto &
rala-se portanto, de uma pesquise marcadamente berg
soniana, uma vez que assume, como ponto de partida da operaio critica, a
“egra de ouro” de Bergson: “as questi relativas a0 sujeito © a0 objeto, &
sua distingdo e a sua unio, devem ser colocadas mais em fungdo do tempo
‘que do espago”’ Nesse sentido, a fotografia modema ndo é pensada aqui em
‘angio de una “hist6ria interna” na qual se discutem influéncias, progtes-
sos, tendéncias, entraves =D
tum campo de jogo. A abordagemutilizada é mais sincréniea do que diaeroni
«a, pois se alguma resposta a perguntainicial desta pesquisa pode ser formu-
Jada, procurei buscé-Ia, a todo momento, a vigneia da propria perguata.”
© mesmo critério cronotipico serviu de base para a seleyio dos foté-
arafos estudados, Nio tenho a pretensto de estar propondo uma chave para
a resolugio do proverbial problema da “autoria” fotogeéfica, Ainda que
alguns estudiosos sustentem que “as Fotografias dos maiores fotoarafos
podle-se dizer que portam um estilo particular no mesmo sentid que qual-
{quer autor exibe um estilo de eserever”,* procurei estringir-me 40 menor
nimero de fot6grafos possivel, nfo porque os considere melhores que os
outros, ou mais criativos, mas porque me intoressavam neles, sobrenudo,
certs tragos caraetersticos que pudessem funcionar como exemplo das
categorias que a pesquisa foi ressaltando ao Jongo de seu desenvolvimen-
to, Se ecebem muitas vezes o tratamenta de autores, isto deve-ve menos
a uma teoria do autor subjacente & analise, do que 20 prinefpio heuristico
dde agrupar as imagens em séries afins que permitam fornar mais evidentes
‘suas earasterstions comuna © suns diforengas. Procurei, o mais poseivel,
evita refe2ncias a fotbgrafos obscuros ou pouco conhecidos, mantendo-
1 BERGSON, Henri Matéria € meméria. $8o Paulo: Martins Fontes, 1990, p. 93.
"2 "Toda resposta 86 mankém sua forca de resposta enquanto permanecer en-
relzada na pergunta” HEIDEGGER, M. A Origem da obra de arte. Lisboa: Edi>
‘ses 70, 1992, p. 57.
5 CLARKE, Graham. The Phctoareph (Oxford History of Art). Oxford: Oxford
University Press, 1997, p. 30,
12
[A Magu 0 Esso
‘me dentro do universo daqueles que costumam ser “mengio obrigatéria”
nas obras de historia e critica fotogrificas. Ao proceder desse modo, acredi-
to facilitar o debate cm tomo das hipSteses que proponho e das conclusdes
aque cheguei,
O leiter mais critico poderd, com alguma legitimidade, enquadrar este
cestudo como essencialista. Ainda assim, mantive-me afastado daquelas
‘questdes que costumam decorrer dessa implicagio, e que Régis Durand,
‘com propriedade (depois de Benjamin), caracterizou como “falsos proble-
mas”: “.. € ou nfo é uma arte? Uma arte menor? Uma arte intermedia"?
0 que é uma ‘verdadeira’ fotografia? Aquela que & “pura” (direta, nio
‘manipulada), ¢ que se opord entéo a uma fotografia “impura’ (manipulada,
cconstruida)? etc."** Delas, no modo como foram entio formuladas, 56 me
interessa aquilo que possa iluminar, o que, na experincia fotogrifica, se
faz pensamento diante da técnica. Aqui se explica o flerte com a filosofie,
‘mantido a0 longo de todo este trabslho, particularmente com Bergson ©
‘Simondon, mas também com Husser|, Wittgenstein, e, mesmo, Heidegger,
além de, obviamente, Benjamin e Deleuze. Em nenkum momento trator
se de, por meio desses pensadores, sustentar uma
‘Talvez tenha sido, antes, o contririo, Para todos esses pensadores, a tecni-
calizago do mundo e das relayes humanas parece ter sido o mais pungen-
te desafio colocado a possibilidade de uma filosofia. Bergson, por exem-
plo, acreditava que a “dura¢a0” deveria tomar-se a metafisiea correlata &
cciéncia modema, enquanto Husserl apegou-se sua fenomenologia como
‘empreendimento critico capaz de restaurar a metafisica na sua “pureza”
original, em iltima instucia, uma metafisica do “puro ver", Desafiados a
DURAND, Régis. Le Tamps de Image. Paris: La Difference, 1995, p. 36.
A persisténcia de certos "problemas" é verdadelramente espantosa, Vejo-se @
questo da arte, por exemple, Téa remotamente quanto 1862, os tribunais fran.
ceses, em uma sentenca civi femosa, {8 haviam decidide que a fotografia era
uma "arte" sendo jusificada, portanto, a protecSo de seu copyright. Ne mesmo
sentido de Duran, Fatorelli observa que “a insisténcla na separacéo entre foto
grafie experimental e fotografia documental, au entre realismo e abstragéo inibe
8 visualldade das questdes cue a produce fotogrifica apresenta’. FATORELLI,
‘Anténio Pacca. Fotografia e viagem; entre a naturezae o artic. Tese de Doute-
ado em Comunicagio e Cultura. Rio de Janeiro: ECO/UFRI, 2000, p. 26
13
ee
Introdugio
yensar diamte da téenica, eles servem de referéncia para investigat
esse sentido, o projeto desta pesquisa guarda
Alguma afinidade com o empreendido por Deleuze em seus estudos sobre
cinema, nos quais o que se visava, em tiltima instincia, era “iuminar”
ees rs 4 “rele entre
Ls
‘mais filosofar sobre Fotografias e realidade”, proctamam Neil Alen e Joel Sny-
er, “ou ainda de outra (desta vez definitiva) definiglo do ‘ver fotogrtico’, ow
de-mais uma destlasio da esséncia e da natureza da fotografia. As ferramentas
para produzir sentido na fotografia esto & mio, ¢ ns podemos inventar mais,
se realmente precisarmos delas.™* E, de outro lado, os proptios filésofos, par
ticularmente 6s que, como Maynard, provém da tradigio pragmaticista anglo-
saxénica, Para esses, afimmagSes como a que faz Barthes de que as questes
ccolocadas pela fotografia ligam-se « uma “metafisca parva ou simplista”(..),
provavelmente a verdadeira metafisica”, nilo merecem outa resposta além de.
‘um comentirio ithnico: “Desde as discussdes dele e de Bazin, muito se esereve
sobre a assim chamada ontologia das fotogrufias (ainda que ela nfo seja gene
ricamente considerada como um ramo da metafisica filos6fica).”*
Confesso que talvez tenha ultrapassado, de modo demasiadamente im-
prudente, esse tipo de objesfio. E alguém poderia dizer que estiquei a corda
eee
remetendo historia ilosofia, minha expectativa & que este esuido pos-
sa ser ido, antes de tuto, como m trabalho de enitica, tal como Benjamin
a defini, em oposigo ao coment
‘Se compararmos a obra de arte a
Gf, RODOWICK, D. N. Gilles Defeuze's time machine. Durham: Duke Univer
sity Press, 1997, p. 5.
+ Citados em PRICE, Mary, The Photograph: a strange confined space. Stan-
ford: Stanford University Press, 1994, p. 176.
BARTHES, Roland, A CAmara Clara. Lisboa: Edigées 70, 1989, p. 120.
"© MAYNARD, P. The Engine of visualization, p. 13.
14
AA Miquia os Ener
uma pira funeriria, o comentador a v8 como um quiimieo, 0 eritieo come
uum alquimista. Enguanto o primeiro toma madeira ¢ as cinzas como 08
linicos objetos de sua andlisc, o segundo preocupa-se apenas com o enigma
da chama.">
Este livro é uma verso reduzida de minksa tese de doutoramento, defen-
dida na Escola de Comunicagio da UFRI, sob a orientago de Marcio Ta-
vares d’Amaral, em 2002. Ndo foi possivel adquirir os direitos de reprodu-
60 de todas as imagens mencionadas no texto (so mais de uma centena)
Optei, enti, por referir sua localizagaio na web em notas de pé-de-pégina.
0 leitor interessado encontraré outros meios de acesso a esse conjunto de
fotografias, inclusive solicitando diretamente 0 meu apoio, para o qual co-
loco-me, desde ja, & inteira disposicao: lissovsky @utt.br
" Gado em ARENDT, Henna, Men In dark tines. Nova York: Harvest, 1968, p. 157,
45
nn
A Maqui be ESPERAR
1. Invisibilidade e originalidade
da fotog
Quanto maior a perfeiciio téeniea, isto é, quante
‘mais exatos no efeto de medic, tanto menor ser
4 oportunidiade para meditar sobre o que & prbprie
do tompo, (Heidegger)
A.ideia de que haveria ums atividade inconseiente ligada diretamen-
te. pereepgao visual foi explicitamente colocada, pela primeira vee, por
Herman von Helmholtz, cuja concepgao do ‘ato de ver" prevaleceu a0
longo de praticamente toda a segunda metade do século XIX.» Segundo
Helmholtz, na base psicol6gica de toda pereepeto estavam “inferéncias
inconseientes’, euja evidéncia ébvia eram as ‘ilusBes de
‘0es falsas motivadas por julgamentos nio-conseientes. Poueo mais de
uum século depois de Helmholtz, a historiadora da arte norte-americana
Rosalind Krauss publica 0 inconsciente dptico, um belo ensaio, de ins-
Piragdo lacanians, sobre os artistas modernos e seus investimentos em
tomo das condigdes da propria visualidade. A obra desses artistas ox-
preasaria tal inconseiente, uma voz qu havia sido constuida coud una
projegao do modo como a visio humana passava a ser pensada: “menos
senhora de tudo aquilo que inspeciona, por estar em confito com o que
€ interno ao organismo que a abriga”** Isto &, 0 inconsciente Sptico
ica", indu-
5 Ver, sobre isso, CRARY, Jonathan, Techniques of the Observer; on vision and
‘modernity in the nineteenth century. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1995,
3 KRAUSS. Rosalind E. The Optical Unconscious. Cambridge (Mass.): MIT
ress, 1996, p. 179-80.
7
Incstniotoe & ontcuaLipane 9a rrecnara HOOK
emergiria de uma tenso, de um conflito, em que o inconsciente faz. tra-
balho de sapa, minando a pereepgio.
‘No meio do camino entre Helmoltz ¢ Krauss, est Waller Benjamin,
ue esereveu, em 1931, na sua “Pequena histiria da fotografia”, uma destas,
rmisteriosas sentengas que tanto 0 caracterizam: “S6 a fotografia revela esse
inconsciente dptico, como s6 a psicanslise revela o inconsciente pulsio-
nal”? Mesmo admitindo gue sua anilise remete a Benjamin, Krauss su
blinha a ‘estranheza da analogia’, acrescentando que ela teria soado “sim-
plesmente incompreensivel” para Freud.” Aquilo que Krauss estranh, em
ltima instncia, é que a validade da comparacio entre os termos desta
analogia (fotografia/psicanalise; visto/pulsdo) fere o principio de univ
cidade de origem dos processos inconscientes, principio este tio caro a
psicanilise, seja em sua formulagio freudiana, seja em sua versio lacania-
na. Principio que, verdadeiramente, postula uma soberania do inconsciente
sobre 0 campo da visualidade e da imaginagao. Estranhando a analogia de
Benjamin, Krauss referenda « subordinaeio da visio a pulsio e, por impli-
cago légica, da fotografia 4 psicandlise: se ha um “inconsciente”, afirma
cla, “ele é um inconsciente humano, nfo um “6ptico™2*
‘Mas Benjamin tinha do inconsciente uma visio bem menos 1
Sua referéncia diz respeito, em primeiro lugar, aos recursos intrus
amplificativos da camera ~ seja na fotografia, seja no cinema —, os quais
fazem com que a “natureza que fala & chimera nao” seja “a mesma que fala
a olhar”. Um de seus exemplos favoritas, nesse caso, 6 0 fotsgrafo ale-
mio Karl Blossfeldt, cujas imagens em detalhe de plantas e flores revela-
iam “mundos de imagens habitando as coisas mimisculas,suficientemente
cocultas ¢ significativas para encontrarem refiigio nos sonhios diurnos”, que
se lurimavann “grandes © Rounuliveis
Ale do muitw pequeno, 0
= BENIAMIN, Walter Pequena histria da fotografia, Ems Obres Escofhidas, v.
I, S30 Paulo: Brasliense, 1985, p. 94.
KRAUSS, R. Op. cit, 178-8,
2 Idem, 9.179,
© BENJAMIN, W. Pequena histérla da fotografia, p. 94-5. Ver Kar! Blosstelt,
Dephinium, em: hitp://wi.michaelhoppengallery.com/artist,show,2,30,0,0,0
10,0,0,kar_blossfelt. html.
18
A Maquina be Estee
inconsciente éptico abarcaria também © muito répido: os movimentos eo-
tidianos que a decupagem fotogréfice e a cAmera lenta do cinema passam a
registrar, tomando visivel uma “realidad” que antes se stuava “em grande
parte fora do espectro de uma percepslo sensivel normal”. O primeiro
‘movimento realizado pela fotografia e pelo cinema, neste espago que 0 ho-
‘mem “percorre inconscientemente”,é fazer a passagem do tatil a0 éptico:
de uma recepedo que se fitz pelo habito a outra que se faz pela atengio.
A principal chave para compreender a nogio de inconsciente éptico em
Benjamin €, a meu ver, a *monadologia” de Leibniz, na qual o fildsofo
alemio elabora 2 disting20 entre “percepgio” © “apercepsio", sendo 0
Universo consttuido pela primeira bem mais vasto que 0 outro, formado
apenas pelas percepgdes de que nos apercebemos, isto é, por aquelas das
*
A posigo singular ocupada pela fotograls no pensamento de Benjamin
aparece aqui na forma de um paradoxo, Se a fotografia ¢ a “conguista fun
damental de uma sociedade em que a experiéncia declina” — experiéncia
‘em que, em termos bezgsonianos, é “mergulho no fluxo vital”, “mergulho
nna duragio” -, a recuperacio dessa experincia, tanto em Benjamin como
«em Proust, & depencente da “participagao do instante” ~ isto & diese em
‘um instante particular, destacado de uma série supostamente homogénea,
‘eno gual toda tengporalidade edt ismplvada..8 wok prectogativa do is
tante fazer da convergéncia entre passado e futuro um salto em diregdo m0
“tempo perdido”, Cada instante bem-sucedido toma-se, a um s6 tempo,
““imico e irrepetivel”, desprendendo-se da sequéncia temporal: “cada uma
das situagdes em que 0 cronisia & tocado pelo halito do tempo ps
toma-se por isso mesmo incomparivel e se destaca da série dos dias.”
Isso que propicia esse desprendimento, destacando 0 acontecimento de sus
infnita sucessfo, é a percepgfo da semelhanga: “as semelhangas irrompem
no fluxe das coisas, transitoriament, para desapareecerei cm seguida.™ A
mesma semelhanga que permite vistumbrar, nas fotografias de Blossfete,
nossos “sonhos diumos”. O ceme da refiexdio de Benjamin acerca da foto-
5 BENIAMIN, Walter. Sobre Alguns Temas em Baudelaire, In: Textos Escoihidos
(05 Pensadores). So Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 30.
© Idem, p. 52.
2% BENIAMIN, Wi A Doutrina das Semelhangas, In: Obras Escoinidas (v. 1), S80
Paulo: Brasliense, 1985, p. 112.
20
A Miquia ve Esrenan
arafia ¢ que ela, no mesmo movimento em que contribui para a derrocada
da aura, multiplica as possibilidades de percepgio do semelhante, pois com
© declinio da experiéneia, as semelhangas que outrora eram “sensiveis” ~
‘na meméria coletiva das sociedades tradicionais, por exemplo —tornam-se
io da versio bergsoniana da mOnada de Leibniz
—uim ponto material do mundo cuja percepgdo 6 infinita, condicionada apo-
nas ao seu ponto de vista sobre o todo -, Benjamin admite uma mudanga
de grau na qualidade de sua percepedo, uma alteragdo de sua receptividade
‘como disponibilidade & irrupedo do acaso. & para essa mudanga qualitativa
nna pereepedo ~ mudanga na poténcia de acothimento da semelhanga ~ que
a revelagao do inconseiente Sptico pela fotografia aponta, e ndo, exclusiva
‘mente, para as manifestagGes na imagem dos “representantes” da pulstio,
extra-sensiveis, Ao contr
De toda essa discuss, quero rotor, por ora, a idcia ~implicita ao pen-
samento de Benjamin ~ de que cada tecnologia da imagem implica uma
cert instalagdo na visualidade que the é propria, estabelecendo no ape-
nas as condigdes do gue & visivel, mas, sobretudo, do invisivel que Ihe &
correlato. Implicagio da técnica na experiéneia que se tomou ainda mais
siguificativa quando ela vem cada vez mais ocupar o lugar da tradigso na
536 Waker Benjamin também setinalou ume ralagio entre ae theniese de repro
duo da imagem © o pensamento entre os gregos: “Os gregos 36 conheciam
dois processos técnicos pare a repraducio: 0 molde e 2 cunhagem. As moedas
€ terracotes eram as Gnicas obras de arte fabricadas em massa. Todas as de-
mais eram chicas e construdas para a eternidade, Os gregos forsm obrigados,
ppelo estégio de sua técnica, a produair valores eternos.” (BENJAMIN, W. A Obra
dearte na ers... p. 175] Fssa analogia fol suprimida na segunda versio desse
famoso ensalo, reescrito par Benjamin apés 0 "patrulhamento” conceitual pra
movido por Adorno,
#7 CRARY, }. Op. cit, p. 33.
% Idem, p. 31.
° dem, p. 32.
22
‘A Maqui of Esrenan
Essa configuragdo permanece estavel até que Goethe & seus continua
ores ~ entre os quais, Helmoltz — camegam a colocar o corpo na central
dade dos processos perceptivs. O corpo, que em Descartes era um termo
nneutro ou invisivel, agora passa a ser a “espessura” a partir da qual todo 0
cconkiecimento pode set derivado, Isso que em Helmoltz dava consisténcia &
gio inconsciente do olhar nfo era outra coisa seniio a “opacidade ou den-
sidade carnal” do observador. Para Jonathan Crary, essa nova centralidade
do corpo poe em “colapso” 0 modelo da cémera escura, anunciando um
proceso de modernizago que se impée como “uma descodificagao ¢ uma
desterrtorializas%o da visio” © Como situar, nesse contexto, a emergéncia
da fotografia e do cinema? Sua resposta é impiedosa:
Paradoxalmente, a progressiva hegemonia destas das técnieas ajudlou
a reeriar 0s mitos de que a visto era incorporal, veridicae ‘reaista’
Mas, se a fotografia eo cinema parecem reencamar a cimera escura
fai s6 como uma miragem de um conjunio transparente de relagées
que 1 modernidade ja havia submerso*
Que miragem ¢ esta, que a fotografia teria incessantemente buscado,
0 longo do século XIX? Nao & dificil idemtficd-ta, pois os fotdgrafos do
periodo esforgaram-se por tomé-la visivel, por persegui-la. A busca dessa
‘miragem caracteriza a fotografia oitocentista: ¢ sua agenda do invisivel
F bastante provavel que a descobertaacidental da “imagem latente”,
por Daguerre, em 1835, fenha eontribuido para assoeinr a fotografia a uma
técnica de “tomar visivel”. Com o desenvolvimento dessa descoberta, a
produgao do registro fotogrfico exige, a partir de 1837, uma mediago
do invisivel: associam-se, na fotografia, a revelagdo da “imagem latente”
© 0 projeto modemo de desvelamento do mundo. #sse agenda do invisivel
confunde-se, em larga medida, com a propria histéria da fotografia no sé-
culo XIX: 0s retratos espirituas, a decomposigto do movimento em Muy-
bridge © Marey, as iconografias da insdnia ¢ das doengas da alma (como
as do fot6grafo inglés Hugh Diamond e dos assistentes do Dr. Charcot),
© dem, p. 42.
Idem, p. 43.
23
Tie. & ORIGHALIDADE BA FoTeGRAFA MOOERNA
0s inventrios dos tipos criminals (de Francis Galton a Bertllon), «fotografia
ctnogrifica, es ruinas, os fossis, as paisagens estrangeiras* Essa agenda esti
a servi de um império ~ 0 impésio do visive! ~ que pautow a ciéncia dos sé-
‘eulos XVI ao XIX em sus Iutaincansvel contra a obscuridade do mundo —os
marcos decisivos desse corte cronolégico sio, simbolicamente, a invengio do
‘microsc6pio, numa ponta, ¢ do tubo de Crooks (0 raios X), na outra®
Seguramente, nunea houve uma époce tio otimisia com relagio A aces-
sibilidede do invisivel do que aquela sob a égide da cfmera escura, cujo
paradoxal corosmento ¢ a “mirazeny” fotosrfica. O desvelamento do in-
visivel era tio inelutével quanto a expansio das fronteiras dos imperivs,
anexando cada vez mais terrtdrios gracas aos prodigios da dtica ¢ aos re-
Iatérios das “Reais Sociedades". Comentando a “metrofotografia” aérea,
instituida por Deville entre 1888 e 1892, Dubois dirk que o “mundo visivel
alarga-se, estende-se eo temitério visto como um todo, a tera, ao universo
Intero, ao cosmos”. Um astrOnomo-fot6grafo, sem pestaneja, havia pro-
clamado: “A placa fotogrifica é a verdadeira retina do cientsta"* Se a
‘técnica fotograficanasce, conforme Benjamin, eomo “arte de feira”, como
“funtasmagoria’, ela se prolonga em “wniragem” até que, afin, ilusto se
esvanece. A ruptura com essa “agenda do invisivel”oitocentista coincide
com o surgimento da fotografia moderna,
HA vicias maneiras de encarar essa ruptura, © modo mais simples &
‘ratd-la apenas como “esgotamento de agenda” (“extudo” visto, poderia ter
© Se buscamos um evento inaugural para essa agenda, talvez ele tenha ocorrido|
fem junto de 1029, quenda Herschel descobre a vadiagdu ulbavileta ~ iwisivel
‘205 olhos humanos -, projetando 9 espedte luminaso sobre papel fotagénico.
5 No Brasil, 0 conjunto fotogréfico que melhor representa esse espirito ¢ a
“ColepSo D. Thereza Christina Maria’, que retine mais de 20.000 fotografas da
‘oles particular de D. Pedro Il. Seu império do visivel estencia-se das ima~
gens de um eclipse & lémina microscépica repleta de "sadimentos urinirios™ A
Coleco integra o acervo da Biblioteca Nacional. Ver, no espiita do comentario
‘acima: LISSOVSKY, Mauricio. © Olho-Ret eo Império do Visivel. tn: Anais da
Biblioteca Nacional. Rio de Taneire, 117: p. 29-40, 1997 (2001)
‘DUBOIS, Philippe. A fotografia panordmica ou quando a imagem fixa faz sua
lencenagle. In: SAMAIN, E. (org.) 0 fatogrifico. So Paulo: Hucitec, 1998, p.
212-3,
‘A Maqui oe Esrenan
dito Augusto de Campos). Mas tal assertiva equivale a dizer que, com 0
esvaccimento da miragem, se desvaneceu igualmente o invisivel fotogré-
fico, em paralelo, talvez, com 0 deslocamento do invisivel para além das
fronteiras do visivel por Einstein e Boks (isto 6, om 0 descrédito do “éter”
onascimento da mecdniea quantica). Ou, como sustenta Rosalind Krauss,
a fotografia simplesmente agregou-se a um projeto modemo mais amplo
de pér em questio a visualidade a partir das investigagdes em tomo das
_prprias condigtes da visto e de sua “representagaio”.
Uma outra hipétese, no entanto, foi formulada por Patrice Petro, que
procura posicionar a fotografia “depots do “chaque do novo" & dentro de
uma zona intermedia entre o tédio ea hist6ria"s* Seguindo Siramel, su-
gete que, na virada do século, “a chateagio toma-se disponivel a todos
através dos efeitos niveladores da economia monetéria, que passa a perme
ar tanto os periods de lazer como os de trabalho” Assim, a chateago, 0
tédio, caracterizaria um momento em que “a exaustio ¢ a indiferenga no
silo mais privilégio de uma classe particular (ow mesmo uma prerrogativa
apenas masculina)”. £0 momento em que “o novo eessa de chocar, onde
© lazer, assim como 0 tempo laboral, tora-se rotinizado, fetichizado, mer
cantilizado, ¢ quando o extraordinario, o inusual eo estranho sAo inextri-
cavelmente vinculados & chateayao, ao prosaico, ao cotidiano”.* A cidade
aque nos exibe as fotografias de Brassal, por exemplo, seria aquela onde
a “sexualidade eessa de ser chocante, e quando o proprio tédio assume a
qualidade de um alivio para a ansiedade”.#
Alivio, ansiedade, tédio, Todo um outro conjunto de categori
lizado nessa rellexdo sobre a fotografia, oriundo em larga medida da teoria
critica alema dos anos 20 e 30, para a qual a “chateagao é entendida na sua
relagao com 0 6cio, ¢ também com a espera, com a expectativa ou orienta
émobi-
© A referéncia € a0 famoso poema Péstudo, de Augusto de Campos, publicedo
nna Folha de S, Paulo, em 27/01/1985.
“© PETRO, Patrice. After shock/Between boredom and history. In: PETRO, Pa-
‘rice (org). Fugitive Images; from photography to video. Indlanapolis: Indiana
University Press, 1995, p. 265.
* Idem, p. 273.
** Idem, p. 275-6.
© Idem, p. 277.
25
TVStBIADACE CRISAALOADE BA FoTGORAFIA MODERNA
gio futura da subjetividade devido & ansiedade ou alicmagio”. Um impor
tante deslocamento esté sendo aqui assinalado: a fotografia ¢ empurrada de
uum dominio espacial - 0 impétio do visivel ~ para uma esfera temporal (0
cotidiano, otédio). Essa é uma inflexto decisiva, pois ereio ser af, no ambi-
todo tempo, que a fotografia, através da fotografia moderna, vai encontrar
um invisivel que Ihe & pr6pro. E claro que muites fot6grafos mosemisias
= como Moholy-Nagy ¢ Man Ray ~ podem ser facilmente incluidos na
srande familia dos “artistas do inconsciente dptico”, criada por Rosalind
Krauss, Mas exclu dessa rellexdo as obras gue comptem 0 mainstream da
fotografia moderna parece-me demasiado apego as mitologias que a van-
suarda modernista criou para si mesma.
Quando nos interrogamos acerea de uma invisbilidade prépria &foto-
grafia moderna, esperames encontrar ai o lugar onde sua diferenga ¢ sua
originalidade tormaram-se possiveis. Mas que sentido atribuir aqui & no¢30
ci “originalidade”? No seu uso mais corrent, sea quando nos referimos &
obra de um artista ou a um concurso de fantasias eamavalescas, «origina-
lidde parece dizer respeito a um qué de novidade e diferenga, a uma sin-
gularidade que distingue e individualiza, Proponho que se atsibua ao termo
‘uma compreensio um pouco mais radical. Aquela formulada por Walter
Benjamin em Origem do drama barroco alemdo. Ali, “o tomo origem ni
designa (.) 0 viea-sor daquilo que se origina, e sim algo que emerge do
viratsere da extingd0”.*! Nesse sentido, a origem nilo pode ser apreendi-
dda no “inicio” de algo, mas apenas, e de uma vez, na consumayio de sua
historia. A origem &, como numa tradugto literal do alemto, uma fonte
que permanece palsando, insistindo, e pragas a qual algo pode sustentar-se
como existente, No momento em que esse origem se enfraquece, desapa-
1600 junto com ela 0 vigor do wina corte experiGncia. Evitomos, no entato,
a seduso das imagens pastors, ho a0 gosto de Heidegger. Nao se trata de
‘uma fonte eristaline alimentando, tranquila, o ribeirdo da experiéncta: “A
‘origem se localiza no fluxa do vi-a-ser como um torvelinho, e arrasta em
5° Tdem, p. 270.
3 BENJAMIN, Walter. Origem do Orama Barroco Alemao, So Paulo: Brasilien-
se, 1984, p. 7
26
‘A Miquina 0 Even
sua corrente 0 material produzido pela génese.”* A origem turbithonante
de Benjamin ¢ sobretudo historica, pois est& sempre “‘préxima de nés": “na
imanéneia do devir (.), a origem surge diante de nés como um sintoma.">
O que dela podemos aprender ¢ apenas aguilo que guarda, em sua mani-
festagto, das forgas que a movimentam,
‘Na discussdo que pretendo desenvolver, a originatidade e a originarie-
dade da fotografia moderna se confundem. Ao debrugar-me sobre a origem,
ilo pretendo fazé-lo de mode historicista ou arqueolégico, no varejo dos
inicios, seguindo as derivacdes dos estilos ou salientando rupturas. Nos
dias que cortem, a fotografia modema pareve estar encerrando seu ciclo
de criagdo. Com o hibridismo que difui as fronteiras entre as formas tradi-
cionais da arte ¢ a difusdo dos sistemas digitais que retiram da imagem a
diferenga de seu suporte, algo do que se acreditou ser propriamente foto-
_grifico parece evanescer-se. Agora, portanto, 20 modo de Benjamin, pode
ter chegado momento de arrematar a fotografia no atacado, Sua origem
cexpSe-se como uma fratura. Para isso contribu, ainda, toda uma miriade
de estudos "pés-modemos”, nos qusis a fotografia nfo tem qualquer es-
tabilidade como objeto — e, portanto, qualquer origem. Um bom exemplo
dessa perspectiva de anilise nos é fomecida pelo historiador John Tagg:
“Nao existe isto de a fotografia como tal, uma midia comum, Bxistem dife-
rents reas de produgao, diferentes praticas institucionalizadas, diferentes
discursos.”* Em consequéneia disto, “sua historia nfo tem unidade”: “6
uma cintilagdo em um campo de esparos institucionais”, Para Tagg, “é este
‘campo que devemos estidar, nao a fotografia como tal” Numa entrevista,
5 yaem, p87
DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, 0 que nos alha. S80 Paulo: Ed. 34,
1998, p. 171.
+ LUKITSCH, Joanne. Practicing theories; an interview with John Tagg. In:
SQUIERS, Carol (0r9.). The Critical Image. Seattle: Bay Press, 1990, p. 224, A
posigdo de Tagg, de fato, deve ser contraposta 3 historiografia modernista que
lencare 2 histéria da fotografia como a realizagao progressiva das potenclalida-
des especitcas do melo.
5 John Roberts identifica quatro linhas dominantes na teoria © na histéria da
fotografia a partir de fins dos anos 70: "a fotografia e os modelos sodels de
oder (Jehn Taga, Allan Sekula), crice descontruclonista (Rosalind Krauss,
Abigal Solomon-Godeau, Simon Watney), critica sociolégica (Pierre Bourdieu);
27
«fo fatura da subjetividade devido & ansiedade ou alicnago”®° Um impor-
tante deslocamento esti sendo aqui assinalado: a fotografia ¢ empurrada de
«um dominio espacial —o império do visivel— para uma esfera temporal (0
cotidiano, 0 tédic). Essa é uma inflexio decisiva, pois creio serai, no ambi-
to.do tempo, que a fotografia, através da fotografia moderna, vai encontrar
um invisivel que Ihe é proprio. E claro que muitos fotégrafos modemistas,
= como Moholy-Nagy e Man Ray — podem ser facilmente incluidos na
grande familia dos “artistas do inconsciente 6ptico”, eriada por Rosalind
Krauss. Mas exchuit dessa reflextio as obras que compiem 0 mainstream da
fotografia modema parece-me demasiado apego as mitologias que a-van-
‘guarda modemisia criou para si mesma,
Quando nos interrogamos acerca de uma invisibilidade propria & foto-
grafia moderna, esperamos encontrar af o lugar ondo sua diferenga © sua
originalidade tomaram-se possiveis. Mas que sentido atribuir aqui & nog
de “originalidade”? No seu uso mais corrent, seja quando nos rferimos a
obra de um artista ou a um concurso de fantasias camavalescas, a origina-
lidade parece dizer respeito a um qué de novidade e diferenga, a uma sin-
gularidade que distingue e individuatiza. Proponho que se atribua ao termo
‘uma compreensfo um pouco mais radical. Aquela formulada por Walter
Benjamin em Origem do drama barroco alemao. Ai, “o termo origem nao
dlesigna (..) 0 viest-ser daquilo que se origina, e sim algo que emerge do
ser ¢ da extingdio” + Nesse sentido, a origem no pode ser apreenci-
da no “inicio” de algo, mas apemas, ¢ de uma vez, na eonsumapto de sua
histéria. A origem é, como numa tradugdo literal do alemio, uma fonte
‘que permanece pulsando, insstindo, gravas & gual algo pode sustentur-se
‘como existente. No momento em que essa origem se enfraquece, desapa-
rece unto com ela a vigor de umn certs experiéncia Pultemas, no entantn,
a sedugdo das imagens pastors, to ao gosto de Heidegger.
uma fonte cristalina alimentando, tranguila, 0 ribeirio da experitncia: “A
otigem se localiza n0 fluxo do vit-a-ser como un torvelinho, @arrasta em
io se trata de
5 Idem, p. 270.
5 BENJAMIN, Walter. Origem co Drama Barroco Alemda, Séo Paulo: Brasilien-
se, 1984, p. 67
26
A Maquina ve Esrex
‘sua corrente 0 material produzido pela génese.? A origem turbilhonante
{de Benjamin é sobretudo historica, pois esta sempre “proxima de més”: “na
‘imanéncia do devir(..), a origem surge diante de nds como wm sintona.”>
(© que dela podemos apreender & apenas aquilo que guards, em sua mani
festagio, das forgas que 2 movimentam.
Na diseussto que pretendo desenvolver, a originalidade e a or
dade da fotografia modern se confundem. Ao debrugar-me sobre @origem,
nao pretendo fazé-lo de modo historiista ou arqueoldgica, no varejo dos
inicios, seguindo as derivagées dos estilos ou salientando rupturas. Nos
dias que correm, a fotografia modema parece estar encerrando seu ciclo
de criagdo, Com o hibridismo que dilui as fronteiras entre as formas trad
cionais da arte ¢ a difustio dos sistemas digitais que retiram da imagem a
diferenga de seu suporte, algo do que se acreditou ser propriamente foto
aifico parece evanescer-se, Agora, portanto, ao modo de Benjamin, pode
ter chegado 0 momento de arrematar a fotografia no atacado. Sua origem
expie-se como uma fratura, Para isso contribui, ainda, toda uma miriade
de estudos “pos-modemos”, nos quais a fotografia nfo tem qualquer es-
tabilidade como objeto — e, portanto, qualquer origem. Um bom exemplo
dessa perspectiva de andlise nos & fomecida pelo historiador John Tage:
“Nao existe isto de a fotografia como tel, uma midia comum, Existem dife-
rentes dreas de producti, diferentes priticas institucionalizadas, diferentes,
discursos.”** Em consequéncia disto, “sua historia nfo tem unidade”: “é
‘uma cintilagdo em um campo de espacos institucionais”. Para Tage, “é este
‘campo que devemos estudar, a0 a fotografia como ta
> Numa entrevista,
= yaem, p. 07.
5 DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos othe. Séo Paulo: Ed. 34,
1998, p. 171,
5¢ LUKITSCH, Joanne. Practicing theories; an interview with John Taga. In:
'SQUIERS, Carol (ora.). The Critica! Image. Seattle: Bay Press, 1990, p. 224. A
sido de Tagg, de fato, deve ser contraposta & historiografa madernista que
lencara a histéria da fotografia como @ realizacéo progressiva das potencialda-
des especticas do m
5 John Roberts identifica quatro linhas dominantes na teoria e na histérla da
fotografia a partir de fins dos anos 70: “a fotografia ¢ os modelos socsis de
poder (John Tagg, Allan Sekula), critica descontrucionista (Rosalind Krauss,
Abigail Sclomon-Godeau, Simon Watney), citica sociol6gica (Fierre Bourdieu);
27
TrsmtunAoe € ORIGINALIOADE BA FeTOGRARIA MOpERKA
realizada em 1995, 0 tebrico frane8s Phillipe Dubois vai na mesma diregio:
“Nao me interesse mais a quesilio de definir 0 que ¢ a fotografia, pois ja
se falou sobre isso nos anos 80 e porque esta nao é mais uma questo que
se cologue em area nenhuma, nem no cinema, nem na fotografi." Essa
objesiio dificilmente seria aceita por um historiador, para quem a desquali-
ficagto da pergunta sobre o que é cria poucos embaragos & perguata sobre
‘que foi. Para o “historiador das origens”, para o “historiador-fildsofo”, tal
como Benjamin 0 concebeu, as perguntas seriam ainda outras: “o que tera
sido uma fotografia?” © “como ela veio a ser?”
‘Bm boa parte dos estudos recentes, a origem da fotografia tem sido
atribuida ao desejo. O trabalho de Peter Galassi, relendo a pintura de fins
do século XVIII e inicio do XIX & luz da posterior invengiio da fotografia,
teve enorme influéncia entre os defensores desse ponto de vista. O abjetivo
de Galassi era mapear “a emengéneia de uma nova forma de coeréneia pie-
‘rica que torou a fotografia concebivel”, vindo assim a demonstrar que
“a fotografia nfo foi um bastardo deixado pela cigncia na soleira da porta
da arte, mas um filho legitimo da tradicio pictérica ocidental”” Com base
cin Galassi, o teérico da imagem francés Jacques Aumont afirmou que “a
ccondigao de possibilidade (nfo estou falancio de causa) da invengao da fox
tografia encontra-se no desejo de uma sociedade, ja engajada na produedo
de imagens de um novo tipo” 2*
0 problema com os argumentos de Galassi, como assinala Salomon-
Godeau, ¢ que acabam por constituir-se em “justificativa académica... para
as preferéncias curatoriais e 0 dispositivo eritico do Departamento de Foto-
Fstoriclemo Uberal (André Roullé © Jean-Claude Lemagny).” Os dois primel-
ros exerceram, segundo ele, enorme influgncia nas “construcdo de estudos e
préticas contremederistas’: [ROBERTS, John. The Art of interrupuon® realism,
photography and the everyday, Manchester: Manchester University Press, 1998,
pa)
5 Citado em FATORELLT, A. Op. cit, p. 152.
' GALASSI, Peter: Before Photography; painting and the Invention of photogra-~
‘phy. Nova Yorke: Museum of Modern Art, 1981, p.12-18,
52 AUMONT, Jacques. The Variable Eye, or the Mobilization of the Gaze. Em:
DUDLEY, Andrew (erg.). The Image in Dispute; art and cinema in the age of
photography. Austin (Tex.): University of Texas Press, 1997, p. 231-2.
28
A MAquina oe Esrena
grafia do MoMA”, tendo a exposigao Before Photography sido concebica
ppara “testemunhar que a histria da fotografia é, essencial e ontologica-
mente, nfo somente engendrada pela arte mas, de fato, insepardvel dela”.
Paradoxalmente, mas niio surpreendentemente, o mesmo movimento que
constitu a historia da fotografia como desenvolvimento de suas especifici-
ddades expressivas ~a historiografia modernista candnica ~ vé-se obrigado
‘a ancorar sua estética na tradigdo pictorica.
‘Uina das mais extensas argumentagdes em favor da hipétese de que “a
origem € o desejo” nos € fornecida por Geoffrey Batchen, mobilizado em
sua pesquisa pelas “crises tecnoldgica ¢ epistemolégica” que “nos amea-
{gam com a perda da fotografia e da cultura que ela sustenta”.* Sua hist6-
tia da “concepgdo da fotografia”, inspirada em Foucault, ndo se pergunta
“quem inventou a fotografia, mas em que momento na historia 0 desejo de
fotografar emengiu e comeyou insistentemente a manifestarse (..), em qne
‘momento a fotografia passou de uma fantasia individual para um evidente-
mente disseminado imperativo social”* A intengio de Batchen 6 superar
1 tradieional dissensio em que se repartiu. © campo da teoria fotografica
nas tltimas décadas, eolocando, de um lado, “aqueles que acreditam qne
a fotografia nfo fem uma identidade singular porque toda identidade &
ddependente do contexto”,
‘tro, aqueles que falam em “termos de natureza inerente a fotogratia como
meio”, Enquanto os primeiros vao enfatizar as “prticas sociaise politicas”,
10s segundos filam de “arte e estética”. A conclusio a que chega —¢ no
podria ser de outro modo — ¢ que “o deseo de fotografar foi um produto
da cultura ocidenial mais do que de alguns génios isolados”,® tendo sido
“produto (e contribuinte) de certas mudangas no tecido da cultura europeia
como um tode", iio podendo seu
tum “fendmeno inteiramente cultural”; e de ou-
ser pensado como “fixo”, mas
© SOLOMON-GODEAL, Abigal. Photography at the Dock. Minneapolis: Univer
sity of Minnesota Fress, 1997, p. 25
60 BATCHEN, Geoffrey. Histérias de assombraglo. In: Revista do Patriménto
(28). Rlo de Janeiro: IPHAN, 1998, p, 48.
" BATCHEN, Geoffrey. Burning with Desire; the conception of photography,
Cambridge (Mass.): MIT Press, 1997, p. 36
© Idem, p. 20.
© Ydam, p. 52.
29
como um “campo problemitico”, impalpavel, sujeito a sucessivos “des-
Jocamentos”, Assim (in)definida, a origem deixa de ser um acontecimento
singular para coincidir com a “emergéncia” difusa de seu desejo, “no mo-
‘mento em que as epistemes cléssica e modema estavam imbricadas uma na
outra”.* Apesar de Batchen proclamar, heroicamente, que “no podemos
deixar o campo de batatha das essEneias nas mfos de um formalismo arte-
histérico vazio",® ao final de seu trabalho, sua investigagtio parece girar em
cireulos: “devemos nos perguntar se o desejo de fotografar simplesmente
precedeu a fotografia ou se a fotografia esteve, de fato, todo o tempo li."
Uma investigagao inteiramente distinta em tomo da origem da fotogra~
fia ¢ empreendida pelo critico portugues Pedro Miguel Frade Assim como
Bachten, ele também se detém sobre os discursos dos “inventores”, mas
‘© que ali encontra nto € 0 “desejo” difuso, deslocado; é, acima de tudo, 0
cespanto. Ble esté igualmente em busca de um especifice da fotografia, mas
a dar seu “salto para ts”, seu salto sobre a origem, ele quer “procurar nos
primeiros espantos face as fotografias ou, mais precisamente, rebuscando
nas lingnagens que entio falaran esses espantos, os indicios longinquos da
possibilidade mesma de um tal debate”.® Nesse primeiro momento ~ fan
E verdadeiramente notivel que, apesar da evidente centratidade do
problema do instante na reflexdo sobre a fotografia, to poucos tenham se
detido em interrogi-lo com mais acuidade, Uma das excegSes & Phillipe
Dubois, que pereebe no instante o caréter paradoxal que temos sublinha~
do: “a nogao de instante (Unico, pontual, etc), tantas vezes dada como
consubstancial a prépria idefa que se tem do ato fotogréfico, & de fato uma
‘ostio menos evidente € menos simples do que parece, em particular por-
ue nto exclui uma certa relagao com a duracao, nem a existéncia de uma
grande mobilidade interior.” Mas sua discussio da relagfo entre instante ©
duragdo vai pouco além de assinalar a primazia do corte na constituigao da
imagem, ou retomar argumentos que valorizam 0 instanténeo Fotogratico
como “tempo de parada’”, “mumificaglo”, “eongelamento”. O paradoxa da
fotografia resume-se entiio “sorter o vivo para perpetuar o morto”: “salva
Jodo desaparccimento fazendo-o desaparceer.>*
Voltemos a Benjamin. Entre os pensadores que se dedicaram a estudar
‘a constituigdo da “vida modema”, foi certamente o que mais se ocupou das
transformagoes da temporalidade com a irrupeao do instantaneo:
5: BARTHES, R.A cilmara clara, p. 132.
5 FLUSSER, Vilem. Filosofia da calxa preta. Sao Paulo: Huctec, 1985, p. 64.
5 Ch. CADAVA, E. Op. ott, p. 59.
* DUBOIS, Philippe. O ato fotogréfico. Campinas: Papirus, 1994, p. 156,
"Idem, p. 169,
Da roroskara con Retin bo TeHFO Ao SURNENTO BO INSTARTANED
Coma invengdo dos fisforos, em fins do século, comega uma série de
inovagies técnica que tm em comum o fato de substituir uma série
ccomplexa de operagBes por um gesto brusco, Fsta evolucto di-se em
‘muitos campos; ¢ & evidente, por exemplo, no telefone, em vez do
‘movimento continuo que era necessério pars girar a manivela nos pri-
meiros aparelbos, basta retirsr do gancho, Entrees inimeros gestos de
acionar, pOr, apertar ete. foi particularmente cheio de consequéncias 0
“dispara’ do fotégrafo, Bastava apertar um dedo para fixar um aconte-
cimento por um periods ilimitado de tempo. miquina comunicava
19 instante, por assim dizer, um ehoe péstumo.*
Nas primeiras décadas de prética fotogrifica, no entanto, ser fatogra-
{ado era entregar-se & durago: “o proprio procedimento técnico levava ©
modelo 2 viver nfo ao sabor do instante mas dentro dele.” As primeiras
reflexes de Benjamin em tomo da aura na fotografia esto relacionadas @
essa durago compartithada entre 0 modelo ¢ fotdgrafo:
(© que na daguerreotipia devia ser sentido como desumano, diria mes-
‘mo mortal, era 0 olhar diigo (além do mais, longamente) a0 apa
zelho, enquanto este acolhe a imagem do homem sem retribuit-Ihe
olhar. No entanto est implicita no olhar a expectativa de ser corres-
pondido por aguilo que se oferece. Se tal expeetativa (que pode
ciae-se no pensamento tanto a um olhur intencional de atengo como
um olhar na simples acepeio da palavra) ¢satisfeita,o ollar consegue
na sua plenitude a experiéncia da aura."
ATonga exposigao era capaz de cuptar tanto a “sintese da expresso” do
‘modelo, sua “nitidez insélita”, fruto dos micromovimentos da face que a
‘imagem acolhua, come o estorso da luz “para saar da sombra”, Nessa e em.
coutras caracteristicas das fotografias antigas, Benjamin iri assinalar 0 Ycon-
dicionamento técnico do fenémeno aurético”.** Comentando o trabalho
do mais famoso retratista frances do século XIX, Pedro Miguel Frade dir
© BENJAMIN, B. Sobre alguns temas em Baudelaire, p. 52
1 BENJAMIN, W, Pequena histéria da fotografia. p. 96.
1" BENJAMIN, W. Sobre alguns tomas em Baudelaire, p. 52-3
| BENDAMIN, WW, Pequena histéria da Fotografia, p. $8.
aa
A Miquins 0: Esrenan
‘que “era uma espécie de maiéutica dos aspectos: tratava-se de assistir 20
pparto de uma aparéncia, operagio dificil, exigindo competéncias delicadas,
‘mas nilo exeluindo a colaboragao do principal implicado em dar a luza seu
proprio aspecto”.® A transformario da experiéncia temporal da fotogra-
fia, quando cla se submete ao dominio do clique, tornande-se instantinea,
coincide com sua fase de “declinio” nas dcadas seguintes, caracterizada
‘por Benjamin como “decadéncia do gosto”. Tal declinio nfo & outta coisa,
para Benjemin, se nfo o “esquecimento do cariter fantasmtico ¢ espectral
4a fotografia” que era parte indissoeivel de sua experiéncta nas primeiras
ddécadas:%
A expulsio da curagio ~ ¢ o correspondente exilio do tempo ~ seri
comemorada por fot6grafos como um ato de libertago. Representow uma
ignificativa simplificagto das tarcfas técnicas: chapas, e depois peliculas,
‘mais ficeis de manipular, variados mecanismos de controle. Para os mode-
los, propiciou o afastamento de dois dissabores associdos & fotografia. O
primeiro deles, de ordem fisica:
Para tirar os primeiros retratos (par volta de 1840) era necessvio sub-
meter 0 sujito a longas poses airs de um vidruga, ao sol; tomar-se
objeto provocava tanto sofrimento como uma operagdo cinirgica. In-
‘ventow-se entio um aparetho chamado apoia-cabesas, uma espécie de
prétese, invisivel para a objetiva, que sustentava e mantinha 0 corpo
na sua passagem a imobilidade; este apoia-cabegas era o pedestal da
cstitua em que eu ia me transformar, o esparttho da minha esséncia
Jimagindria.°
1 FRADE, P. Op. eft, p. 201
1 CADAVA, E. Op. ct, p. 13.
8 BARTHES. R. Op. ci, p. 29. 0 famoso autorretrato de Bayard, de 1840,
legendado pelo autor "Este & 0 corpo do Talecido Bayard” é, neste sentido,
‘no s6 um protesto contra o fato de ter sido preteride por Daguerre como in
ventor de fotografia, mas também uma alusio a esta Imobilidede mortal que
2 fotwgrafia exigia dos fotografedos. A mesme imabilidade que transformava
Vivos em mortes também pala realizar @ “milagre” eantréri. Durante os enos
seguintes, fo rlativamente frequente fotografar criangas mortas coma
Você também pode gostar
- Ebook Mapeamento Da Midia Negra-1Documento46 páginasEbook Mapeamento Da Midia Negra-1Aíla CristhieAinda não há avaliações
- O Que As Imagens Realmente QueremDocumento13 páginasO Que As Imagens Realmente QueremAíla CristhieAinda não há avaliações
- 2618-Texto Do Artigo-11863-13100-10-20220715Documento21 páginas2618-Texto Do Artigo-11863-13100-10-20220715Nuno MannaAinda não há avaliações
- A Presença Da Crítica Social Na Imprensa Negra Brasileira - Anderson - FernandoDocumento21 páginasA Presença Da Crítica Social Na Imprensa Negra Brasileira - Anderson - FernandoAíla CristhieAinda não há avaliações
- Fichamento Teoria Do Rádio e Debatendo Com Brecht e Sua Teoria Do Rádio.Documento2 páginasFichamento Teoria Do Rádio e Debatendo Com Brecht e Sua Teoria Do Rádio.Aíla CristhieAinda não há avaliações
- Fichamento - Recontextualização Do Ismo - Thiago FerreiraDocumento2 páginasFichamento - Recontextualização Do Ismo - Thiago FerreiraAíla CristhieAinda não há avaliações
- Fichamento - Capítulo - Que Negro É Esse - Da Diáspora, Stuart HallDocumento1 páginaFichamento - Capítulo - Que Negro É Esse - Da Diáspora, Stuart HallAíla CristhieAinda não há avaliações
- Ebook Gratuito Química EnemDocumento6 páginasEbook Gratuito Química EnemAíla CristhieAinda não há avaliações
- Apresentação SeminárioDocumento19 páginasApresentação SeminárioAíla CristhieAinda não há avaliações