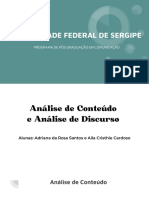Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Que As Imagens Realmente Querem
O Que As Imagens Realmente Querem
Enviado por
Aíla Cristhie0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações13 páginasTítulo original
O QUE AS IMAGENS REALMENTE QUEREM
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações13 páginasO Que As Imagens Realmente Querem
O Que As Imagens Realmente Querem
Enviado por
Aíla CristhieDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 13
HALLYN. F. Introduction: In: GALILEI, G. Le Messager des Hioiles. Paris
Seuil, 1992,
HECHT, H. Gotsfied Wilhelm Leibniz. Mathematik und Natunvissenschaften ins
Paradigma der Metaphysik, Leipzig: Teubner, 1992.
KEMP, M. Bildervissen. Die Anschaulich
Kéln: DuMont Buchverlag, 2003,
KEMP, W. Disegno. Beitrage zur Geschichte des Begriffs zwischen 1547 und
1607, Marburger Jahrbuck fir Kunstwissenschaft, v.19, p. 212-240, 1974
KLEE, P. Livro de esboros pedagégicos. Munique: Bauhausbiicher, 1925. . 2.
LATTIS, J. M, Between Copernicus and Galileo. Christoph Clavius and the Collapse
ofthe Ptolemaic System. Chicago: Londres: University of Chicago Press, 1994,
LEIBNIZ, G. W. Briefan Gallofs (Carta a Gallois), 1677. In: GERHADT, C.
1 (Ed), Gotthed Wilhelm Leibniz, Mathematische
1863 freimp. 1962]. v. 1
LEIBNIZ, G. W. Stniliche Schifen und Briefe (Editado pela Academia Prussiana,
posteriormente Academia Alem’ de Cincias de Beslim), [AA], VI, 4, cartan.
241,) Berlim: Akademie-Verlag, 1923.
LOMAZZO, P. G.
OTTINO, J. M. Isa picture worth 1,000 wor
Jan. 2008.
PENNISI, E, Modernizing the Tree of Life. Science, v. 300, n. 5626, p. 1692-
1697, 13. June 2008.
WATSON, J. Dj CRICK, F. H, Molecular Structure of Nucleic Acids. A
Structutefor Desoxyribose Nucleic Acid. Nature, p. 737, 25 Apr. 1953,
it naturvissenschafticher Phanomene.
164 usesrenicn
O que as imagens realmente querem?
W. J. T. Mitchell
Traduzido do inglés por Marianna Poyares
As perguntas sobre imagens que dominam os trabalhos recentes,
em cultura visual ¢ historia da arte tém sido interpretativas e retéricas.
Queremos saber 0 que significam as imagens e 0 que fazem, o modo
como elas se comunicam como signos e simbolos, que tipo de poder
elas tém de afetar as emogdes ¢ 0 comportamento humano, Quando
se levanta a questio do desejo ~ normalmente localizado nos produ-
tores e consumidores de imagens —, a imagem tratada ou como uma
expressio do desejo do artista ou como um mecanismo para suscitar
0s desejos do espectador. Neste ensaio, gostaria de deslocar 0 desejo
para as prOprias imagens e perguntar o que elas querem. Tal pergunta
certamente nao significa um abandono das questoes interpretativas €
ret6ricas, mas permitira considerar diferentemente, espero, a questio
acerca do poder e significado pictéricos. Também nos au:
apossarmos da mudanga fundamental ocorrida na histéria da arte €
€m outra disciplina chamada de cultura visual (visual culture) ou estti~
dos visuais (visual studies)! que tenho associado & virada pictérica da
cultura intelectual tanto popular quanto erudita.
Para poupar tempo, quero partir do pressuposto de que somos
capazes de suspender nossa descrenca a respeito das premissas da
© Visual ealtare ow visual
sual ou estudos
rns, historia da arte e teoria critica, edicada ao estudo da
imagem. (NT)
EE
Pergunta “O que as imagens querem:
uma pergunta estranha e mesmo passivel de questionamentos. Tam.
bém estou ciente de que solicita uma subjetivagio das imagens, uma
Personifica¢ao ambigua de objetos inanimados, que flerta com uma
auitude regressiva e superstciosa com relagio as imagens e que, s¢
tomada seriamemte, nos levaria de volta a priticas como totemismo,
fetichismo, idolatriae animismo, Sio priticas consideradas primitive,
‘ou infantis pela maior parte dos individuos esclarecidos quando trata-
das em sua forma original (por exemplo, adorar objetos materiais ou
tratar abjetos inanimados, como bonecas, como se estivessem vivos)
‘ou em suas manifestagdes modernas (fetichismo, tanto de commo,
quanto de perversio neurética)
‘Também estou perfeitamente ciente de que a pergunta pode soar
como uma apropriagao de mau gosto de uma questio normalmente
reservada a outros individuos, patticularmente aqueles que tém sido
objeto de discriminacio, vitimados por imagens preconceituosas,
‘dentificados com estereétipos ou caricaturas. A pergunta de cente
modo ecoa toda a investigacio a respeito do desejo do Outro despre-
zado ou menosprezado, da minoria ou do subalterno, que tem sido tio
central para os estudos modetnios sobre género, sextalidade ¢ etnia ?
“O que quer o negro?” a pergunta levantada por Frantz Fanon (1967,
P. 8) arriscando a reificacio da masculinidade e negritude em uma
$0 formula. “O que querem as mulheres?” foi a pergunta que Freud
‘40 pOde responder.? Mulheres e negros tém lutado para responder
diretamente tais perguntas, em articular seu proprio desejo. E dificil
* Transferir as imagens de caracteris
8 roprias is minorias e aos subalternos seré
tum tema central para a sequéncia do texto, Poderiamos
da famore
sewn de Gayate Spivak (1988) “Pode o subalterno flan”. A resposte
< rnfo’tma resposta que econ quando imagens fo tratadss como signos
‘ou mudos, desprovidos de fila, sonoridade ou negagio (esse caso +r
ngunts sctia: as imagens querem uma voz, uma poética de emuncs
59) acerca da forma segundo a qual
nagens, produzindo “wma linguagem
‘cavando baracos” na
‘ordinério, quando as vozes parecera tetetn3¢ al
Jones relata que Freud uma vex exclamou a princesa Maria Bonaparte “Was
will das Weiss?” (°O que quer a mulher?") (GAY, 1989, p 670) (NLA)
165 Fupesrencs
ee
Seat Como imagens podem fazer o mesmo ou como qualquer
auestionamento dese tipo pode ser mais do que apenas uin Ventrilo.
intencionado ou, na melhor das hipéteses, inconsciente
Geen’ S& Belgar Bergen perguntasse a Charlie McCarthy “0 que
querem as marionetes?”*+
Nio obstante, gostaria de proceder como se a pergunta valese
«Pens sr ita, por um lado, como um tipo de experimento de pen.
Simento, simplesmente para ver © que sucede e, por outro, pela com.
“isto de se tratar de uma pergunta que jf estamos fazendo, que nao
podemos evitar e que, portanto, merece ser. analisada. Os precedentes
de Marx ¢ Freud me encorajam, uma vez que ambos consideravam.
necessirio que as ciéncias sociais ea Psicologia modernas tivessem que
Jidar com as questdes do fetichismo e do animismo, com » subjetivi-
dade dos objets, x pessoalidade das coisas. As imagens sie miacatna
Por todos os estigmas préprios & animacio e & personalidade: exibern
Corpos fsicos evireuais; alam conosco, is vezes lteralmente, 3s veses
figurativamente; ou silenciosamente nos devolvein o elhar amen,
Ge um abismo no conectado pela linguagem. Flas apresentam nis
apenas uma superficie, mas uma face que encara o espectador. Ainds
ue Marx ¢ Freud tratem o objeto personificado, subjetivade e ani,
mado com profunda suspeita, subordinando seus respectivos fetiches
& critica iconoclasta, acabam por gastar grande energia om detalhes
G Mocessos pelos quais a vida dos objetos & producida na experitn.
cia humana, E, a0 menos no caso de Freud, trata-se de uma questio
realmente importante a possibilidade de uma “cura” de doenga do
Edgar Bergen era um célebre ventriloquo americano ¢ Chalice McCarthy uma de
suas marionetes, (N:T}
Ao afismar que as imagens tm certas caractristicas d
acerca do que é una pessoa. Qualquer que sean
conta o que é que hi nas pes
(Goat ananed) a Bementarto poderiainiciat-se pela origem da palavs peronone
scarasusadas na tragédia grega. Em
sama, pessoas ¢ personalida tacteristicas derivadas de imagens
bem como as imagens drivam suas caracteciticas de poston. (Ny
“ Escou ctendo aqui o comentério de John Berges (1980, p 3) sobre»
Bulf unbridged by language”) em yeu elisico envio
‘Mais sobre esse assunto em meu texto “Looking at animale
1994, p. 329-344), (N.A)
MJT. MITCHELL 0.UE AS mascENS REALNENTE CU
fetichismo’ A minha posicio 6a de que o objeto subjetivado, anima-
do, de uma forma ou de outra, é um sintoma incurivel, e que tanto
Marx quanto Freud devem ser tomados como guias 4 compreensio
desse sintoma para, talvez, sua transformago em algo menos danoso e
Patoldgico, Resumidamente, estamos press a nossa atitudes magicas
€ pré-modernas frente a objetos, especialmente frente as imagens,
€ nossa tarefa no é superar tais atitudes, mas compreendé-las, para
entio lidar com sua sintomatologia
© tratamento literitio das imagens é bastante ousado na cele-
bragio de sua personalidade e vitalidade misteriosas, muito provavel-
mente porque a imagem literdria nfo solicita ser encarada diretamente,
mas encontra-se distanciada pela mediagio da linguagem. Retratos
magicos, mascaras, espelhos, estituas vivas e casas mal-assombradas
estio por toda parte nas narrativas literdrias, tanto moderna quanto
contemporinea, ¢ a aura dessas imagens imagindrias infiltra-se nas
relagdes profissionais e cotidianas com imagens reais.® Os historia~
dores da arte podem “saber” que as imagens que estudam sio apenas
objetos materiais que foram marcados por cores e formas, mas eles.
frequentemente falam ¢ agem como se as imagens tivessem senti-
mentos, vontade, consciéncia, agéncia e desejo.’ Todos sabem que
7 Freud (196, p. 152-157) aborda oftichismo sublinhando que se trata de um sntoma
notoriament satisfatrio e que seus pacientes raramente reclamam dele, (N.A.)
Imagens migiase objets aims so caraceitcs especialmente novels do
samancs cropendo sae XIN. spaecndo nas pinan eBlse Does Ege
Allan Poe, Henry James dlr, portods arte noomance tice (ZIOLKOWS
1979), Come 2 pido enconto com sxe hos tds
pst-modernas~ esta deseo howvent se produsido nes pares domes
reimentoporaluminita de objets sbjecvados (A)
‘A documentagio comy personificeda e viva no diseurso
‘da aparéncia e
(para usar os termos,
tuatamento oferecido por Winckelmann 3
ica como agente de seu proprio desenvolvimento histOrico e sua descri-
$0 do Apolo de Belvedere como um objeto tio carregado de animo divino que
mnsforma 0 espectador cm uma figura do Pigmaleio, uma estitua tornada viva,
serd 0 foco central de tal ensaio, assim como o tratamento que Hegel faz do objeto
aque recebeu o “batismo do espirito”. (N.A.)
168 suBesrenica
uma foro de sua mae nao é algo vivo, mas relutariam em destruf-la,
Nenhum individuo moderno, racional ¢ secular considera que ima-
gens devem ser tratadas como pessoas, mas sempre estamos dispostos
a fazer algumas excegdes para casos especiais.
‘Tal atitude nao esta restrita a valiosas obras de arte ou imagens
que possuam um significado pessoal. Todo executivo do ramo da
Propaganda sabe que algumas imagens, para usar o jargio, “tém
Pernas" ~ ou seja, tém a surpreendente capacidade de gerar novas
diregdes ¢ torgSes em uma campanha, como se tivessem
€ bropésitos préprios. Quando Moisés pede a Aardo que explique
como fez 0 bezerro de ouro, Aario responde que simplesmente jogou
© ouro dos israelitas no fogo e “saiu este bezerro” como se fosse um
autOmato autogerado."' Evidentemente, alguns idolos também “tém
ernas’* A ideia de que as imagens tém um poder social ou psicolé
Bico proprio & de fato, o cliché reinante nos estudos contemporineos
em cultura visual. A alega¢o que vivemos em uma sociedade do
espetculo, vigiléncia e simulacro no é uma mera intuigio da critica
Cultural. Mesto um icone do esporte e da propaganda como André
Agassi pode afirmar que “imagem é tudo” e ser compreendido como
alguém que fala nio apenas a espeito das imagens, mas pelas image
como alguém que é, ele proprio, “nada mais do que uma imagem’
Nio ha nenhuma dificuldade, portanto, em demonstrar que a
ideia de uma personalidade das imagens (ou, no minimo, um ani-
mismo) encontra-se tio viva no mundo moderno quanto outrora
em sociedades tradicionais. A dificuldade esta em saber 0 que dizer
4 seguir. Como as atitudes tradicionais frente a imagens ~ idolatria,
Expresio propria do ramo de propaganda, radugio da expresso ingles have lg
wT)
© Pier Bor
linha que o relato acerca do “autoengendramento” do bezerro era uma
ds expiagdo da culpa de Aatdo (c da condenagio do povo judet) pelos
© Grande, por exemplo, descreve 0 our atirado ao foga
ato em idolo como seo fogo imitasse a decisio [do povel” (BOR, 1990,
P19). (NA)
‘Meu colega Wu Hung me afirma que a
fendmeno comum nas lendas chinesas. (NA)
™ O autor se refece « uma propaganda’de miquinas fo
‘anos 1990 estrelada pelo tenista André Agassi, (NT)
WJ. T. MITCHELL ou AS mancens ReaLMenre aucnEM? )
fetichismo ¢ totemismo — sio recolocadas na sociedade moderna?
Seria nossa tarefa, como criticos da cultura, desmistificar essas ima
gens, destruir idolos modernos, expor os fetiches que escravizam os
individuos? Ou seria nossa tarefa discriminar 0 verdadeito do falso,
© saudivel do doentio, o puro do impuro, imagens boas de imagens
més? Sera que as imagens séo um terreno onde ocorrem disputas
politicas, onde uma nova ética pode ser articulada?
Ha uma enorme tentagio em responder tais perguntas com
um ressonante “sim” e tomar a critica da cultura visual como uma
estratégia direta de intervengio politica. Esse tipo de critica procede
expondo as imagens como agentes de dano ¢ manipulagio ideolégica.
Em um extremo encontra-se a tese de Catherine McKinnon (1987,
p. 172-173 ¢ 192-193), segundo a qual a pornografia ndo é apenas a
representacio da violencia e da degradacZo da mulher, mas um ato de
degradacio violenta ¢ que, portanto, imagens pornogrificas — espe-
Cialmente fotografias ¢ imagens cinematograficas — sio, elas proprias,
agentes dessa violencia, Existe também o argumento familiar e menos
controverso na critica politica da cultura visual: o cinema hollywoo-
diano constréi a mulher como um objeto do “olhar masculino”;
‘massas iletradas sio manipuladas pelas imagens da midia visual e da
cultura popular; pessoas de cor sio sujeitadas a esteredtipos grificos e
& discriminagio visual racista; museus de arte sio uma forma hibrida
de templo religioso e banco, nos quais os fetiches da mercadoria sio
exibidos em rituais de adorago piblica, designados a produzir mais-
valia estética e econdmica.
‘Ainda que todos os argumentos anteriores tenham algum grau
de verdade (eu mesmo sou responsivel por formular muitos deles), hi
algo de radicalmente insatisfatério neles. Talvez 0 problema mais sbvio
scja que a exposi¢io ¢ demolig&o critica do poder vil das imagens é
to facil de ser realizada quanto ineficaz. Imagens sio antagonistas
politicas populares, pois é possivel posicionar-se contrariamente a elas
‘¢, no entanto, no final das contas tudo permaneceri praticamente
éntico. Amplos sistemas podem ser depostos, um ap6s 0 outro,
Um forte exemplo dessa politica de sombras € 2 indistria de testes psicaldgicos
destinados a provar que 0s jogos de videogame sio causadores de violéncia juveni
Enormes quantias de dinheiro piblico sio gastas anualmente em “pesquisas” (si
- uBesrenca
sem que isso surta nenhum efeito na cultura visual ou politica. No
caso de McKinnon o brilhantismo, paixo e futiidade da empreitada
sio evidentes. As energias de uma politica progressista e humana,
que busca justica social e econémica, estariam sendo realmente bem
empregadas em uma campanha que tem como objetivo erradicar a
pornografia? Ou tal empreitada seria, no melhor dos casos, um mero
sintoma de frustragdo politica e, no pior, um desvio da energia politica
progressista pela colaboracdo com formas diibias de reacio politica?
Ou, melhor dizendo, o tratamento que McKinnon oferece 3s ima-
gens, como se tivessem agéncia, é um tipo de testemunho de nossa
incorrigivel tendéncia a personificar e animar imagens? A futilidade
politica poderia levar-nos 4 reflexio iconolégica?
Em todo caso, é tempo de puxar as rédeas dos argumentos acerca
das consequéncias politicas da critica a cultura visual e de moderar
nossa retorica sobre o “poder das imagens”. Certamente, as imagens
io slo desprovidas de poder, mas podem set muito mais frigeis do
que supomos. © problema € refinar e complexificar nossa estimativa
acerca desse poder e do modo como ele se exerce. E por esse motivo
que estou deslocando a pergunta de o que as imagens fazem para 0
que elas querem, do poder para o desejo, do modelo de poder domi-
ante, 20 qual devemos opor, ao modelo do subalterno que deve ser
interrogado ou, melhor, convidado a falar. Se 0 poder das imagens €
como o poder dos fracos, isso poderia explicar por que seu desejo é
o forte: para compensar sua impoténcia. Como criticos, gostaria-
zmos que as imagens fossem mais fortes do que verdadeiramente sio
para, asim, conferirmo-nos uma sensagio de poder ao confronti-las,
expé-las e aclami-las.
Por outro lado, 0 modelo subalterno das imagens revela a dialé-
tica entre poder e desejo mas relagdes com as imagens, Quando Fa-
non reflete a respeito da negritude, a descreve como uma “maldicio
corporal” arremessada na imediatidade do encontro visual: “Olhe,
Sobre o impacto de videogames, apoin :
bode expitriocbnico, “culural, do que steno aos vedadton instrumented
oléni, sabe, sma de fog. Paramsices etal’ yer conferneiaproferida ma
Universidade de Chicago, “Phying By The Rules: The Culteral Policy Cha
of Video Games’ pace do evento The Arts nd Haman in able Life,
27 de outubro de 2001. (N.A.) "
1. J.T. MITOHELL 0 ou¢ As nAcENS REALWENTE QUEREM? ”
um negro!” (FANON, 1967, p. 109). Mas a construgio do exterestipo
racial ¢ racista nfo € um simples exercicio da imagem como técnica
de dominagio. Antes, trata-se da atadura de um né que une tanto
© sujeito quanto objeto do racismo em um complexo de desejo
¢ édio. A violéncia ocular do racismo parte seu objeto em dois,
tornando-o simultaneamente hipervisivel e invisivel,"© um objeto de
“abominagio” e “adoracio”, nas palavras de Fanon.!” Abominacao e
adoragao so precisamente os termos usados na Biblia para condenar
a idolatria: € exatamente pelo fato de o idolo ser adorado que deve
ser abominado pelo iconofébico."" O idolo, como o homem negro, é
to desprezado quanto adorado, desvalido por ser insignificante, um
escravo, ¢ temido por ser uma forca desconhecida e sobrenatural. Se
a forma mais dramatica do poder da imagem na cultura visual é a
idolatria, ela também é uma forca consideravelmente ambivalente
ambigua. Enquanto a visualidade ¢ a cultura visual estiverem infec~
tadas por um tipo de “culpa por associago” com a idolatria e 0 mau-
olhado do racismo, nio é de se admirar que historiador e intelectual
Jay (1993) possa considerar o préprio “olho” constantemente
na cultura ocidental, e a visio repetidamente “denegrida”.
Se as imagens sio pessoas, entio, sio pessoas de cor, marcadas, ¢ 0
escindalo da tela completamente branca ou preta, da superficie em
branco, sem matcas, apresenta uma face bastante diferente
0 homem que adora 0 Negro ¢ tio doente quanto aquele que © abomi-
(FANON, 1967, p. 8). (N.A.)
™ Ver, por exemplo, 0 caso do idolo de Astoreth (Reis 23:13,
logia davidoss: “Abo-
licado como ab homine,
io da imagem animada com bestss
do também & um
c Sobre o idole
epee possivel de formas que combinamn
caracter ver Carlo Ginzburg (1994, p. 55, 67). (N.A)
" Da expressio ingless downcast eyes, utiizada por Martin jay (1993) (N.A.)
m usesrenca
Quanto ao género das imagens, esté claro que a concep¢io-
padrio € que estas sejam femininas. Segundo o historiador da arte
Norman Bryson (1994, p. xxv), as imagens “constroem sua audignels
20 redor de uma oposicio entre a mulher como imagem ¢ o homem
como 0 portador do olhar” ~ nao imagens de mulheres, mas imagens
como mulheres.” A pergunta “o que as imagens querem?” é, portanto,
inseparivel da pergunta “o que querem as mulheres?”. Muito antes de
Freud, “O conto da mulher de Bath”, de Chaucer, coloca em cena
uma narrativa construida em torno do questionamento “o que as mu-
theres mais desejam?”. A pergunta é posta a um cavaleito condensdo
elo estupro de uma dama da corte, a quem foi concedido um ano de
Suspensio da execurio de sua pena de morte para que vi em busca da
Tesposta correta. Caso ele retorne com a resposta errada, a sentenca
de morte sera executada. O cavaleiro recebe muitas tespostas erradas
Gas mulheres que entrevista: dinheiro, reputagio, amor, beleva, belae
*oupas, Prazer na cama, admiradores. A resposta correta, no entanto,
& maitre, termo do inglés medieval que indica a ambiguidade entec
a dominagdo de direito on por consentimento ¢ o poder advinds
de uma forca superior ou astiicia.”” A moral do conto de Chaucer é
due © dominio consensual, livremente outorgado, 6 melhor, mas o
narrador do conto, a cfnica e mundana mulher de Bath, sabe que o
ue as mulheres querem (ou seja, 0 que Ihes fata) & poder, e que elas
© tomario da forma que for.
Qual € a moral para as imagens? Caso se pudesse entrevistar
todas as imagens que se encontre em um ano, quais respostas elas da.
riam? Certamente, muitas imagens dariam as respostas “erradas” do
conto de Chaucer, isto &, as imagens pediriam um alto valor para si,
serem admiradas e louvadas por sua beleza, adoradas por muitos aman,
kes, Mas, acima de tudo, elas gostariam de exercer alguma maestria
(maistrye) sobre o espectador. O critico e historiador da arte Michael
Fried resume a “convencio primordial” da pintura nos seguintester-
‘mos: “uma pintura deve, primeiramente, atrair o espectador, de
® Um texto central acerca do género da imagem e do ol
Pleasure and Narrative Cinema” de Laura Mulvey (1975). (NA)
* Meus agradecimentos a Jay Schléusener por soa ajuda
maistye. (N.A)
JT. MITCHELL 0.QUE As ukGENS REAL MENTE QUE?
prender seu olhar e finalmente encanté-lo. Uma pintura deve cha-
mar 0 espectador, paralisi-lo e sustentar sua atengio, como se 0
espectador estivesse impossibilitado de mover-se, como se estivesse
enfeitigado” (Friep, 1990, p. 92). Em suma, 0 desejo da pi
trocar de lugar com o espectador, fixé-lo em seu lugar, paralisé-lo,
tornando-o assim uma imagem para o olhar da pintura, 0 que po-
deriamos chamar de “efeito Medusa”. Esse efeito é, provavelmente,
a demonstragio mais clara que temos que o poder das imagens ¢
‘© poder das mulheres sio modelados um a semelhanca do outro, ¢
que se trata de um modelo, tanto de imagens quanto de mulheres,
abjeto, mutilado ¢ castrado.”” O poder que desejam € manifestado
como falta e nio como possessio.
Sem davida, poderiamos estabelecer uma relagio entre imagens,
feminilidade ¢ negritude de forma muito mais elaborada se relacio—
ndssemos outras variagdes da subalternidade das imagens com outros
modelos de género, identidade sexual, local cultural, e até mesmo de
identidade entre espécies (suponha, por exemplo, que 0s desejos das
imagens fossem modelados a partir dos desejos dos animais? O que
‘Wittgenstein queria dizer com suas frequentes referéncias a certas
penetrantes metaforas filos6ficas como “imagens queer”?), Mas, pelo
momento, gostaria simplesmente de retornar ao questionamento de
Chaucer e ver 0 que acontece se questionarmos as imagens a respeito
de seus desejos em vez de simplesmente olharmos para clas como
veiculos de significados ou instruments de poder.
Comecemos por uma imagem que é como um livro aberto, 0
famoso cartaz de recrutamento do exército norte-americano durante
4 Primeira Guerra Mundial, Uncle Sam, de James Montgomery Flagg
(Fig. 1). Trata-se de uma imagem cuja demanda e mesmo seu desejo
parecem ser absolutamente claros, focados em um objeto especifico:
® Ver Neil Herz (1983) e minha argumentaglo acerca da Medusa em Mite!
7). (NA)
No entanto,o termo queer, como utilizado por Wittgenstein (1953, p. 79-80 e 83-84),
‘io significa de forma alguma perverso (wideratirll), mas sim alge absolutamente
satural (ganz natch), ainda que estrano (seltsum) ou cxriaso (merkwvurdig) (N.AL)
Na tradueio ingless, os vocsbulos slemies supracitados so traduzidos por queer
A diferenciasio de significados é estabelecida por Mitchell e nio por Anscombe,
‘radutor para o inglés desta obra de Wittgenstein, (N.T)
1994,
174 uBesrenca
1 seja, jovens homens admissiveis para o servigo militar.* O.
objetivo imediato da imagem parece ser uma versio do efeito Medusa:
ela interpela o espectador verbalmente ¢ tenta paralisi-lo com seu
olhar penetrante e (eu elemento pictérico mais extraordinério) com
© efeito de proximidade de sua mao e seu dedo que aponta ao ‘espec-
tador, acusando-o, designando-o comandando-o. Mas o desejo de
paralisé-lo nao passa de um objetivo transitério e momentineo. Seu
objetivo a longo prazo é emocionar e mobilizar 0 espectador, envié-lo
20 “posto de alistamento mais préximo” e, finalmente, fazer com que
atravesse © oceano para lutar ¢, possivelmente, morrer por seu pais.
Fon U.S ARMY
NEAREST RECRUITING STATION
Figura 1~ Monigomery Flagg, Unsle Som
“Quero vocd para o ex
Lee (1991, p. 58) oferece umta glosa
intervalo em que a demanda o esv
para além da necessidade por
perverso
vis exp ‘Sa demand. No en
‘quo pervers essa imagem! (NA)
19.4.7. MITCHELL 0 QUE AS MAGENS REALMENTE
Até aqui temos feito uma letura do que poderiamos chamar de
signos manifestos do desejo positivo. O gesto do dedo apontado é um
elemento frequente nos cartazes de recrutamento modernos (Fig. 2).
Para avancarmos, precisamos perguntar 3 imagem o que deseja,
no sentido do que Ihe falta. Aqui o contraste entre o cartaz norte-a
meticano ¢ © cartaz alemio é esclarecedor: a diltimo mostra um
s wudando seus irmaos, chamando-os para se juntarem
Uncle Sam, como o nome indica, estabelece uma relagdo mais ténue ¢
sutil com o potencial recruta. Trata-se de um homem velho, desprovido
do vigor da javentude indispensivel para o combate ¢ talvez ainda mais
importante, da conexo sanguinea direta que a imagem da patria poderia
evocar Ele chama jovens rapazes para lutar ¢ mozrer em uma guerra
nna qual nem ele nem seus filhos participario. Tio Sam nio tem filhos,
usesr
76
apenas sobrinhos, sobrinhos da vida real (real life nephews) como coloca
George M. Cohan. Tio Sam é esté
, um tipo de imagem abserata,
um cartaz que no possui sangue
©u corpo, mas que personifica a na:
40, pede o corpo e sangue dos filhos de outros homens. E apropriado,
portanto, que
seja um descendente pictérico das caricaturas brit
pleas do Yankee Doodle, uma figura ridicula que adornou as pginas da
evista Pari a0 longo do século XIX. Seu ancestral mais longinguo
€ uma pessoa real: “Tio” Sam Wilson, um fornecedor de carne ara o
exército americano durante a Guerra de 1812. uma
cena onde o protétipo original do Tio Sam esteja se ditigindo, nio a
um grupo de jovens, mas ao gado prestes a set abatido. Nao é d
admirar que essa imagem tenha sido tio
uma inversio parédica na figura do L
Podemos imagin
Prontamente apropriada para
Jncle Osama, incitando os jovens
notte-americanos a irem para a Guerra do Iraque (Fig, 3),
Figura 3 Tom Paine, Unle Osama, 2002
“Quero que voed vada o esque”
® George M. Cohan foi autor da
versos sio: “I'm a Yankee
live nephew of my U
fnkee Doodle Dandy’
yodle Dandy / A Yankee Dood
ile Sam's /Born on the Fi
dada em 1941, era uma célebre
em 2002, (N.T)
WJ. TeamTeHELL 0
Entio, 0 que quer essa imagem? Uma andlise completa nos
levaria as profundezas do inconsciente politico de uma nagio ima-
ginada como uma abstragio desencarnada, um regime iluminista
de leis e ndo de homens, de principios e nao de relagdes sanguinea,
efetivamente encarnada como um lugar onde velhos brancos alistam
Jovens de todas as ragas (incluindo um nimero desproporcional de
pessoas de cor) para lutarem suas guerras. O que falta a esta nagio,
real e imaginéria, é carne — corpos e sangue ~ e, para obté-los, envia
‘um homem oco, um fornecedor de carne, ou talvez apenas um artista
Afinal, modelo do cartaz é 0 préprio James Montgomery Flagg.
Sam é, portanto, o autorretrato do patriota artista norte-americano
vestindo as cores da bandeira, reproduzindo a si mesmo em milhdes
de impresses idénticas — um tipo de fertilidade que est4 disponivel
as imagens ¢ aos artistas. A “desencarnacio” dessa imagem produzida
em massa contrasta-se com stra encarnagio e localizagio como imagen”
relacionada a postos de alistamento (e corpos de recrutas) espalhados
por todo o pais.
Dado esse pano de findo, pode parecer surpreendente que 0
cartaz tenha tido qualquer poder ou et
de recrutamento e, de fato, seria muito dificil saber qualquer coisa
a respeito do poder real da imagem. © que podemos descrever, no
entanto, € a construgio do seu desejo em relacio a fantasias de poder
€ de impoténcia. Talvez a combinacio da sutil inocéncia da imagem
quanto a sua esterilidade anémica, com suas origens no comércio ¢
caricatura, forme um simbolo apropriado dos Estados Unides.
Por vezes a expressio de um querer significa antes uma falta do
que 0 poder de comandar ou exigir, como no caso do cartaz promo-
cional da Warner Brothers para 0 filme The Jazz Singer de Al Jolson
(Fig. 4), cujo gestual evoca sdplica ou rogo, declaragdes de amor por
uma “mie preta”* uma audiéncia que deve ser encaminhada para 0
cinema e ndo para um posto de recrutamento. O que essa imagem quer,
diferentemente do que ela pede, é uma relagio estavel entre imagem
fundo, uma demarcacio entre corpo e espaco, pele e roupa, exterior ¢
ividade como instrumento
® ‘A relagio entre aimagem desencarnada, sem corpo, ¢ aimagem concreta éabordada
no capitulo 4 de Mieehell (2005). (N.A})
vy, uma ama de Teite negra que serve &s criangas brancas,
* Do inglés mar
interior. Essa demarcacio ¢ exatamente o que a imagem nio pode ter,
ois os estigmas racial e corporal se dissolvem em um vai e vem de
espagos pretos ¢ brancos que se alternam e tremulam frente a nossos
olhos, como um medium cinematografico e a cena que promete a farsa
Tacial. Como se essa farsa finalmente se reduzisse a uma fixago nos
otificios e érgios do corpo como zonas de indisti
s ‘Zo: olhos, boca
€ indos fetichizadas como portées iluminados entre o homem visivel
¢ invisivel, brancura interna e negritude externa, “I am black but O
my soul is white” (sou negro mas minha alma é branca), diz William
Blake, mas as janelas da alma estio triplamente inscritas nessa imagem
como ocular, orale téctil — umm convite para ver, sentir e filat para
além do véu da diferenca racial. Tal como afirma Lacan, o desejo que
a imagem desperta em nosso olhar & exatamente aguilo que nao pode
‘mostrar. Tal impoténcia é o que Ihe confere seu poder especifico,
___O desaparecimento do objeto de desejo visual em uma imagem
€ por vezes 0 elemento caracteristico da produgio de espectadores,
como no caso da miniatura bizantina do século XI (Fig, 5). A fi
Cristo, como a do Uncle Sam ou a de AlJolson, se dirige d
Wd. Te AITEMELL ooUE as,
ao espectador, aqui com os versos do Salmo 77: “Escuta, meu povo,
‘mew ensinamento: emprestem suas orelhas as palavras de minha boca”.
© que se mostra claramente, no entanto, pelas evidéncias a da
imagem, é que as orelhas nio se inclinaram tanto 4s palavras da 7
quanto bocas foram pressionadas nos lbios da imagem, desgastando
sua face até o limiar do seu desaparecimento. Sao espectadores que
seguiram o conselho de Joio Damasceno: “acolher as imagens com.
olhos, Libios coragio”.” Como no caso do Uncle Sam, essa imagem,
deseja 0 corpo, sangue e espirito do espectador; diferentemente do
Uncle Sam, ela entrega seu proprio corpo no encontro, em um tipo
de reatualizacao pictorica do sacificio da eucaristia. A desfiguracio
da imagem nio é uma profanagio, mas um signo de devocio, um
reposicionamento do corpo pintado no corpo do espectador.
pagado pelos bejos dos fs, Dumbarton Oaks, Washington D.C.
® Para uma discussio mais aprofundada, ver Nel
susesrenca
180
Mo TemToWELL ove as macens ounewi quem?
Expresses diretas de desejo pictrico como exsas sio geralmente
associadas a modos “vulgares” de constituigio da imnagem — publicidade
comercial; propaganda politica ou religiosa. A figura como subalterna
{anca um apelo ou emite uma demanda cujos eeito e poder emergem
de um encontrontersubjtivo compost por signos de dessjo postive
© tsagos de falta ou impoténcia, Mas ¢a obra de arte como tal, o objeto
estético do qual se espera autonomia em sua beleza ou sublimidae>
Michael Fried fornece uma resposta na qual ‘argumenta que a emergéncia
daarte moderna deve ser entendida em termos de negacio ou renincis
4 signos diretos do desejo. © processo de seducio pictérica admirado
pot Fried € 0 indizeto, aparentemente indiferente frente ao espectador,
{catralmente absorto em seu préprio drama interior O tipo espect
de imagens que o cativa obtém o que quer exatamente por fingir nao.
querer nada, simular possuir tudo aquilo que necesita, As discusses
de Fried em tomo das obras Bolas de sabio de Jean-Baptiste Siméon
Chardin (Fig. 6) A balsa da Medusa de Théodore Géricault (Fig. 7)
dlevemn ser tomadas como casos exemplares, pois nos mostram que a
Guestio no se reduz simplesmente ao que as figuras parecem querer,
408 signos legiveis do desejo que transmitem,
Figura 6~Jean-Bupriste- Siméon Cha
INovslorgue, Musen Metropol
Figura 7 ~ Théodore Géricault, A baba da Medusa, 1819, Museu do Louvre
(© desejo pode ser contemplativo ou hipnético, como em Bolas
de sabo, onde o globo brilhante e tremulante absorve a figura, tornan-
do-se “o correlato natural da prépria imersio [de Chardin] no ato de
pintar € um espelhamento do que ele acreditava que seria a absor¢io
do espectador frente a0 trabalho finalizado” (Friep, 1990, p. 51). Esse
desejo pode também ser violento como em A balsa da Medusa, onde os
esforcos dos homens na balsa devem ser compreendidos no apenas em
relagZo & composigio interna do quadro e ao navio no horizonte que
ver socorré-los, mas sim “como a necessidade de escapar a nosso olhar,
de pér um fim a nossa contemplacio e serem resgatados da inexoravel
ppresenga que ameaca teatralizar seus sofrimentos” (p. 153).
© estigio final desse tipo de desejo pi
parece, ao purismo da abstracio modernista cuja negacdo da pr
do espectador ¢ articulada pelo tedrico Wilhelm Worringer em sua
obra Abstraction and Empathy e concretizada, em sua versio final, nos
quadros brancos do jovem Robert Rauschenberg, cujas superficies
eram consideradas pelo artista como “membranas hipersensitivas
[...] registrando mesmo 0 mais sutil fendmeno em suas peles esbran-
quigadas” (Jones, 1993, p. 647). Pinturas abstratas sio imagens que
no querem ser imagens, que desejam ser liberadas de seu tornar-se
uBesresica
182
imagem, Mas o desejo de no mostrar desejo é, conforme nos lembra
Lacan, uma forma de desejo. Toda tradigao antiteatral retorna mais
uma vez ao padrio de feminilizagdo da imagem, segundo 0 qual a
imagem deve despertar o desejo do espectador e, simultaneamente,
encobrir qualquer sinal de desejo proprio, ocultando inclusive o
reconhecimento de estar sendo contemplada, como se o espectador
fosse um voyeur olhando através de uma fechadura,
A fotocolagem de Barbara Kruger, Your gaze hits the side of my
fice (Fig. 8), fala diretamente a essa concepsio purista ou puritana
do desejo da imagem. O rosto de marmore esti de perfil, como o
rosto do menino com a bolha do quadro de Chardin, desatento a0
olhar do espectador ou ao aspero feixe de luz que varre seu rosto de
cima a baixo. O interior da figura, seus olhos brancos, sua expres~
sio petrificada, fazem com que ela pareca estar além de qualquer
desejo, em um estado de pura serenidade que associamos a beleza
clissica. Mas a inscrigo verbal colada na imagem envia uma men-
sagem absolutamente contriria: “seu olhar atinge a lateral do meu
rosto”. Se lermos tais palavras como se fossem pronunciadas pela
estatua, toda a aparéncia do rosto se modifica subitamente, como se
se tratasse de uma pessoa que acabara de ser transformada em pedra,
como se 0 espectador fosse a Medusa, langando seu olhar violento e
maligno sobte a imagem. Mas o local e a segmentacio da inscricio
(em mencionar 0 uso dos pronomes seu e meu) fazem com que as
palavras parecam, alternadamente, flutuarem sobre e grudarem-se
@ superficie da fotografia. As palavras “pertencem” tanto A estitua,
quanto 4 fotografia e & artista, cujo trabalho de corte e colagem foi
to notavelmente posto em primeiro plano, Podemos interpretar tais
Palavras, por exemplo, como uma mensagem direta sobre a politica de
género do olhar, como uma figura feminina criticando a violéncia do
olhar masculino. No entanto, o género da estitua no é claramente
determinado, poderia muito bem tratar-se de um Ganimedes."" B, se
as palavras pertencem @ fotografia, ou 4 composi¢ao como um todo,
qual género deveriamos atribuir-hes? Essa imagem envia ao menos
trés mensagens conflitantes acerca de seu desejo: ela deseja ser vist
® Ganimedes, na mitologia grega, é unt dos
sua beleza feminina, é um pe
pes de Troia,raptad
nagem cujo género aio & clatamente de
J.T. MITOMELL 0 aU As naAGENS ReALWENTE aUEREU
cla nao deseja ser vista, ela é indiferente ao fato de ser vista. Acima
de tudo, ela quer ser escutada ~ uma tarefa impossivel para a imagem
silenciosa, imével. Como o cartaz de Al Jolson, 0 poder da imagem
de Kruger vem da alternincia entre diferentes leituras, deixando 0
espectador em um tipo de paralisia. Face a imagem abjeta/indiferente
de Kruger, 0 espectador é, simultaneamente, um voyeur exposto, que
€ flagrado espiando, ¢ os olhos mortais da Medusa. De forma oposta,
4 interpelagio direta da imagem de Al Jolson promete a libertagio da
paralisia ¢ do mutismo, a satisfagio do desejo da imagem silenciosa
€ imével pela voz e pelo movimento — uma exigéncia literalmente
satisfeita pelas caracteristicas técnicas da imagem cinematografica.
Figora 8 ~ Bazbata Keuger 1, Mary Boone Galery
"Seu olla ange a Iatral do meu rosto™
Entio, 0 que querem as imagens? Podemos tirar deduces gerais
a partir desse répido exame?
Meu primeiro pensamento é 0 de que, apesar do meu gesto inicial
de afastar-me das questes acerca de significado e poder das imagens
184 Fusesterica
Para aproximar-me da questio do desejo, acabei por retornar a0 pro~
cedimentos da semi6tica, hermenéutica e retérica. A questio acerca do
gue as imagens querem nao elimina a interpretagio dos signos, tudo
que alcanca € um deslocamento sutil do alvo da interpretacio, uma
‘modificacio sutil da imagem que temos das proprias imagens (etalvez
dos signos)* As chaves para esse deslocamento sio: 1) consentir com a
ficeao constitutiva das imagens como seres “animados”, quase agentes,
simulacros de pessoas; ¢ 2) considerar as imagens no como sujeitos so
beranos ou espiritos desencamados, mas como subalternos cujos corpos
sto marcados pelos estigmas da diferenca, que fancionam tanto como
‘mediuns quanto como bodes expiat6rios no campo social da visualidade
humana. £ crucial para essa mudanga ‘estratégica que no confundamos
© desejo da imagem com o desejo do artista, do espectador ou mesmo
das figuras na imagem. © que as imagens querem nao é 9 mesmo que
a mensagem que elas comunicam ou 0 eftito que produzem, nio &
Sequer 0 mesmo que elas dizem querer. Como as pessoas, as imagens
podem nio saber o que querem, devem ser ajudadas a lembri-lo através
do diélogo com outros.
Poderia ter tornado esse questionamento mais dificil analisando
Pinturas abstratas (imagens que no querem sé-lo) ou estilos como
Paisagens onde a pessoalidade aparece apenas como uma
Para usar a expressio de Lacan.” Comecei pela face como objeto
Primordial e superficie da mimesis, do rosto tatuado as faces pintadas.
Mas a questio do desejo pode ser dirigida a qualquer imagem e este
ensaio & apenas um convite para que vooé mesmo o faca,
scontece contemporaneamente com os conceitos def
hoje, na era dos ciborgues, da vida artificial da engenhs
® Para uma anilise da animacio/personificacio da pa
Landscape: Israel, Paletine and the A:
© que as imagens querem de nés, o que falhamos em dar-lhes,
€ uma ideia de visualidade adequada a sua ontologia. Discusses
contemporineas em cultura visual sfo frequentemente desviadas pela
retérica da inovagao e modernizago. Querem atualizar a histéria da
arte aproximando-a de disciplinas teéricas, do estudo do cinema ¢
da cultura de massa. Querem apagar as distingdes entre alta e baixa
cultura e transformar “a historia da arte em uma historia das imagens”,
Querem “romper” com a suposta dependéncia da histéria da arte
de nogées ingénuas de “semelhanga e mimes
supersticiosas frente as imagens que parecem
Elas apelam a modelos de imagens “semidticos” ou “discursivos” que
as revelam como projeydes da ideologa,tecnologiss de dominacio
as quais a critica atenta deve resi
‘Nio se trata de tal concepgao de cultura visual ser errada ou
infrutifera. Muito pelo contrério, ela produziu uma transformagio
notivel até mesmo nos confins adormecidos da histéria da arte aca~
démica. Mas isso tudo 0 que queremos? Ou, mais especificamente,
é isso tudo o que as imagens querem? A mudanga mais profunda que
‘marca a busca de um conceito adequado de cultura visual é precisa~
‘mente a énfase no campo social do visual, nos processos cotidianos
de olhar e ser olhado. Esse complexo campo de reciprocidade visual
nfo é apenas um produto secundirio da realidade social, mas um
elemento que a constitu ativamente. A visio é tio importante quanto
-m na mediago de relagdes sociais sem ser, no entanto, re~
inguagem, ao “signo” ou ao discurso. As imagens querem
direitos iguais aos da linguagem e no simplesmente serem trans-
formadas em linguagem. Elas no querem ser nem igualadas a uma
‘historia das imagens”, nem elevadas a uma “historia da arte”, mas
sim serem consideradas como individualidades complexas ocupando
posigdes de sujeito c identidades maltiplas.»* As imagens querem uma
critica de Michael Taussig (1993, p. 44-45) ao lugar-comum da “
ingénua” como “mera” cOpia ou representagio realista, (N.A.)
S Estou resumindo aqui em linbas gerais os argumentos de Bryson, Holly « Moxey
‘em sua introduc editorial 3 revista Visual Culture, (N.A.)
5 Ouro modo de formular essa questo seria afirmar que as imagens no querem ser
reduridas 20s termos de uma linguisticasistematica fundada no sujito cartesian
tunitério, mas podem estar abertss 4 "poética da enuncia¢30” que Julia Kristeva
see susesrericn
hermenéutica que retorne ao gesto inicial da iconologia do historia~
dor da arte Erwin Panofsky, antes que este elaborasse seu método de
interpretacdo © comparasse o encontro inicial com uma imagem a0
encontro com “um conhecido” que “me satida na rua removendo seu
chapéu” (Panorsxy, 1955, p. 26).*
© que as imagens querem, portanto, nio é serem interpretadas,
decodificadas, adoradas, rompidas, expostas ou desmistificadas por
seus espectadores, ou encanté-los, Elas podem nem mesmo desejar
que comentadores bem-intencionados, que pensam que a huma-
nidade € © maior clogio que se lhes pode oferecer, Ihes outorgue
subjetividade. Os desejos das imagens podem ser inumanos ou nio-
-humanos, mais bem modelados pelas figuras de animais, miquinas,
ciborgues, ou mesmo por imagens ainda mais basicas — aquilo que
Erasmus Darwin chamava de “o amor das plantas”. Portanto, o que
as imagens querem, em tltima instincia, é simplesmente serem
perguntadas sobre 0 que querem, tendo em conta que a resposta
pode muito bem ser “nada”,
Referéncias
BERGER, J. About Looking. New York: Pantheon, 1980.
BHABHA, H. The Location of Culture, New York: Routledge, 1994. (0 aca da
Você também pode gostar
- A Presença Da Crítica Social Na Imprensa Negra Brasileira - Anderson - FernandoDocumento21 páginasA Presença Da Crítica Social Na Imprensa Negra Brasileira - Anderson - FernandoAíla CristhieAinda não há avaliações
- Ebook Mapeamento Da Midia Negra-1Documento46 páginasEbook Mapeamento Da Midia Negra-1Aíla CristhieAinda não há avaliações
- A MAQUINA DE ESPERAR - Mauricio Lissovsky - Intro-Cap2Documento34 páginasA MAQUINA DE ESPERAR - Mauricio Lissovsky - Intro-Cap2Aíla CristhieAinda não há avaliações
- 2618-Texto Do Artigo-11863-13100-10-20220715Documento21 páginas2618-Texto Do Artigo-11863-13100-10-20220715Nuno MannaAinda não há avaliações
- Fichamento Teoria Do Rádio e Debatendo Com Brecht e Sua Teoria Do Rádio.Documento2 páginasFichamento Teoria Do Rádio e Debatendo Com Brecht e Sua Teoria Do Rádio.Aíla CristhieAinda não há avaliações
- Fichamento - Recontextualização Do Ismo - Thiago FerreiraDocumento2 páginasFichamento - Recontextualização Do Ismo - Thiago FerreiraAíla CristhieAinda não há avaliações
- Fichamento - Capítulo - Que Negro É Esse - Da Diáspora, Stuart HallDocumento1 páginaFichamento - Capítulo - Que Negro É Esse - Da Diáspora, Stuart HallAíla CristhieAinda não há avaliações
- Ebook Gratuito Química EnemDocumento6 páginasEbook Gratuito Química EnemAíla CristhieAinda não há avaliações
- Apresentação SeminárioDocumento19 páginasApresentação SeminárioAíla CristhieAinda não há avaliações