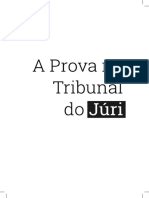Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Heranças Do Autoritarismo - Martha Huggins - Rotated
Heranças Do Autoritarismo - Martha Huggins - Rotated
Enviado por
Marcos Melo0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações20 páginasTítulo original
Heranças do autoritarismo - Martha Huggins_rotated
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações20 páginasHeranças Do Autoritarismo - Martha Huggins - Rotated
Heranças Do Autoritarismo - Martha Huggins - Rotated
Enviado por
Marcos MeloDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 20
FUNDAGAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Reitor
Lauro Morhy
Vice-Reitor
‘Timothy Martin Mulholland
Errors UNIVERSIDADE DE Brasilia
Diretor
Alexandre Lima
CoxsetHo Eprroiat,
Presidente
Henryk Siewierski
Alexandre Lima, Clarimar Almeida Valle,
Dione Oliveira Moura, Jader Soares Marinho Filho,
Ricardo Silveira Bernardes, Suzete Venturelli
os,
a
=
Elizabeth Cancelli
(Organizadora)
Historias de violéncia,
crime e lei no Brasil
EDITORA
UnB
Equipe editorial: Rejane de Meneses (Supervisio editorial); Yana Palankof
(Acompanhamento editorial); Maria Carla Lisboa Borba e Wilma Gongal-
‘ves Rosas Saltarelli (Preparacio de origirais); Gilvam Joaquim Cosmo,
‘Wilma Gongalves Rosas Saltarelli, Dantizia Queiroz Cruz, Ludimila Barbosa
© Yana Palankof (Revisio); Eugenio Felix Braga (Editoragio eletrénica);
Fred Lobo (Capa)
Copyright © 2004 by Elizabeth Cancelli (Organizadora)
Impresso no Brasil
Direitos exclusivos para esta edigdo:
Editora Universidade de Brasilia
SCS Q.02~BlocoC-N°78
Ed. OK -2"andar
70300-500 Brasfis-DF
‘Tek: (0xx61) 226-6874
Fax: (Oxx61) 225-5611
editora@unb.br
“Todos os diteitos reservados. Nenhuma parte desta publicago poderd ser
armazenada ou reproduzida por qualquer meio sem a autorizagio por escrito
da Editora.
Histérias de violéncia, crime ei no Brasil/ Elizabeth Caneelli
H673—_(organizadora). — Brasfia : Editora Universidade de
Brasfia, 2004.
260p.
ISBN 85-230-0753.9
1. Sociologia. 2. Hist6ria social. 3, Historia p
1. Canceli, Elizabeth,
DU 301
tts
Sumario
APRESENTAGAO, 7
Elizabeth Cancelli (Organizadora)
ATERRO E FOGO: FORMAS DE VIOLENCIA NO BRASIL COLONIAL, HI
Emanuel Aragjo
[FUNDAMENTA-SE UM MODERNO PENSAMENTO TURIDICO BRASILEIRO, 41
Ruth Maria Chitté Gauer
© Copico Crusavat De 1830 E As DEIAS QUE NAO ESTAO FORA DOLUGAR, 7
Mozart Linhares da Silva
(Os cRIMES DE PAIXAOE A PROFILAXIA SOCIAL, 101
Elizabeth Cancelli
AGAO DIRETA, GREVES, SABOTAGEM E BOICOTE: VIOLENCIA OPERARIA OU
PEDAGOGIA REVOLUCIONARIA? 127
Jacy Alves de Seixas
FAZER PALAR: TECNICAS DE INTERROGATORIO DURANTE O REGIME MILITAR, 155
Marion Brepohl de Magalhies
HERANGAS DO AUTORITARISMO: REFORMULAGAO DA MEMORIA DE
‘TORTURADORES E ASSASSINOS BRASILEIROS, 173,
Martha K. Huggins
72 Marion Brepohi de Magaihses
ciosamente nesta relagdo, quem permite a um homem comum, devi-
damente protegido pela autoridade da violéncia, a praticar a tortura.
(O importante aqui é que o outro dependa de mim, € nao que ele
viva tal ou tal experiéncia: esta pode ser aalegria ou o sofrimento,
ccontanto que seja eu o responsivel. E verdade que posso encon-
‘war prazer em criar a felicidade do outro. Na realidade, contudo, hi
assimetria entre 0s efeitos que abtenho nos dois casos, o descon-
tentamento do outro traz para mim uma prova mais segura daeficé-
ia do meu poder. Sua alegria tem mais probabilidades de ser, 20
‘menos parcialmente, 0 efeito de sua propria vontade; seu softi-
‘mento no é geralmente desejado por ele, provém apenas do po-
der que exergo sobre seu ser. Ele nflo pode escolher (salvo em
.¢as0s absolutamente excepcionais) sua propria tortura fisica, Nesta
dirego, existe um absoluto, que é a morte do outro (ao passo que
a felicidade nfo conhece 0 absolut). Causar a morte de alguém ¢
‘uma prova irrefutavel do meu poder sobre ele.”*
Assim compreendido, embora 0 trabalho ideol6gico pretendes-
se cindir a ago da consciéncia, 0 individuo do senso de responsabi-
lidade ¢ incutir a nogo de que se esié téo-somente obedecendo &
autoridade, no momento mesmo da tortura, interrogador deixa fluir,
secretamente, 0 gozo do tinico poder que Ihe € atribusdo (0 de pro-
vocar dor), tendo em vista a fungZo que desempenha na méquina
repressiva,
Esses fatores, vistos em seu conjunto, tecem, segundo nossa com
preensio, uma rede de eventos que pode explicar a interagdo entre
instituigio e ago individual: de um lado, a violencia verbal dos
divulgadores da “Ideologia da Seguranga Nacional”; de outro, as
motivagées subjetivas do perpetrador; e, entre as duas préticas, a
garantia do anonimato.
36 Teevan Todorov, Em face do éxiremo, Campinas, Papirus, 1995, p. 220,
Herangas do autoritarismo:
reformulagéo da memoria de
torturadores e assassinos brasileiros*
Martha K. Huggins”
Nos paises em processo de redemocratizago, como os da Amé-
rica Latina, em que a tortura e o assassinato foram préticas sistema-
ticas de governo, lembrar e esquecer possuem dimensio politica e
pessoal. Dependendo do modo como um passado autoritério seja
reconstrufdo por quem o vivenciou de diversas maneiras, antigos tor-
turadores e assassinos poderio ser amplamente anistiados, ou sub-
metidos a julgamento de que pode resultar punigao civile criminal, ou
submetidos a uma Comissio de Verdade e Reconciliagao, ou a algum.
‘outro tipo de reconhecimento piiblico de seus atos. Cada uma dessas
linhas de agai faz que os participantes se recuperem pessoal e pol
camente de modo diferente. A anistia para os que pertenceram a
rgios de seguranga violentos pode ser perturbadora para suas viti-
‘mas, mas, ao mesmo tempo, permitiré uma “negociagao politica” que,
pelo menos por algumn tempo, favorecerd uma estabilizagio politica
global. Os julgamentos politicos podem promover a recuperago das
vitimas, mas prejudicar a transformagao politica dos perpetradores e
© reconhecimento piblico dos atos maléficos por eles perpetrados.
Encarando os julgamentos como ameagas, os perpetradores podem
recusar-se & autocritica e procurar ocultar-se cada vez mais para
evitar que eles proprios e suas familias se transformem em “vitimas”,
isso pode resultar um impacto sobre a meméria social que impega
dugo de Lélio Lourengo.
Martha Huggins esereveue apresentou este atigo em reunifo da Universidade de
‘Wisconsin, Madison, sobre Herangas do autoritarismo: produgo cultural, trauma
coletivoe justiga global, 3-5 abril de 1998,
7s Martha K. Huggins
que informagées sobre 0 cardter dos regimes repressivos se tomem
historia publica, 0 que, por sua vez, pode retardar transformagées
politicas, uma vez.que, como disse Walter Benjamin (1968), 0 que se
torna meméria coletiva pode promover ot inibir a resisténcia coletiva
2 opressio e a transformagao politica rumo & demoeracia.
De que modo um pals recorda seu passado violento? Este estudo
procura reconstruir essa parte da mem6ria hist6rica brasileira a res-
peito das forgas de seguranga do regime militar, mediante entrevistas
com policiais a respeito da tortura e do assassinato que cometeram
‘ou presenciaram sistematicamente. Sugerimos que um modo de com-
preender o que as entrevistas relatam sobre a violéncia policial é
encarar 0 discurso dos policiais como uma tentativa de tornar seu
comportamento passado ~ legitimado, num momento anterior, pela
‘guerra que o Brasil travava contra a subversdo intema ~ compativel
comas realidades ideol6gicas, legais e organizacionais posteriores a0,
perfodo autoritério, Encaradas desse modo, as reflexdes morais dos
entrevistados a respeito da violéncia constituem uma tesposta a per-
guntas de estranhos (no caso, entrevistadores estrangeiros) ~ feitas
durante 0 perfodo de redemocratizagao do Brasil ~a respeito de com-
portamento ocorrido ao tempo da ditadura militar. O relato de um
entrevistado constitui uma sfntese negociada entre a antiga violencia
admitida, a sitiago social e politica que Ihe deu sustentagao e o con-
texto sociolegal dentro do qual esse relato provavelmente serd julga-
do. O relato é uma declaragdo a respeito das justificagSes culturais ¢
politicas, no presente, para a violencia das foreas de seguranca, pois,
como disse Collins, “o modo como alguém conta o passado est (...)
diretamente relacionado com o modo como esse alguém imagina a
politica no presente”.
Ao resumir os relatos de antigos torturadores e assassinos brasi-
leiros a respeito da violencia passada, deles préprios e de outros, des-
cobrimos que podem ser convenientemente agrupados em quatro
categorias de discurso, identificadas na primeira parte deste artigo:
ou os entrevistados difundiam a responsabilidade, ou culpavam indivi-
duos (eles préprios ou outros), ou mencionavam uma "causa justa”,
ou justificavam a violéncia como parte de um louvavel
“ profissionalismo”. Na segunda parte do artigo, essas atribuigbes so
Herancas do autoritarismo 178
reagrupadas em quatro “vocabulérios de motivo” que “Justificam”
“desculpam”, “negam” ou “confessam" a tortura e/ou 0 assassinato.
A terceira parte do artigo mostra que um sistema sutil de considera-
40 moral corrobora os vocabulérios de motivo dos torturadores €
assassinos; ele considera certas torturas “aceitéveis”, algumas “ina-
ceitéveis, mas compreensfveis”, e algumas “inaceitéveis”. Na parte
final do artigo, afirmamos que a tendéncia dos entrevistados hoje de
jjustificarem a violéncia policial “aceitével” por fundamentar-se no
“profissionalismo” representa um desvio em relagdo ao perfodo mili-
tar, quando a desculpa primordial para a tortura tinha como funda-
mento uma exaltada “causa justa” em defesa da “seguranga nacio-
nal” Isso indica que 0s entrevistados forjaram para si uma identidade
moral pés-ditadura mais aceitével, reformulando os relatos sobre a
violéncia mediante um vocabulério que eles esperam se harmonize
‘melhor com a democracia.
A ditadura no Brasil
Em 1964, os shilitares brasileitos, apoiados pelos Estados Uni-
dos (Black, 1971; Parker, 1978), depuseram 0 presidente Jouio
Goulart, dando inicio a 21 anos de regime militar. Os militares con-
solidaram seu poder sobre 0 Estado e a sociedade durante muitos
‘anos, mediante decretos executivos (dezessete atos institucionais),
uma lei de seguranga nacional e as Leis n® 317 e 667.~ esta tiltima
colocando todas as forgas policiais sob controle militar. A ctiagio
subseqiiente de organizagbes operacionais ¢ de inteligéncia em
associagao entre policias ¢ Forgas Armadas (p. ex., Oban, DCI, DOW
Codi) reuniu unidades policiais especializadas em uma guerra de
Ambito nacional e centralizadamente orquestrada contra a “subver-
sio interna” (Huggins, 1998).
Embora a “guerra suja” dos militares brasileiros contra os “‘sub-
versivos” no tenha torturado e matado proporcionalmente tantas
pessoas quanto nos paises dominados pelos militares do Cone Sul
(Chile, Argentina ¢ Uruguai), ou na América Central (Guatemala,
Salvador e Honduras), 0 Estado de seguranga nacional do Brasil (1964-
16 Martha K. Huggins
1985) levou a cabo uma repressiio disseminada em que havia bruta-
lidade, tortura, assassinato e “desaparecimentos”. Somente “entre
1969 ¢ 1974, (...) a violencia institucional [de tal modo fazia] (
parte da vida do todo dia [no Brasil, que] era dificil encontrar um
brasileiro que nao tivesse estado em ccntato direto ou indireto com
‘uma vitima de tortura, ou sido alvo de uma operaco de busca e
captura” (Alves, 1985: 125; BNM, 1986; Huggins, 1998),
Muitos estudiosos enfocam esse tipo de violéncia como tendo
sido levada a cabo exclusivamente pelos militares. Contudo, relativa-
‘mente ao Brasil, isso seria subestimar o papel da policia no Estado de
seguranca nacional do governo militar. Com efeito, oficiais das For-
‘gas Armadas brasileiras afirmaram que, até princfpios da década de
1970, as Forgas Armadas estavam muito mais mal equipadas para 0
combate & subversio interna (Fon, 1979) do que os Dops (policia
social e politica) das Policias Civis dos estados, que durante longos
‘anos de experiéncia se haviam preparado para levar a cabo a repres-
stio politica (Lago e Lagoa, 1979; Mingardi, 1995), Assim sendo, todo
estudo sobre a violéncia das forgas de seguranga durante o perfodo
militar do Brasil nfo pode deixar de levar em conta a policia.
‘Antes do regime militar, os sistemas policiais municipais ¢ esta-
duais eram independentes entre sie co controle federal. A Policia
Militar, fardada, que executa o policiamento ostensivo, sempre foi
historicamente subordinada ao govemador eleito de cada estado
(Ferandes, 1979). A Policia Militar, com varias divisdes ~ entre as
‘quais patrulhas a pé, cavalaria, esquadiées motorizados, unidades de
inteligéncia (P-2) e equipes swat e de controle de distirbios -, pos-
suia, até 1969, nomes diferentes em cada estado ~ “Forga Pablica”,
em So Paulo, e “Brigada Militar”, em Goids, por exemplo.
‘A Policia Civil (“judicial” ou investigativa), & paisana, que realiza
as investigagSes post-facto da transgressto da lei, tem, historica-
‘mente, sido subordinada ao Secretério da Seguranga Publica de cada
estado, Entre as divis6es da Polfcia Civil encontram-se tradicional-
mente a Policia Politica e Social (Dops), uma divistio de investiga-
{Ges criminais (p. ex., o Deic de Sao Paulo), esquadrdes motorizados
e divisbes de crimes contra o patriménio e de homicfdio.
Em 1969, quando as Policias Civil e Militar do Brasil foram su-
ordinadas as Forgas Armadas, a policia fardada de cada estado re-
Herancas do autoritarismo a7
cebeu o novo nome de Policia Militar.’ Mais ou menos pela mesma
época, 0 governo militar brasileiro comegou a criar novos érgios
operacionais e de inteligéncia formados pela Policia Civil, Policia
Militar e pelas propria Forgas Armadas ~ 0 Grupo de Operacdes
Especiais (GOE) do Rio de Janeiro, um grupo para operacdes milita-
res € policiais especiais, a Operagdo Bandeirantes (Oban) de Séo
Paulo e a Diretoria Central de Informagdes (DCI) do Rio Grande do
‘Sul. Em 1970, os militares institufram uma nova organizagio hibrida
policial-militar de ambito nacional, chamada Destacamento de Ope-
ragdes/Centro de Operagdes de Defesa Interna (DOI/Codi), com
jjurisdigdo em todas as “zonas de seguranca nacional” multiestaduais,
recentemente criadas no Brasil. Cada uma dessas zonas possufa uma
sucursal do Codi (a sego de coleta e andlise de informagies e de
planejamento) e pelo menos um esquadro operacional do DOL? Este
‘ltimo subdividia-se em unidades para “busca e captura”, “interroga-
t6rio”, “informagao” e “eliminacao” (Isto, 1978: 32; entrevista G, 8/93;
Huggins, 1998), Segundo dizem todos, o DOW/Codi foi o mais violento
dos érgios de seguranga interna do Brasil (BNM, 1986). Até parece
ironia que se chamasse déi
Obtendo uma amostra
Para compor nossa amostra, procuramos policiais que tivessem
servido durante 0 perfodo militar do Brasil etivessem torturado e/ou
assassinado. Mas isso foi dificil: primeiro porque, embora o Brasil
hhouvesse concedido anistia a funcionérios (p. ex., militares e policiais)
reconhecidamente torturadores ¢ assassinos, a maior parte desse
pessoal da seguranca intema no se havia valido do processo de anistia.
"A partir de 1985, eduziram-se muito 0s vinculos diretos da Policia Militar com os
‘militares, muito embora ela continue extremamente militarizadaem suaestrutura e
fun, Apt de se ome, «Plc itr nada wt ver com Poi do
2 As regides maiorese mais importantes do Brasil, onde se encontram os Estados de
‘Sto Paulo e do Rio de Janeiro, tiveram até tes organizagSes do DOT ligadas a uma
entidace Codi de inteligénciae planejamento (Huggins, 1998).
ve Martha K. Huggins
Isso significa que a maioria dos torturadores e assassins no podia
ser identificada por confissfo ou algum outro tipo de revelagao de
sua prépria iniciativa. Mesmo antigos agentes anistiatos do Estado
de seguranga nacional do Brasil nao tinham qualquer motivo racional
para conceder uma entrevista: no s6 queriam deixat para tras aque-
la parte de suas vidas, como temniam que grupos de direitos humanos
pudessem tomar piiblicos os maus atos passados que admitissem haver
cometido, o que poderia tornar a vida dificil para eles esuas familias.
‘Além disso, muitos dos antigos torturadores e matadores nfo confia-
vam plenamente nas garantias de anistia do Brasil, suspeitando que
algum futuro governo pudesse tomar medidas para responsabilizé-los
retroativamente por atos passados. Por exemplo, o prazo de prescri-
clo penal para assassinato € de vinte anos, ¢ muitos deles haviam
cometido assassinatos apenas dez ou quinze anos antes.
Em virtude da dificuldade para localizar torturadores e matado-
res reconhecidos entre os policiais brasileiros do perfodo militar na
ativa ou aposentados, inventamos um método para encontrar indire-
tamente tais pessoas. Buscamos conseguir entrevistas especialmen-
te com quem estivesse em unidades que se houvessemenvolvido em
violencia substancial, até mesmo tortura e assassinato, durante 0 pe-
rfodo militar. Entre essas unidades estavam a policia social e politica
(Dops),as unidades de investigagdo criminal da PoliciaCivil (como o
Deic de Sao Paulo) e as divisdes de homicidio e de crimes contra 0
patrimdnio, Querfamos entrevistar policiais civis ¢ militares oriundos
de patrulhas motorizadas e equipes swat e de controle de distirbios ¢
da divisto de inteligencia da Policia Militar (P-2). A maioria dos pro-
ccurados eram policiais oriundos dos esquadrées de operaces espe-
ciais e de inteligencia, que reuniam Policia Civil, Policia Militar e mem-
bros das Forgas Armadas (GOE, Oban, DOW/Codi). Nossa idéia era
de que alguém que houvesse pertencido a um desses érgdos de segu-
ranga interna teria ele préprio cometido violéncia contra suspeitos, ou
estado presente quando esse tipo de violencia houvesse ocorrido ~
‘em outras palavras, teria, pelo menos, sido participante omisso ou
testemunha de brutalidade, tortura e/ou assassinato. Como diz Robert
Jay Lifton (1986: 425), organizagdes desse tipo sdo “situagdes produ-
toras de atrocidades... estruturadas... istitucionalmente, de sorte que
Horancas do autoritarismo a9
‘a pessoa que habitualmente ali ingressa... cometerd atrocidades, ou
estard associada a elas”.
Para garantir ainda mais entrevistados que houvessem torturado
ou assassinado, buscamos os que fossem originétios de regides que
houvessem experimentado a maior repressio politica, em particular
das cidades de Sao Paulo e do Rio de Janeiro, no Sudeste do Bras
de Porto Alegre, no Sul; do Recife, no Nordeste; da capital federal,
Brasflia, na regio central
Finalmente, supondo que os policiais que estivessem presos por
‘haver cometido crinies poderiam falar mais francamente a respeito
cde aspectos da vida policial habitualmente mantidos em segredo, pro-
curamos entrevistados numa prisio do Rio de Janeiro especial para
policiais militares e civis condenados.
Dentro de nossos parmetros de amostragem, conseguimos 27
entrevistadés mediante uma técnica de amostragem “bola de neve”
no aleatéria, Em cada cidade-alvo, a “bola de neve” comegava com
a primeira entrevista, que, em geral, era conseguida por meio de con-
tatos anteriores da pesquisadora brasilianista com policiais locais ou
por referéncia de algum entrevistado em algum outro lugar. Assim
que a entrevistadora conseguia um entrevistado que atendia aos
parametros de amostragem, solicitava-se que essa pessoa indicasse
um colega. Tsso propiciava & entrevistadora uma apresentagio a
outro policial que podia concordar em ser entrevistado, ainda que
preservando os segredos pessoais ¢ institucionais mais fntimos.
‘A maneira como 0 estudo era apresentado aos entrevistados
ppotenciais tinha, sem divida, influéncia sobre a obtencdo de uma en-
trevista. Dizfamos aos entrevistados que estévamos realizando um
estudo comparativo sobre policiais que houvessem atuado em perfo-
dos de conflito e de crise, explicando que pretendiamos estudar as
vidas, as carreiras e o trabalho dos policiais brasileiros durante 0 pe-
rfodo militar no Brasil. De fato, isso era correto, uma vez que nosso
estudo demandava informagées sobre as experiéncias de formacao,
trabalho didrio, vida pessoal e mudangas de carreira dos entrevista-
dos. Somente apés se estabelecer uma boa relago, em geral depois
de umas duas horas de entrevista, € que a entrevistadora perguntava
diretamente ao entrevistado a respeito do envolvimento dele com a
bbrutalidade, a tortura e/ou 0 assassinato.
reo Martha K. Hugging
Cada entrevista levou pelo menos trés horas de interagio face a
face. Em dois casos, 0 entrevistado concordou em conceder uma
segunda entrevista, que também durou umas trés horas. As entrevis-
tas foram realizadas em portugués gravadas em fita. A seguir, um
lingiista antropélogo e tradutor profissional transcreveu as fitasetra-
duziu-as para o inglés. Essas tradugGes foram depois conferidas pela
pesquisadora que falava portugués. Para cada entrevistado isso re-
sultou em um volume de trinta a quarenta paginas de texto, Cerca de
citocentas paginas foram traduzidas por ocasiio dessa andlise.
Dos 27 policiais entrevistados, 28 haviam sido traduzidos por
ocasido desse estudo: catorze deles apresentavam indicios claros de
haver torturado e/ou assassinado.' A subamostra de catorze pessoas
ccontém nove policiais civis —entre 0s quais, um do Dops, um ex-carce:
reiro e dois de esquadrées policiais especiais. Entre os cinco policiais
militares da subamostra, um fora do DOMCodi, dois de um esquadrao
‘da morte ¢ um do servigo de inteligéncia da Policia Militar (P-2).
Indicadores para torturadores
Muito embora o processo de amostragem fosse estruturado para
garantir alta probabilidade de se conseguirem ex-torturadores © as-
sassinos, no se tinha certeza do éxito até que nossas narrativas de
entrevistas transcritas tivessem sido examinadas. Dada a relutancia
de alguns entrevistados em falar diretamente a respeito da tortura ©
do assassinato por policiais, desenvolvemos indieadores alternativos
de seu envolvimento.
possivel que os demais nove entrevistados entre os jf traduzidos tenham
stad envolvidos em tortura e/ou assassinato, mas isso no pode ser estabele-
ido nem a partir das narrativas das entrevistas nem de evidénciassuplementares.
Uma vez que esta andlise ir centrar-se apenas nos torturadores ¢ assassinos
revonhecidos, nfo incluimos aqui aqueles outros nove entrevistados. Sobre os
‘quatro ainda nfo completamente traduzidos,sabe-se que nfo estiveram envol-
‘Yidos em tortura e/ou assassinate.
Herangas do autoritarismo 184
primeiro indicador de tortura e assassinato era se 0 nome do
policial aparecia em lista de torturadores reconhecidos feita por algum
‘grupo brasileiro de direitos humanos (Quadro 1). O nome de um indi-
‘viduo podia constar de uma dessas listas por ter sido réu em julga-
‘mento militar interno contra ele (BNM, 1986), ou por ter sido identifi-
‘cad publicamente por ex-vitimas ou suas familias. Apenas trés nomes
de entrevistados (B, Porto Alegre, 11/93); F, Rio de Janeiro, 8/93; S,
Sao Paulo, 8/93), entre os catorze aqui estudados, constavam de tais
listas. Contudo, essas listas cobrem apenas parte de todos os tortura~
dores e assassinos do perfodo militar do Brasil.
Quanro |
Numa lista de torturadores conhecidos
Nome. Orgio policial Especialidade
S. (So Paulo) Policia Civil ‘Agente policial
B.(Porto Alegre ) _| Policia Civil Intelig éncia /earcereiro
F (Rio de Janeiro) | Policia Militar Oficial! Intelig éncia
Buscamos ainda outros meios de descobrir a relago de nossos
entrevistados com a tortura e/ou o assassinato. Assim, um segundo
indicador (Quadro 2) era a afirmaco de um colega do entrevistado
de que ele havia participado de tortura e/ou assassinato. Isso em
¢geral assumia a forma da afirmacao de um entrevistado de que seu
amigo — um outro dos entrevistados — havia estado envolvido na
“repressao politica” - e6digo, no Brasil, para haver participado de
violencia, até mesmo tortura e assassinato. Sete dos catorze entre-
vistados foram identificados desse modo, entre 08 quais dois dos
‘que jé haviam sido identificados como torturadores por grupos de
direitos humanos.
ssagSeftago sens:
2p oxadurasop ou ,eaiss90x8,, BIougjora opraxdte 32) assip (6=)
apg fean0) wIaI090 opuenb ajuasaid opeiso ALY NOWwTeT (=U)
Eh fwavutssesse no/a eavmuo) anb odnxB wn v oprouawed 1eAey,
nnrtupe (p=u) 9462 feutssesse noje eamuo1 anb odd wn opepuewos
FaARY a8sIp (L=U) 4505 !oreUISseSse OpHaUIOD 49} assIp (L=U) OS
sopvanuio1 seavy nnmupe souafns ezxo1e> op exsoUre wssoU ap (get
%LS “Ch ompend) oqeo ¥ opeday a1 eNTUpE OpEIstvanue oLdosd o-anb
‘BIoug[OLA ap odn 0 9 soIu9IOIA sone ap osUINU o BIa CJEUTSSESsL NO
otanuioy wre owouafonus 2po}aNp syeUrO 9 TopEOIPUT OLED
sopSezquvdio ens no opioayu
-ooa4 Jopeinyi0} wn Wadsas 9 “eBajod 2 OUTIL OBtUME Nas Jos 910
‘soja ered zeyeqen no soy-puoistatadns apsap — muajora opSeztuv310
‘wun woo no/a soutssesse no/a SazopeiniionUioD own CINOLUTAfOALD
tumqun sopassiaonuo 921039 sop ozu0 “(¢ oxpeng) apa ap astiput
vssou opundag ‘oSture eavsopisuos o 2 eavsiuupe o e198 wa (opSeZ
-tuv10 ens te no) optooyosas ropesms0) win wos vseyreqen on
opmisiaonua wn suiesosndosgos 9$ yeia8 wo satopesipul sgn sos
-s9 “eanyio} eu sostayuedutoo ap opeyost o1unfuoo win arznposd onb op
steyy “Te}oqod aiuae outoo vossad je sod owodsar a2 zessaudxa (9
oa opjoayuosai ouIssusse no Jopesnyso) WN ,,oStwIe,, ap IwUIEYD
219 ap ony 0 (q nova opSezzteax0 no vossad [ei ¥ ‘opeULpsOgns NO 101
-edins ‘eBajoo owoo opeyfeqen 10 9p opersaante op opbexeyoop & (e
opSejo0sse ap a]ud9so199p W9pIO Uta ‘Toy OTEUISSESsE LOD BPIATOA
“uo opSeziuv8i0 wurn & no operounuap oussesse no JopesMoN win &
oppistaanuo win senoura ered 0210] o1vaurepuny © ‘ojndupEn win od
‘oyeutssessepemnzo} 9p opbeziuv®i0 vuln tasdyj2 wun rod ‘opisoyuoo
at oufssesse no Jopemnpio} Wn ‘opespenb wm 1od opeyuasardes 9 op
-oystaaniua win “(¢ ospend) apai ap wures@eip ossou tg ‘soressesse
W109 septAfoauia sogSeziue810 woo noya sopetounuap soutssusse 0 $01
opeantioy woo sopeisiaariua Sop win epe9 ap oupoqea op 2 sivossed
segbufar op opad up asifyue wun nooxidwtt zopeotpur o1t20121 ©
ter ‘ousseysoIe op seduce
\I
SEGRE TEST
El g PEER 52
@ dee Me
5
=
ae
ERP
RT RAT
\
eouaeeces
wUSS Bees
ae aE
aes ce
ae z
i nt
os —
E =
5
e{aUQIOLA ap of>IpuE a9ax9J0 opEstAaNUD O2NE
Zouavnd,
194
Quapro3
Anélise da rede
Martha K. Huggins
Organizacto de
Tormrafascasinato
Tornrador
denunciado
(ito.
cenevistado)
B
Entreistado—>
Tonos
Revers
reps
Respeinve
Respir
Coes
Relagdo com
vortrado
conocido
Herances do autoritarismo 128
Quapro4
Indicagio pelo entrevistado de violencia cometida
Violéncia Pessoa % envolvid
1,8, Eu, Ma, El, PV,
1, Tortura ae 37
2. Assassinato ‘GMa, J, El, PY, V, Ju 50
3. Uso de violencia S,F, Eu, Ma, Bl, PV, “a
excessiva BIB
4, Presenciar tortura 3,S, Eu, Ma, El, K a
5. Pertencer a grupo que
assassinavatorturava | O47 V a
‘6. Comandar grupo que
torturava/assassinava | M&S.) F, 1B, A, Eu a
* Nao totaliza 100% porque virios entrevistads caem em mais de uma categoria,
Nove policiais da amostra de 23 homens (Lu, LO, Air, M, Lue, Mes, O, P18
‘apresentaram qualquer indcio que indicasse envolvimento pessoal com tortura e/
ou assassinate.
© discurso dos violentos
Constatando que catorze entrevistados pareciam ter participado
de tortura e/ou assassinato, examinamos de que modo o envolvimento
deles se refletia em seu discurso sobre a violencia, sem necessaria-
‘mente esperar que admitissem haver participado quer de tortura quer
de assassinato. Uma andlise de contetido da narrativa das entrevistas
revelou dez explicagdes para que uma pessoa houvesse cometido esses,
tipos de violencia, Essas explicagdes foram, por sua vez, agrupadas
‘em quatro categorias: difundir responsabilidades; culpar individuos;
‘como vitimas ou perpetradores; mencionar uma “causa justa” e identi-
ficar imperativos e pressdes “profissionais”. Algumas dessas expli-
cages foram mais comumente apresentadas do que outras.
186 Martha K. Huggins
Difundir responsabilidades. Um primeiro conjunio de explica-
ges para a tortura e/ou o assassinato atribui a responsabilidade por
esse tipo de violéncia quer a colegas e/ou a algum érgio de seguran-
a interna que ndo o do entrevistado, ou ainda a algum contexto
sociocultural mais amplo, nfo reconhecendo pois nenhuma fonte cla-
ra de responsabilidade por tal violéncia ¢, de fato, negando toda ¢
qualquer responsabilidade pessoal por ela, Oito dos catorze entrevis-
tados apresentaram argumentos tipo difusio de responsabilidade.
Nove deles chegaram realmente a negar categoricamente que a vio-
lencia sequer houvesse ocorrido em sua presenga enquanto estive-
ram na policia. Alguns deles localizaram as rafzes da tortura e/ou do
assassinato no comportamento de um grupo de colegas,ou no interior
de uma unidade policial que nio a do entrevistado — ainda que, em
muitos casos, o entrevistado tenha estado presente quando ocorria a
violencia. “Foi chocante... ver pela primeira vez alguém pendurado
no ‘pau-de-arara’ com uma mangueira de 4gua enfiada na boca. Eu
no concordava com aquilo, mas estava na sala e 0s caras estavam
{torturando-o}” (Entrevista J, Brasflia, 9/93).
Alguns entrevistados indicavam situagdes socioculturais especi-
ficas ou genéricas que haviam levado alguns policiais a torturar e/ou
assassinar, “Viver num ambiente agressivo afeta voc’, contamina
vvocé pouco a pouco, sem que voce perceba” (Entrevista EL, Rio de
Janeiro, 8/93). "O Brasil é um pafs catélico. No Brasil, esto acostu-
‘mados com esse tipo de comportamento ~ como a tortura, por exem-
plo — porque as igrejas catdlicas torturaram as pessoas durante mui-
tos anos, durante muitos séculos” (Entrevista J, Brasilia, 9/93).
‘Alguns entrevistados difundiam a responsabilidade mencionando
fontes obscuras que seriam responséveis pela tortura e/ou assassi-
rato, “A primeira vez que troquei tiros com alguém... foi como quan-
do vocé adormece na dirego de um carro, Vocé esté ali e aquilo 0
amedronta tanto que espanta 0 sono por minutos” (Entrevista K,
Brasilia, 10/93). “Alguns caras morreram, mas no sei quem os ma-
tou, Havia muitos caras atirando... no sei quem acertou 0 cara e
quem {no}. Voc s6 sabe que morreu gente. Felizmente foi do outro
lado” Entrevista J, Brasilia, 9/93).
Herangas do autoritarismo 187
Culpar individyos como vitimas ou perpetradores. Utilizado
por dez dos eatorze entrevistados, localizava as raizes da tortura e/ou
assassinato ou nas “més” vitimas, ou nos “maus” perpetradores. Os
{que supunham que a tortura e/ou assassinato aconteciam por causa
das més vitimas, achavam que esses individuos haviam atrafdo para
si aquele tipo de violencia por deixar de cooperar, ou por sua “burri-
ce” ou comportamento anti-social. “Eram torturados porque eram
burros... [Dissemos] que vocé tinha a oportunidade de falar sem ser
torturado, mas voce preferi ndo falar. Se ela confessasse, continua
ria presa, mas sem qualquer tortura” (Entrevista J, Brasilia, 9/93).
[A tortura] é usada em ladrées ¢ assaltantes porque eles sto ho-
‘mens... com lagrimas de crocodilo e as vezes os indfcios sio tio
Sbvios eeles negam coisas tao cinicamente que se um policial que
esteja trabalhando com eles nfo tem um certo equilfbrio iré
cespancé-lo um pouco [isto é, torturé-lo}: “Ah, quer dizer que voce
‘quer me fazer de bobo!” Nés vamos rodé-lo [no pau-de-arara).
(Entrevista K, Brasilia, 10/93),
‘Uma explicagdo que punha a culpa nos perpetradores pela tortu-
ra e/ou assassinato encarava esse tipo de violéncia como tendo sido
levada a cabo por policiais que ou eram permanentemente maus (quase
sempre alguém que nfo o entrevistado) ou apenas temporariamente
descontrolado (0 que, as vezes, inclufa implicitamente o entrevista-
do). Uma das explicagées que culpava, mas parcialmente absolvia 0
perpetrador, era que temporariamente os maus policiais haviam sido
evados por emoges de ocasido e julgamento errado, Nesses casos,
‘a tortura e/ou assassinato provinha da “burrice”, da juventude, da falta
de preparo profissional - p. ex., tempo insuficiente de formago~ ou
da cegueira temporéria causada pela paixio. “Aquele traficante que
ccausou minha pristo..., eu ia maté-lo [ele] assaltara minha casa, Eu
decidira maté-lo... eu estava cego de édio” (Entrevista EL, Rio de
Janeiro, 8/93). “[Os torturadores] eram um monte de caras fazendo
coisas burras,.. caras que no sabiam o que estavam fazendo... Em
sua maioria aqueles caras no eram bem preparados; (86] queriam
parecer” (Entrevista J, Brasilia, 9/93).
13 Martha K. Huggins
No entanto, os policiais “permanentemente maus” ou extrafam
da violencia um prazer proibido, ou tinham o habito de exagerar na
bebida ou no uso de drogas, ou eram declaradamente agressivos €
“perigosos” por causa de um “disturbio de caréter”, ou simplesmente
inerentemente desonestos. Na maioria dos casos, porém, esses poli-
ciais que, porexemplo, assassinavam “pelo simples prazer de matar”
(Entrevista FV, Rio de Janeiro, 8/93), ou que torturavam por serem
fundamentalmente “muito cruéis” (Entrevista J, Brastlia, 9/93) — foram
descritos como excegdes € niio como a regra.
[Havia] certos homens na policia que sentiam prazer em matar—
em minha equipe conheci um [ummalfeitor]. Néo eraem legitima
ddefesa e nem se poderia dizer: "Vamos nos livrar desse cara
[o prisioneito}, ele é mau”. Nao, ele queria mesmo era matar ~
«quando uma ou duas balas bastavan para mata alguén ele atrava
mais cinco vezes— pum, pum, pum... Ele] matava gente to friamen-
te quanto se mata uma galinha (Entrevista S, So Paulo, 8/93)..
(© {mau} torturador quer torturar para descobrir provas ¢ extor~
Gquir...outras pessoas. Ele pega um ladrio, espanca-o... ée modo
{que 0 ladrio The conta a quem vendeu suas coisas. Ele [entdo).
‘ai até aquelas pessoas... e toma dinheiro [delas para ficarquieto]
(Entrevista Ma, Sto Paulo, 893).
‘Argumento mais sutil nessa categoria foi o de que policiais que
se tomnam torturadores e assassinos eram originalmente mais agres-
sivos e/ou “frios” do que outros colegas ~ qualidade que os entrevis-
tados nfo consideram necessariamente ruim, Altos funciondrios da
policia de mé fama € que reconheciam essas caracterfsticas ¢ sele
cionavame treinavam policiais agressivos para fazer o trabalho mais
sujo da instituigdo, resultado nem sempre aprovado pelos entrevista-
dos, porque em geral os policiais € que “leva” pelo que os altos
funcionérios os obrigam a fazer.
{As pessoas que mais se identificam com... [a tortura ¢ 0 assassi-
rato sio) muito frias pela propria natureza.... muito agressivas..
[ssas qualidades sio] percebidas... [pelos superiores}.. Certas
pessoas que tém essa qualidade para trabalhar de determinado
Horancas do autoritarismo 189
‘modo [violento] realmente stio exploradas por seus chefes, por
aqueles que querem que o trabalho seja feito com rapidez (Entre
vista JB, Brasilia, 9/93).
Mencionar uma “causa justa”. Um terceiro conjunto de argu-
mentos era 0 dos que mencionavam uma “causa justa” para a tortura
fou assassinato, Estes afirmavam que os policiais que cometiam esse
tipo de violéncia estavam reagindo a uma situagio genérica de guer-
ra declarada, estado de sitio, guerra intema, guerra ao tréfico de dro-
gas, guerra contra o crime, ow na qual a vida de um “‘cidadao de bem”
estava em perigo. Seis dos catorze entrevistados apresentaram uma
cou outra explicagao tipo “causa justa” para o ato de torturar e/ou
assassinar, .."Se prendo alguém que sequestrou uma menininha que
pode ser morta dentro de quatro horas, no vou perder tempo em
interrogé-lo durante dois ou trés dias apenas para vencé-lo pelo can-
ssago. Entdo... penduro esse cara [no pau-de-araral, trabalho nele
cle me conta em cinco minutos” (Entrevista S, Sao Paulo, 8/93).
{A gente trabalhava como se estivesse em guerra. Eramos patrio-
tas, defendiamos nosso pais, tihamos orgulho disso, de modo
aque eles eram adversérios, eram o inimigo. Tinhamos orgulho do
que faziamos... trabalhando no Dops... aquele orgulho de livrar 0
pafs de uma ameaga, dé um regime comunista... ramos] gente
fazendo ur trabalho patritico, um grande trabalho, um trabatho
importante... Eramos gente religiosa, gente crit... (Entrevista Eu,
Brasilia, 993).
Identificar imperatives e pressdes “profissionais”. A quarta
categoria de discurso, que menciona “imperativos e pressGes profis-
sionais” como causas da tortura e/ou assassinato, foi apresentada
por todos os entrevistados, dois tergos dos quais apresentaram pelo
menos dois argumentos de “profissionalismo”. Suposigto bésica des-
ses relatos era a de que, por vezes, a tortura e/ou assassinato eram
necessérios ¢ aceitéveis para desempenhar suas fung6es e obedecer
ordens, ¢ os que levavam a cabo esse tipo de violencia no eram
180 Martha K. Huggins
‘moralmente nem bons nem maus ~ apenas profissionalmente afina-
dos, em maior ou menor medida, com as politicas e priticas das res-
pectivas organizagGes. “[Esses policiais] nao so desequilibrados..
demonstram boa conduta na policia, chegam até a aposentadoria e
‘no tém problemas disciplinares, [O fato de torturarem] niio significa
‘que sejam monstros” (Entrevista Eu, Brasilia, 9/93).
‘Na verdade, muitos entrevistados tinham como suposigio basica
que o “profissionalismo” mediava a conduta policial, ajudando até
‘mesmo a indicar o uso apropriado da violencia, Como explicou um
‘membro da Policia Militar: “Quando o homem ndo se sente um pro-
fissional estd sujeito a se deixar corromper, a abandonar seu posto...
‘ser morto... a pér outros em risco, Durante o primeiro tiroteio, iré
atirar para todo lado e... matard alguém que ndo tem nada a ver com
nada” (Entrevista F, Rio de Janeiro, 8/93).
Segundo esse argumento, a violencia ¢ “normal” (isto é, natural
¢ aceitivel) desde que levada a cabo nas circunstancias “adequa-
das” por profissionais da polfcia que sabem quando e como empregé-
la. Se a violéncia é aceitdvel ou nao decorte, no profissionalismo, de
‘um céleulo “racional”:
‘Voce nio pode [apenas] reagir, matar adequadamente}; vocé deve
agir com arazio. O trabalho policialé ser inteligerte, 6 raciocfnio,
técnica, informagio... Voo8 s6 mata quando no hé outro jeito,
‘quando ou voc mata, ou outra pessoa morre. Fors isso, voe® no
‘mata, em minha opinifo... Voc® nfo pode reagir {matando]; vocé
tem que agir com a razfo (Entrevista EL, Rio de Janciro, 8/93).
[O esquadrio da morte que eu chefiava ndo] matava gente inocen-
te; esperava as estatisticas... procurava os fatos, de modo que
sabfamos quem era e quem nao era [criminoso]. Voce percebe quem
um trabalhador, quem é um estudante; vocé percebe quem uma
pessoa de bem, quem é um bandido; vocé tem que saber tude,
‘Voce mira apessoa certa (Entrevista FV, Rio de Janeiro, 8/93).
discurso do “profissionalismo” encara a violéncia policial acei-
tavel como um equilibrio entre 0 célculo racional ¢ as pressdes € os
Herangas do autoritarismo 191
imperativos organizacionais possivelmente destruidores. Como
explicou um membro da Policia Civil, ao indicar as raizes organiza-
mnais da violéncia policial, “a tortura é 0 zelo na tentativa de des~
cobrir, de desvendar um crime. (0 policial] lida com um monte de
trabalho. Nao temos os recursos para trabalhar numa investig
fo... fentdo] o caminho mais curto é através da tortura’ (Entrevis-
taEu, Brasflia, 9/93).
Varios entrevistados assinalaram que policiais que obedeceram
corretamente ordens de altos funciondrios foram posteriormente de-
rnunciados por seus superiores pela violéncia que “profissionalmente”
haviam levado a cabo. Nesse processo, tornaram-se “vitimas de sua
profissio". Nas palavras de um membro da Policia Ci
Muitos ipolicais} que conhezoficaram frustrados porque. na épo-
ca, areditavam... estar prestando um servigo relevante [que 08
{que estavam no governo queriam que fosse feito] ¢ dele se bene-
ficiavam, E agora foram relegados a segundo plano. Sentem-se
entio extremament frustrados (Entrevista JB, Brasilia, 9/93).
[0s policiais} envolvem-se numa luta pela sociedade e sfio conde
rnados por isso. Se cometem excessos — ultrapassam os limites do
dever ~ é porque querem ser bons policiais (Entrevista S, Sio
Paulo, 893).
Corporificando e descorporificando a violencia
Os quatro relatos representam implicitamente diferentes modos
de incorporar 0 corpo e a mente no discurso sobre a violéncia. As trés
primeiras explicagdes ~ difusdo de responsabilidade, responsabilidade
individual e causa justa — contém mais comumente referéncias 20
corpo de uma vitima e/ou a alguém ou a alguma coisa que age explici-
tamente sobre o corpo de uma vitima. Essas explicagGes "corporificam’'a
vvioléncia, vinculando-a especificamente & fisicalidade humana, Em
contraposigdo, o discurso do “profissionalismo” “descorporifica’”a vio~
Tencia mediante a substituigao da agao e da fisicalidade humanas por
agentes organizacionais nao humanos e mediante a justificagdo da
violencia por meio de um célculo mental desapaixonado.
Martha K. Huggins
Porém, além da presenga ou da auséncia da fisicalidade no dis-
curso dos entrevistados, outro padriio dos dados implica que os entre-
vvistados componham um discurso que faca que sua violéncia passa
da se tome compativel com o clima ideal de direitos humanos no
Brasil p6s-ditadura, que é contrério a esse tipo de violencia. Um qua-
dro conceptual desenvolvido por Stokes ¢ Hewitt descreve esse tipo
de “ages de alinhamento” como um processo conceptual que leva 0
comportamento discordante a se sincronizar com as expectativas
cculturais idealizadas. (Scully e Marolla, 1984: 264).
‘Ages de alinhamento
Em estudo sobre estupradores condenados, Scully e Marolla
(1984) descobriram que os entrevistados reconstrufam seu desvio
vvalendo-se de um “vocabulirio de motives” culturalmente dispontvel
(Mills, 1940), que antecipava avaliag6es negativas do comportamen-
to passado e oferecia “relatos” culturalmente aceitaveis para explic4-
lo. Por exemplo, alguns estupradores cordenados negociaram “uma
[nova] identidade moral para si, mediame a apresentag&o dos estu-
pros [que praticaram] como [tendo sido] idiossincréticos, e nfo um
comportamento tipico” ~ por exemplo, o estupro estava fora de sew
controle, Outros estupradores condenados colocaram seu desvio pas-
sado de acordo com expectativas culturais, descrevendo sua violén-
ccia como “controvertida” — seu comportamento, ainda que nao intei-
‘amente correto, foi adequado & situago: uma mulher “ma” recebera
co que merecia (Seully e Marolla, 1984: 274-275). Em ambos os ca~
0s, 08 estereétipos culturais patriarcais comuns sobre mulheres for-
neceram aos estupradores 0 vocabuléric para 0 discurso post-facto
a respeito do estupro. Isso alinha o comportamento passado ao clima
‘moral atual.
Procurando sistematizar os diversos vocabulérios de motivos que
alinham passado e presente, Scott e Lyman (1968: 61) classificam os
“relatos” sobre a infragdo de regras em “éesculpas” e “justificagdes”.
Quando os relatos — discurso que é “padronizado dentro das cultu-
ras... fe] rotineiramente esperado” ~ assumem a forma de “descul-
Her
193
pas", hi a suposigdo de que “umato... [é] mau, errado ou inadequado
[com uma negativa de] plena responsabilidade” por ele. Essas “des-
cculpas” relatam o desvio como um “acidente”, ou como resultado de
1m “estado mental especial” ou de impulsos biol6gicos incontroléveis,
‘ou como uma “maldade” da vitima, Entretanto, relatos que assumem
a forma ret6rica de “justificagdes” reconhecem ndo ser permisstivel 0
comportamento desviante, “mas afirmam... [que uma] ocasigo espe-
cial o permitfia] ou exiglia}” (Scott e Lyman, 1968: 51). Mais
comumente, as “justificagdes” neutralizam o desvio (Sykes e Matza,
1957) ou negando qualquer dano e/ou violencia as vitimas, ou conde-
nando os que condenam, ou recorrendo a uma lealdade mais elevada.
Cohen (1993) argumenta que esse tipo de neutralizagao passa “a
existir quando vocé reconhece (admite) que algo aconteceu, mas
ou se recusa a aceitar a categoria de atos em que isso é incluido
crime’ ou ‘massacre"), ou 0 apresenta como moralmente justifi-
cado” (p. 107).
Nem a tipologia de Scott e Lyman (1960) nem a de Scully
Marolla cobrem, por si s6, toda a amplitude dos padrées discursivos
de nossos dados de entrevistas. Além de “justificar” ou “desculpar”
sua violencia, os entrevistados também a “confessavam” ou a “nega-
vam". Levando em conta essas duas categorias adicionais, criou-se
uma taxonomia para captar os diversos vocabuléios de motivos dos
entrevistados. Utilizando essa taxonomia “explicativa da violencia”
T Rplicando ao dicuso rbuivo de notso entrvistados as ctegoris
neualizagto de Sykes e Maan 19S, deseaeince qu a rar eetfeva
Ioralmene eda) anegaro de quel ese cara quale pein
"ose Cegntvad ano “0 Dl um pistes sane rst
dos ete po de comportaneno como a forara's®) a afc de aoe ni
houera ima da voenia que ose digas e considera neat i
nas da vléni) tot Cempregadaemn nese ssa pou eso
homens..com Karina de rose") a nega da responsbldae pessoal
pela violéncia negative de rerponsaildad”) "Quando se peencea una mg
ta, poles fzer ovat fae esas colar assassin), confrme quem,
nos esta diigind; ) acondenag dos que conden: strands “envol
sei ate nintendo
i” por sper ou gor etanese) > eeu a uma ledade ei:
bor conn fon g ene pidge pb
Ciesramor sven, oinimige”
194 Martha K. Huggins
para recodificar nossos dados de entrevista, descobrimos que todos
0s entrevistados ofereceram um ou outro relato (n=14) que “justifi-
cava” a violencia policial - negando a qualidade pejorativa da tortura
¢e/ou do assassinato, ao mesmo tempo que admitindo responsabilidade
por ela. Entre as duas justificagdes mais comuns paraa tortura e/ou
© assassinato, as explicagdes por “causa justa” apresentaram apenas
a metade da freqiiéncia (n=6) dos argumentos de “profissionalismo”
(n=14) para a explicagio da tortura e/ou do assassinato do passado,
Os relatos mais freqilentes a seguir “desculpavam” a violéncia (n=9),
reconhecendo que a tortura e/ou o assassinato haviam sido um erro,
‘a0 mesmo tempo que negava a responsabilidade pessoal por esse
tipo de violéncia em geral culpando as vitimas, os perpetradores, ou
os superiores dos perpetradores. Menos comuns ainda foram as
“negativas” (n=7), as quais difundiam a responsabilidade pela violén-
cia e rejeitavam tanto a natureza desviante da tortura e/ou do
assassinato quanto a responsabilidade pessoal dos perpetradores
por haver levado a cabo essa violencia, Finalmente, as “confissBes” —
fem que uma pessoa confessou francamente tanto a natureza vio-
lenta de seus atos quanto sua responsabilidade por eles ~ foram de
fato muito raras (n=1),
Somente um dos entrevistados (Entrevista G, Rio de Janeiro,
8/93) confessou de maneira franca completa seu papel na violén-
cia, admitindo haver sistematicamente assassinado em nome do
Estado, Contudo, fez ressalvas & sua confissio, dizendo que a violén-
cia que praticara era preferivel & da cometida por colegas seus, pois,
rmatara mas nio torturara suas vitimas. Numa descrigio de um dos
“véos da morte” de sua equipe (Verbitsky, 1997) na regio amazOnica,
Geexplicou que 0 objetivo do grupo era regressar da missfo assassina
“sem nenhum [dos prisioneiros] a bordo”, No v6o de volta, os prisio-
neiros foram submetidos a “todo tipo de tortura... as mulheres feram]
estupradas... e [a seguir] jogadas vivas para fora do helicéptero"”
G sentiu-se to “mal” ao presenciar a tortura e 0 estupro de uma
prisioneira por seus colegas, que “teve que maté-la",explicando que,
enguanto seus colegas haviam langado suas vitimas ainda vivas para
fora do helic6ptero, ele “pelo menos” matara sua vitima antes de
langar seu corpo para fora do helicéptero.
Herancas do autoritarismo 198
Violéncia policial “aceitavel” e “inaceitdvel”
‘Acscala de moralidade implicita na confissio desse entrevistado
indica a existéncia de distingGes avaliativas feitas por todos os entre-
vistados a respeito da relativa permissibilidade da tortura e/ou do as-
sassinato, Os entrevistados inclufam esse tipo de violéncia em uma
‘ou outra de trés categorias morais —podia ser “aceitével”, “desculpd-
vel, mas néo inteiramente aceitével” ou “inaceitivel” -, dependendo
de set contexto situacional. Ao situar a violéncia passada dentro de
tum contexto social reconstrufdo que levava em conta as moralidades
atuais, 0 entrevistado conseguia “alinhar” suas agdes passadas de
sorte que negociava uma identidade moral apatentemente mais acei-
tavel do ponto de vista social.
Embora nem todos os entrevistados tenham inclufdo as tr8s ca-
tegorias de julgamento moral em seu discurso sobre a violéncia, os
discursos deles compartilhavam varios tragos comuns: eles possufam
‘uma idéia clara de quando esse tipo de violencia era aceitével e quar
do ndo era; possufam critérios notavelmente semelhantes para incluir
a violéncia do passado em uma ou outra categoria moral; 0 céleulo
moral de cada entrevistado era suficientemente flexivel para encarar
a violéncia como “aceitével” numa dada situagio, “desculpavel” em
outra e totalmente “inaceitavel” numa terceira, embora apenas
‘nuancas sutis da lingua portuguesa distinguissem essas classificagdes
morais.
Fundamentagio interessante para a maiotia dos eéleulos morais
dos entrevistados era a de que a tortura devia ser mantida operacio-
nalmente distinta do assassinato: os torturadores que executavam
adequadamente seu trabalho nao deviam matar, € 08 assassinos nfio
deviam maculat-se com a tortura, como vimos na citago acima. In-
corporando esse raciocinio em sua explicagio, G afirmou que “era
muito mais facil matar, porque (em contraposigao) o torturador tinha
que ter um compromisso com sua vitima”, esperavarse conseguir ©
que precisava. No caso do assassinato, todavia, “ndo havia compro-
rmisso” com as vitimas; elas eram mortas antes que se pudesse esta-
belecer qualquer relacionamento que comprometesse a execugao da
tarefa pelo assassino profissional (Entrevista G, Rio de Janeiro, 8/93).
196 Martha K. Huggins
Essa tendéncia dos entrevistados de separar operacionalmente a tor-
tura do assassinato leva-nos a centrar esta parte da anélise exclusi-
-vamente nas afirmagoes sobre a tortura,
A consideragio moral dos torturadores
Os policiais torturadores “bons” foram descritos mediante rela
tos que “justificaram" sua violencia: policais treinados e “racionais",
que haviam torturado de maneira aceitével, possufam clara nogio de
seus limites e/ou estavam sob as ordens de um superior “racional”.
Em tais circunstancias, a tortura legitimava-se por combater por uma
“causa justa” e por interrogar “profissicnalmente” suspeitos “maus",
{A violéncia dos torturadores “bons” era “descorporificada”, arraiga-
da numa “mente” politica, ou orientada por uma “mente” racional.
Os policiais torturadores “maus” haviam empregado a violéncia
por prazer - eram deliberadamente sddicos, permanentemente
descontrolados, ou haviam torturado sob a influéncia temporéria de
drogas ou de élcool e/ou com finalidades econdmicas desonestas.
Esse tipo “inaceitvel” de tortura era “corporificado” como biologi-
camente impulsionado, resultante da fisicalidade humana “irracional”.
(0s torturadores no terreno moral mediano ~ em que a tortura
era “nfo totalmente aceitivel, mas ainda compreensivel” ~ foram
descritos por um discurso misto: a tortura podia resultar de uma perda
temporiria de controle emocional, ou quando “o sistema” houvesse
selecionado um policial declaradamente agressivo para executar a
violencia pretendida, No terreno moral mediano, os torturadores era
freqllentemente corporificados como perpetradores tomados vitimas,
fisicamente compelidos. Esse tipo de tortura inaceitével era usual-
mente “desculpado” como moralmente errado, com a ressalva de
que esses torturadores no eram pleramente responséveis por seu
comportamento desviante: press6es biolégicas ou sociais os haviam
levado a comportar-se de maneira inadequada, .
Herancas do autoritarismo 197
Relatos em transformagio: explicagdo do passado pelo
presente
Uma vez que agora a democracia oficial do Brasil condena for-
‘malmente a tortura - muito embora ela ainda seja habitualmente prati-
cada contra os pobres ~, pode-se esperar que 0s relatos atuais expli-
quem o passado mediante um "vocabulério de motivos” que neutraliza
© passado de violéncia de um entrevistado, Além disso, se, como diz
Cohen (1993), os relatos motivacionais so “preparados previamente
a partir do conjunto cultural de... vocabulérios [atualmente] disponf-
veis para atores ¢ observadores” (p. 107), entdo os mesmos relatos
que “legitimamente” motivaram, justificaram ¢ desculparam a tortura
e/ou o assassinato durante o perfodo militar brasileiro no sero hoje
to aceitéveis, social e politicamente, quanto no pasado. Relatos
motivacionais alterar-se-Ao para abranger as realidades culturais,
sociais e politicas em mudanga.
Discutindo a relagdo entre 0 contetido discursivo e as condigoes
‘e mudangas societais, Foucault (1979) (ver também Sheridan, 1980)
sugere que, para serem levados a sério, os relatos motivacionais devem
hoje se fundamentar numa “vontade de verdade” contemporanea que
tem sua base num corpus de textos cientificamente fundamentados
que contém as regras, as técnicas e os instrumentos para estabelecer
a“*vertlade”. De fato, na maior parte do mundo industrializado, rela-
tos “acreditéveis” siio agora expressos em termos cientificos, racio-
nais, pragméticos e organizacionalmente instrumentalistas. Expres-
sando-se diferentemente, C, Wright Mills (1940: 910) escreveu que
uma sociedade em que motivos religiosos foram desmascarados
em escala bastante ampla, certos pensadores so céticos quanto aos
que comumente gs proclamam”, Em outras palavras, com a passa-
gem da hegemonia ideol6gica da religigo e do sagrado para a supre-
macia da ciéncia e do secular, as explicagdes que se baseiam naquela
no posstuem mais a credibilidade das baseadas nesta. Reconhecen-
do que 0s ususrios da linguagem incorporam essas expectativas cul-
turais a seus discursos, Cohen (1993) assinala que no bojo dos relatos
de um individuo “esté 0 conhecimento de que alguns deles sero [mais
198 Marthe K. Huggins
prontamente] aceitos [e} serio homenageados pelo sistema legal
pelo piblico mais amplo” (p. 108). Apliquemos esse argumento aos
varidveis padres de discurso de nossos entrevistados.
Da seguranca nacional a0 profissionalismo
Grande niimero de pesquisas sobre o periodo militar do Brasil
(Black, 1977; Langguth, 1978; Lemoux, 1980; Pinheiro, 1991; Huggins,
1998) demonstra que, naquela época, era comum invocar-se a idéia
de seguranga nacional da Guerra Fria para justificar a repressio es-
tatal. As forgas de seguranca dividiam a populacdo do Brasil em “sub-
versivos” e “cidadaos de bem”, estando as forcas de seguranca numa
“guerra justa” total contra a “subversio” (Black, 1977: Alves, 1985;
Lemoux, 1979; Weschler, 1987; Skidmore, 1988; Huggins, 1998).
Apelando para 0 argumento da “guerra justa”, o presidente Emesto
Geisel (1974-1979) — para justificar o envolvimento de seu governo
com a tortura ~ explicou, no infcio da década de 1990, que “ha cir-
cunstncias em que uma pessoa ¢ forgada a envolver-se em [tortura]
para obter confissdes e, desse modo, evitar maior dano [para a socie-
dade]” (FGV, 1997).5 Neste caso, o discurso pés-ditadura da “guerra
justa” do general é congruente com o que teria sido uma justificagio
“aceitével” durante o perfodo militar do Brasil.
Com a expectativa de que nossos entrevistados apresentassem
predominantemente um relato desse tipo, ficamos surpresos quando
apenas seis deles realmente o fizeram, Na verdade, entre os poucos
que forneceram um relato de “causa justa” para a tortura e/ou 0
assassinato, somente quatro recorreram especificamente & “segu-
+ Bimeressant notar que o nics entevistados que presentaramcomoexpicagio
paraa ortra lou ssssnatoa“causajusa da seguranca nacional erm policis
de posts mais elevads, O de hererguia inferior jamais deram essa expliagto.
Talver como exresidente do Brasil EmestoGeise, os etevisados qe haviem
sido fii da poi ainda se sentam frtementecompromeids coma ideoiogia
anticomunistada seguranga nacional, Iso havin outrorsustificad ato de have-
rem ondenado,supervsionad e, em alguns casos, até mesmo execulado graves
lage ds dietos humans.
Herancas do autoriterismo 199
ranga nacional”. Em contraposicgao, como ja mostramos, todos os
catorze entrevistados apresentaram um ou mais relatos de
“profissionalismo” relativamente a tortura e/ou ao assassinato. Tal-
vez a predominancia desse tipo de discurso reflita uma redugdo da
legitimidade cultural e politica dos relatos de “guerra justa” sobre a
vviolénciae um aumento da aceitabilidade cultural do “profissionalismo”
para justificar os abusos de poder dos policiais. Como jé afirmamos,
ssa alterago pode indicar uma mudanga cultural mais profunda no
‘mundo em processo de industrializagiio no sentido do recurso a ideo-
logias que se enraizam na racionalidade, no instrumentalismo e na
ciéncia (p. ex., “profissionalismo”) contra as que recorrem & paix e
‘A emogio (p. ex., “guerra justa”). Esses relatos que recorrem desa-
paixonadamente a valores instrumentais talvez sejam nos dias de hoje
culturalmente mais vlidos do que os que indicam um compromisso
‘emocional profundo a um valor expressivo extremo — a “causa jus-
ta”, Se isso é verdadeiro, quais so as conseqiiéncias de basear-se
no “profissionalismo” para legitimar a violéncia policial?
Profissionalizagio da violéncia pol
‘Tomado como uma ago racional cientificamente orientada, en-
tende-se que 0 “profissionalismo” inclui formagio especializada em
determinado corpo de conhecimentos, rigida divisio de trabalho, hie-
rarquia na tomada de decisdes, padres ocupacionais que se aplicam
automaticamente e regras impessoais e universais de nomeagao, pro-
‘mogio, demissdo ¢ remuneragao. Relativamente & ago policial no
Brasil, o profissionalismo foi operacionalizado por meio de ideologias
de controle do crime e militarizagio técnica (Chevigny, 1995; Huggins,
1998a e b; relativamente aos EEUU, Skolnick e Fyafe, 1993). Por
sua vez, 0 profissionalismo militarizado justifica a criagdo de uma
policia cada vez mais hierarquizada, fortalecida por esquadrées téc-
nicos de combate ao crime e pelo material militarizado para o comba-
teaum “inimigo” generalizado. Ao dividir a populagdo em “cidadaos
de bem” e “criminosos”, a orientagio militar do controle do crime
‘mantém a antiga divisdo maniquefsta da populagdo do Brasil feita
200 Marthe K. Huggins
pelos militares brasileiros: “cidadaos de tem" e “subversivos”, estes
transformados nos “criminosos marginais” transgressores das regras,
a ser legitimamente tratados por meio de repressio policial pesada e
generalizada,
‘Considerado 0 oposto da “falta de razio” e da imprevisibilidade,
considera-se que o profissionalismo reduziré a violencia policial pelo
aumento da agio policial “racional”. Na verdade, porém, 0
profissionalismo militarizado ao mesmo tempo aumenta (Chevigny,
1995; Skolnick e Fufe, 1993) e dissimula avioléncia policial (Huggins,
1992). O pressuposto de que os métodos profissionais “racionais-
legais” orientam o comportamento dos policiais elimina ipso facto a
possibilidade de que “verdadeiros profissionais” possam agir de modo
‘“inadequadamente” violento, relegando cs policiais que violam esses
padrées profissionais ao status de excepeionais. Eles seriam “macs
podires” dentro de uma instituigZo policisl que quanto ao mais é har-
‘moniosa, bem pensante e profissional.
‘Quanto ac modo como a profissionalizagio militarizada fortalece
1 violéncia policial, as esferas “profissionais” concedem ampla auto-
nomia aos que ali trabalham, permitindo que os profissionais da poli-
cia definam e avaliem por si sés 0 que é ¢ 0 que nao é violencia
“excessiva”. Uma vez que uma ideologia secular de profissionalismo
define os profissionais como os mais qualificados para ajudar clientes
aeliminar, estabilizar ou aprimorar um dado problema ou situago, as
decisdes profissionais so separadas das opinides altemnativas exter-
nas, Isso significa que os clientes dependentes — quer a sociedade
‘mais ampla, quer supostos transgressores da lei - “devem respeitar a
‘utoridade moral daqueles cuja reivindicago de poder” repousa em
seu conhecimento e suas habilidades especializados (Bledstein, 1976:
87). Essa autonomia, ¢ 0 relativo isolamento concedido ao policial
“profissional”, institui um clima propfcio aos abusos de poder pelos
policiais, Como explicou um dos entrevistados ~ que teve a seu cargo
© comando de um esquadrio da morte que matara uma centena de
pessoas -, “ele jamais matara alguém fora do servigo”, seus assassina-
tos foram todos em servigo e no cumprimento do dever... fsendo sua
adequago) corroborada por testemunhas ou por... [seus] parceiros..
Herancas do autoritarismo 201
Herangas do regime militar: 0 autoritarismo em transigbes
democraticas
Escrevendo sobre as causas da tortura, Crelinsten (1993: 5) afir-
ma que seu emprego rotineiro sistemético “6 & possivel dentro de
um mundo fechado imbufdo de uma realidade alternativa distinta da-
quela da moralidade convencional”. Embora Crelinsten esteja certo
quanto a tortura ocorrer em isolamento e com ele se favorecer, seria
equivocado encarar a tortura como uma moralidade “convencional”
externa, Um tipo de moralidade convencional —o profissionalismo -
constitui um etos moral moderno, secular, que envolve um conjunto
de principios sobre 0 “certo” e 0 “errado”, no qual a ciéncia e a razio
supostamente orientam atitudes e condutas. O etos do “profissiona-
lismo” permite que policiais “profissionais” relativamente autonomos
decidam sobre a “accitabilidade”, a “desculpabilidade” ou a “inaceitabi-
lidade” de graves violagGes de direitos humanos. Encarada como um
padrio de base cientifica para a avaliagdo da adequago da tortura
e/ou do assassinato, a moralidade secularizada e tautolégica do
“profissionalismo” fomece uma justficativa legitima para a violéncia
policial: se for executada por policiais “profissionais” agindo “‘pro-
fissionalmente”, a violéncia policial € aceitével. Ou, como explicou
um dos policiais, “Eu ndo emprego... violéncia fora do padréo de
minha consciéncia como ser humano. Sou um profissional cons-
iencioso, Sei o que fazer ¢ quando fazé-lo”. (Entrevista A, Rio de
Janeiro, 8/93).
Explicando de que modo a linguagem motiva a ago futura, C.
‘Wright Mills (1940: 907) afirma que esses vocabulérios de motivos
“profissionalizados” fornecem novas “raz6es para 0 comportamento
corrente; medi[am] motivfam] a ago futura”. Na verdade, os vo-
cabuldrios ideolsgicos que supdem que a agio policial
“profissionalizada"e a violéncia so oxfmoros ajudam a justificar ea
Perpetuar 0 abuso de poder pela policia. Assim, embora o discurso
dos policiais sobre a tortura e o assassinato tenha mudado~na medida
‘em que Brasil autortério foi substituido pela redemocratizacio formal
ea “guerra contra a subversdo” por uma “guerra contra o crime” =, a
autonomia dos policiais continua a permitir que “profissionais” da
202 Martha K. Huggins
policia no Brasil cometam graves violagdes dos direitos humanos.
Em outras palavras, a violéncia policial de um perfodo anterior nao
perdeu o vigor nem mesmo durante a redemocratizagao do Brasil.
Na verdade, nas maiores cidades do Brasil ela aumento vertical-
mente (Dudley, 1998; Huggins, 1998), 5
Referéncias bibliogréficas
ALVES, M. H. State and opposition in military Brazil. Austin
University of Texas Press, 1985.
BENJAMIN, Walter. Illuminations. Nova York: Schocken Books,
1968,
BLACK, Jan K. United States penetration of Brazil. Manchester:
Manchester University Press, 1977.
BLEDSTEIN, Burton J. The culture of professionalism: The middle
class and the development of higher education in America. Nova York:
Norton, 1976,
BNM. Torture in Brazil (Brasil nunca mais). Nova York: Vintage,
1986,
CHEVIGNY, Paul. Edge of the knife: police violence inthe Americas.
Nova York: New York Press, 1995,
COHEN, Stan. Human rights and crimes of the State: the culture of
denial, Australian and New Zealand Journal of Criminology,
p.97-115, 26 ul. 1993,
COLLINS, John M. Fixing the past: stockpiling, storytelling, and
Palestinian political strategy in the wake of the “Peace Process”. In:
HERANGAS DO AUTORITARISMO, 1998, Universidade de
Wisconsin,
Herancas do autoritarismo 203,
CRELINSTEN, Ronald D. The World of Torture: A Constructed
Reality, 1993, Artigo inédito,
DUDLEY, Steven. Deadly Force: Security and insecurity in Rio.
Nacla, n. 32:3, novi/dez. 1998.
FERNANDES, M.H. Politica e seguranga. Sao Paulo; Alfa-Omega,
1979.
FUNDAGAO GETULIO VARGAS (FGV). Emesto Geisel. Rio de
Janeiro: Fundagdo Gettilio Vargas, 1997.
FON, A.C. Tortura: a historia da repressio politica no Brasil. Si
Paulo: Global, 1979.
FOUCAULT, Michel. Discipline and punish: The Birth ofthe Prison.
Nova York: Vintage, 1979,
HUGGINS, Martha. Violéncia institucionalizada e democracia: liga-
«es perigosas. Conferéncia no Nicleo de Estudos da Violéncia, 1992,
Universidade de Sao Paulo.
. Political policing: the United States and Latin
‘America, Durham, Carolina do Norte: Duke University Press.(Edigao
brasileira: 1998 Policia e politica: relagées Estados Unidos/Améri-
ca Latina. So Paulo: Cortez, 1998a,
. Police violence targets the poor. Connection to
the Americas, n. 15:7, set. 1998b.
Entrevista A. Rio de Janeiro, set. 1993.
Entrevista EL. Rio de Janeiro, ago. 1993.
Entrevista Eu, Brasilia, set. 1993.
204 Martha K. Huggins
Entrevista G. Rio de Janeiro, ago. 1993.
Entrevista J. Brasflia, set. 1993.
Entrevista JB. Brasflia, set. 1993.
Entrevista K. Brasflia, out, 1993.
Entrevista M, Sao Paulo, ago. 1993.
Entrevista RV. Rio de Janeiro, ago. 1993.
Entrevista S. Sao Paulo, ago. 1993.
LAGO, Henrique; Ana Lagoa. A repressdo & guerritha urbana no
Brasil. Folha de Sdo Paulo, p. 6, 28 jan. 1979.
LANGGUTH, A. J. Hidden terrors, Nova York: Pantheon, 1978.
LERNOUX, Penny. Cry of the people. Hammondsworth: Pen;
1979,
LIFTON, Robert J. The Nazi doctors: medical killing and the
psychology of genocide. Nova York: Basic Books, 1986.
MILLS, C. Wright. Situated actions and vocabularies of motive.
‘American Sociological Review, n. 8, 1940.
MINGARDI, Guaracy. Entrevista coma autora, Sao Paulo, set. 1995.
PARKER, Phyllis R. Brazil and the quiet intervention. Austin:
University of Texas Press, 1978.
Horangas do autoritarismo 208
PINHEIRO, Paulo Sérgio. Police and political crisis: the case of
military police. In: HUGGINS, Martha K. (Ed.). Vilgilantism and
the State in modern Latin America, Nova York: Praeger, 1991.
SCOTT, Marvin; Stanford, Lyman M, Accounts. American
Sociological Review, n. 33, 1968.
SHERIDAN, Alan. Miche! Foucault: The Will to Truth. Nova York:
Tavistock, 1980.
SKIDMORE, Thomas. The politics of military rule in Brazil,
1964-1985. Nova York: Oxford University Press, 1988,
SKOLNICK, Jerome; FYFE, James. Above the law: police and the
excessive use of force. Ontario: Macmillan, 1993.
SYKES, Gresham; MATZA, David. Techniques of neutralization: a
theory of delinquency. American Sociological Review n. 22 p. 664-
670, 1957.
VERBITSKY, Horacio. The flight: confessions of an Argentine dirty
warrior. Nova York: The New Press, 1996,
WESCHLER, Lawrence. A miracle, a universe: settling accounts
with torturers, Nova York: Pantheon, 1987.
Você também pode gostar
- Movimentos de Politica Criminal e EnsinoDocumento23 páginasMovimentos de Politica Criminal e EnsinoMarcos MeloAinda não há avaliações
- Memorias Abolicionistas Sobre A TorturaDocumento28 páginasMemorias Abolicionistas Sobre A TorturaMarcos MeloAinda não há avaliações
- Quem e o Preso Politico Da NecropoliticaDocumento316 páginasQuem e o Preso Politico Da NecropoliticaMarcos MeloAinda não há avaliações
- Juiz de Garantias e Discricionariedade JDocumento42 páginasJuiz de Garantias e Discricionariedade JMarcos Melo100% (1)
- O Infiltrado Um Repórter Dentro Da Polícia Que Mais Mata e Mais Morre No Brasil (Raphael Gomide)Documento235 páginasO Infiltrado Um Repórter Dentro Da Polícia Que Mais Mata e Mais Morre No Brasil (Raphael Gomide)Marcos MeloAinda não há avaliações
- DÁVILA, Fábio. Aproximação À Teoria Da Exclusiva Proteção de Bens Jurídicos No Dieito PenalDocumento18 páginasDÁVILA, Fábio. Aproximação À Teoria Da Exclusiva Proteção de Bens Jurídicos No Dieito PenalMarcos MeloAinda não há avaliações
- Conhecimento, Ignorância, Mistério (Edgar Morin)Documento108 páginasConhecimento, Ignorância, Mistério (Edgar Morin)Marcos MeloAinda não há avaliações
- Estatísticas Policiais Resolução de Homicídios (Etc.)Documento114 páginasEstatísticas Policiais Resolução de Homicídios (Etc.)Marcos MeloAinda não há avaliações
- GRECO, Luís. Tem Futuro A Teoria Do Bem JurídicoDocumento13 páginasGRECO, Luís. Tem Futuro A Teoria Do Bem JurídicoMarcos MeloAinda não há avaliações
- 314 1646 1 PBDocumento42 páginas314 1646 1 PBMarcos MeloAinda não há avaliações
- CÂNDIDO, Thais IfANGER, Fernando. A Política Criminal Realizada Pelo Poder JudiciárioDocumento17 páginasCÂNDIDO, Thais IfANGER, Fernando. A Política Criminal Realizada Pelo Poder JudiciárioMarcos MeloAinda não há avaliações
- MELO, Marcos. Oralidade e Contraditório No Processo Penal BrasileiroDocumento282 páginasMELO, Marcos. Oralidade e Contraditório No Processo Penal BrasileiroMarcos MeloAinda não há avaliações
- A Prova No Tribunal Do Juri Uma AbordageDocumento27 páginasA Prova No Tribunal Do Juri Uma AbordageMarcos MeloAinda não há avaliações