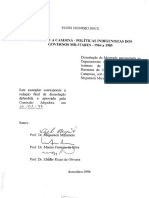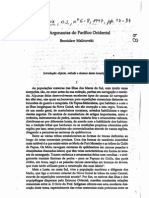Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Civilização e Revolta
Civilização e Revolta
Enviado por
Tseretomodzatse0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações604 páginasTítulo original
CIVILIZAÇÃO_E_REVOLTA
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações604 páginasCivilização e Revolta
Civilização e Revolta
Enviado por
TseretomodzatseDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 604
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS ~ IFCH
PROGRAMA DE DOUTORADO EM CIENCIAS SOCIAIS
IZABEL MISSAGIA DE MATTOS,
UNICAMP
BIBLIOTECA CENTRAL
SECAO CIRCULANTE
“CIVILIZACAO” E “REVOLTA”
Povos Betocudo e Indigenismo Missionario na Provincia de Minas
Tese de Doutorado apresentada ao Programa de
Doutorado em Ciéncias Sociais do Instituto de
Filosofia e Ciéncias Humanas da Universidade
Estadual de Campinas sob a orientagao do Prof.
Dr. John Manuel Monteiro.
Este exemplar corresponde
a redagéo final da tese :
defendida e aprovada pela | —
Comissio Julgadora em
20/12/2002.
> wae ALE \Nw
Campinas
Dezembro de 2002
UNICAMP
BIBLIOTECA CENTRAL
FICHA CATALOGRAFICA
(
Mattos, Izabel Missagia de
“Civilizago” € “Revolta”: povos Botocudo ¢ indigenismo
| missiondrio na Provincia de Minas / Izabel Missagia de Mattos. |
Campinas, SP : [s.n.}, 2002.
Orientador: John Manuel Monteiro |
Tese (doutorado) — Universidade Estadual de Campinas, |
Instituto de Filosofia e Ciéncias Humanas. |
1. indios da América do Sul — Etnologia. 2. indios da América do
Sul — Historia, 3. Capuchinhos — Missdes — Brasil. 4. Brasil —
Minas Gerais ~ Historia. 1 Monteiro, John Manuel. Il.
| Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Filosofia ¢
Cigncias Humanas. ML “Civilizagdo” e “Revolta”: povos
Botocudo ¢ indigenismo missiondrio da Provincia de Minas. |
RESUMO
Situada nas fronteiras disciplinares da etnologia e da historia, a tese propde
analisar processos de sustentagao de formas e estratégias indigenas observados na historia
dos povos Botocudo e do indigenismo. A pesquisa enfoca trés diferentes periodos: no
primeiro, mediante a hegemonia indigena nos sertées, so examinados os instrumentos
politicos e dialégicos da negociacio de sua “pacificagio” (1750-1861); no segundo
(1861-1920) 0 “desaparecimento” dos “silvicolas” € enfocado sob a estratégia
nacionalizadora da mestigagem, a partir do acompanhamento etnografico da fundagao,
desenvolvimento e declinio das missées capuchinhas em Minas Gerais e do papel dos
indigenas neste processo; no terceiro, 0 “ressurgimento” contemporaneo dos Arana é
acompanhado de acordo com a ressemantizagao dos valores apresentada na meméria
social indigena. O conceito-chave que articula a andlise é 0 de etnohistéria, o qual,
constituindo, por um lado, um instrumento metodolégico para organizar o mat
documental de modo a conferir visibilidade 4 presenga dos atores indigenas na historia,
por outro lado, quando considerado um instrumento heuristico dos proprios povos
nativos, revela-se na andlise dos processos de auto-descoberta dos indigenas enquanto
sujeitos hist6ricos inseridos-fio interior de redes de relagdes intersocietarias instauradas
pelo indigenismo.
ABSTRACT
Situated along the border between ethnology and history, this thesis proposes to
analyze the historical perpetuation of indigenous forms and strategies observed in the
history of the Botocudo peoples and in the history of indigenism. The study examines
three different historical periods: during the first period, which was characterized by
indigenous hegemony over the backlands, the analysis is centered upon the political and
dialogical instruments involved in negotiating the ‘pacification” process (1750-1861);
during the second period (1861-1920), the thesis discusses the “disappearance” of the
Indians under the “nationalizing” strategy of miscegenation and assimilation, with a
particular focus on the foundation, development, and decline of the Capuchin missions
and the role of indigenous peoples in this process; during the third period, the study
examines the contemporary “resurgence” of the Arana people, which involved the
rearticulation of indigenous social memory and values. The key concept articulating the
analysis is ethnohistory, which on the one hand serves as a methodological tool in
historical research, enhancing the visibility of indigenous actors in the past. On the other
hand, ethnohistory constitutes an heuristic device used by indigenous peoples, as they
“discover” themselves as historical subjects once they have been historically situated in
relation to indigenism.
iii
Para Diogo, Juliana e Felipe,
vidas que da minha vida brotaram.
Sertio & onde manda quem é forte, com as astiicias. Deus
‘mesmo, quando vier, que venha armado!
Joao Rosa, Grande Sertdo: veredas, 1967.
AGRADECIMENTOS,
Nao poderiam deixar de ser lembrados os que colaboraram para que 0 desejo de
realizar esta pesquisa fosse concretizado, Como sdo tantos os compartilhantes, comeco a
enumeri-los de acordo com a meméria dos fatos transcorridos desde o inicio de sua
elaboragao.
© Prof. John Manuel Monteiro conduziu e ancorou este trabalho com experiéncia
de precursor e palavras sempre exatas, Sua postura ética e seu exemplo de dedicagio
jamais serdo olvidados.
Os demais professores do Programa de Doutorado em Ciéneias Sociais me
proporcionaram a oportunidade de acompanhar cursos inspiradores, a saber: Octavio
Tanni, Carlos Brandio, Nadia Farage, Vanessa Lea e Aracy Lopes da Silva (in
memoriam), instigaram a produgao de textos e algumas das reflexes desenvolvidas ao
longo dos capitulos.
A Fapesp viabilizou o projeto e indicou um assessor andnimo que acompanhou
com desvelo o desenrolar da pesquisa, contribuindo oportunamente com indagagdes
incorporadas e desenvolvidas neste trabalho.
Os colegas do projeto tematico Misses em Areas Indigenas, com os quais tive 0
prazer de exercitar a arte e a seriedade do trabalho cientifico em equipe realizado no
Cebrap: Paula Montero, Omar Thomaz — que também me argiiram por ocasitio do
exame de qualificago ~, Marta Amoroso, Ronaldo Almeida e, muito especialmente,
Melvina Araiijo, pela acolhida carinhosa e facilitago da pesquisa bibliografica em Sao
Paulo.
A interlocugao com 0 Prof. Pierre Sanchis iluminou os momentos mais obscuros
deste trabalho. Minha gratidio ser sempre muito profunda. Também da UFMG, os
amigos e professores Carlos Gohn, Ana Liicia Modesto, Rui Rothe-Neves, Hugo César
Tavares ¢ Thais Crist6faro, me ampararam na busca pelo aprimoramento tanto académico
quanto humano, servindo como exemplos de que o caminho da dedicagdo a pesquisa ¢ ao
ensino vale a pena ser percorrido. Em momentos e sentidos diferentes, a colaboragio de
cada um foi bastante preciosa.
A pesquisa documental na Itilia nao teria ocorrido sem o apoio do Centro
Unitario para as Missdes (CUM), sediado em Verona, através de Carla Grossoni. Em
Roma, a confianga de frei Carlos Gonzaga e a amizade de frei [ldo Perondi abriram
portas de arquivos da Ordem e da pesquisa sobre as espiritualidades na historia. O
carinho com que sempre fui recebida pelos capuchinhos, especialmente frei Agostinho
das Neves, de Itambacuri, serviu de constante alento neste trabalho.
A pesquisa no Rio de Janeiro foi frutifera por causa da simpatia e da generosidade
de José Ribamar Bessa Freire, coordenador do Programa de Estudos dos Povos Indigenas
‘© Marco Morel, ambos professores da UERJ.
Os colegas do Centro de Documentacao Eloy Ferreira da Silva, 0 Cedefes, tio
afinados no trabalho voluntario de documentagdo e pesquisa sobre os povos indigenas
em Minas Gerais, estiveram comigo em todos os momentos: Geralda Soares, Vanessa
Caldeira e Alenice Baeta fazem parte de uma equipe que vem sempre se atualizando
sobre as principais questdes do indigenismo e da politica indigena, em Minas e no Brasil.
Este trabalho me reapromixou de antigos amigos e me trouxe, de presente, ‘novas
amizades, apesar do afastamento social implicado neste investimento. Sérgio Carvalho,
Sel Guanaes, Sérgio da Mata, Marcelo Vilarino, Leénia Resende, Mafalda Guerra,
Everardo Carvalho, Crizelide Caldeira, Nilce Fatima, Dete Pereira e Thais Gontijo, me
escutaram e encorajaram nos momentos necessirios.
Minha mae e meus irmaos forneceram os alimentos afetivos da seguranga ¢ do
carinho. André dos Anjos foi companheiro, di
patticipou da logistica, especialmente na transcrigio dos manuscritos e na produgdo das
idiu a tesponsabilidade com os filhos ¢
imagens. Diogo Magnani resolveu todos os problemas com 0 computador, Almerina do
Santissimo foi secretaria eficiente. No Ambito familiar, também a companhia silenciosa e
terna de Lupi - um quase cio — merece registro. Com a compreensio, disposigao e ajuda
de cada um, minha energia fisica e mental foi constantemente reabastecida.
Os Aran e os Krenak estiveram presentes em muitos dos movimentos que me
impeliram a escrever tantas palavras. Espero que esse esforgo possa contribuir para a
compreensio de alguns dos enigmas de suas historias
SUMARIO
I PARTE
CELEBRES BOTOCUDO:
politica, hist6ria e xamanismo
Introdugao.
Capitulo I: Povos do médio Doce e Mucuti, séculos XVIII e XIX
Introdugao...
Caminhos do método...
Identidades e historicidades...
“Célebres selvagens”,
3s presidios e a fronteira
Faces e contrafaces do “hediondo”.
Povos Maxakali
Capitulo TI. A colonizagao “étnica” do Mucuri
1. Chins exéticos, holandeses miseraveis, soldados escuros, companheiros pretos
e indios “ferozes”: a colénia militar do Urucu no “centro da mata”.
2. Primeiras incursdes e fixagdes
3. Giporok e Naknenuk: “bravos” e “mansos” : fe
4. O Projeto “Nova Filadélfia” de Teéfilo Otoni: rebelides, “linguas”,
caboclos eset
5. Acolonizagio “espontinen” ¢ o trabatho indigena litigios e controversias.
6. Qocaso das coldnias do Mucuri e os indios a0 acaso...
Capitulo TI. Os etnémios e a “descanibalizagao” dos Botocudo: alteridades redefinidas....
‘Naknenuk: aliados contra o inimigo antropéfago.
Povos Naknenuk: confiabilidade possivel?
Operatividade da dicotomia naknenuk/giporok... -
Os diferentes modelos de conquista do indigena em disputa.
‘Traduzir e convencer: os agentes interculturais “Iinguas”.
De soldado a lideranca indigena.
Capitulo TV. Xamanismo ¢ diversidade entre os Botocudo.
A categoria Yikégn e 0 universo s6cio-cosmolégico Botocudo.
Linguagem bélica: contexto de guerra e etnopolitica Botocudo nos oitocentos....
Povos Botocudo em “rede” sécio-simbélica
Os Botocudo Yikégn e as “rebeldias”.
Kupan na Kantchu: Deus na Terra...
‘A transitividade de magia e de mulheres entre os Botocudo.
Dominios de género e parentesco
Organizacao politica Botocudo e imbrcagtes de stnero na a morfologia social.
0 povo Arana... soceeeeeentevnne .
10, Os Arand da catequese do Surubi.
11. Os Arand do aldeamento do Poaia.
12. Os Pojicha,
13, Bugres “arsedios” do séeulo XX
Se Awaee
xvii
indiose pioneiros
102
TH PARTE
INDIGENISMO E MISSAO:
fronteiras e desencontros
Capitulo V. O indigenismo provincial
1. Oindigena e a nagio
Catequese, sedugao e escravizacai
Botocudos e escravos...
Melhoramento da “raga”.
Planejamento e estrutura da catequese missiondria em Minas.
O movimento dos indios na capital da Provincia...
O litigio dos Kayapé do sertio da Farinha Podre.
A burocratizagio da administragio indigena...
Circunscrigdes tutelares e catequese missiondria:
10, Apeto jesuitico anacrénico... sores
11, Oaldeamento do Etueto como paradigma.....
12, Criagdo e extingao do aldeamento de Cana Brava: interesses em disputa no campo
do indigenismo.....
13. O “problema” da catequese no apagar do século das Luzes.
Capitulo VI. “Como dois capuchinhos fundaram uma cidade”: carisma e missdo no Itambacuri
Imagens sobre o Outro e sociogénese da missio mestiga.
Morfologia, cronologia e recenseamento
“Em busca da terra de Canaa”; uma utopia missiondria..
carisma da fundagao da missio.......
Frei Serafim de Gorizia e frei Angelo de Sassoferrato....
Violéncia e desolagdo no Mucuri: repercussdes politicas,
Capitulo VIL. Perigos, pecados, crimes ¢ mesticageas:etmografia de uma revote
Introducio... eee
O perdiio para os “pecados” e “crimes” indigenas..
Sedugies e sedigdes de indios.
O problema do trabalho e do direivo indigena & posse da terra.
Mestigagens e aliangas contra a ago do Maligno ...
Chacinas e vingangas...
Os Pojichd e a missao.. -
Revolta e repressdo: triunfo da “civilizagiio”™?
Repercussdes e impactos da revolt.
(0. Contlitos reformulados entre Igreja ¢ Estado...
1. Um novo projeto missionirio (no implantada) de catequese para os Botocudo...
mee wn ausene
Capitulo VILL. Da catequese missiondria A converse nacional.
‘A ocupagio do territério da misao do ltambacuri
Aldeamentos capuchinhos e miscigenago.
A incorporagao indigena da escola,
Catequese e misao ...
Estabelecimentos de ensino
Funcionamento da Escola...
0 Aprendizado Agricola........
A Inmais Clarissas Franciscanas Missiondrias do Santissimo Sacramento...
Madre Serafina e a congregagao missionaria .
10. “Visbes do céu”: a chegada das Clarissas e o impacto do orfanato.
11, © Asilo para drfs Santa Clara
12. Oafrouxamento dos lagos de sociabilidade indigena e o alijamento dos indios
xii
2249
250
2263
270
272
275
2-285
288
291
294
297
304
312
318
323
327
336
365
374
383
384
390
1396
399
2403
405
414
423
429
CoAT
xiii
. I PARTE
ETNOGENESE E HISTORIA INDIGENA:
possiveis conexdes
Capitulo IX. © nome “indio”; patronimico émico como suporte simbélico de meméria e emergéncia
Indigena. 491
1. Vertentes tedricas ¢ interdisciplinaridade no estudo dos nomes. 492
2. Familia indio e familia “caboco”: semethancas e diferengas 503
3. Contexto historico-situacional e utilizago do nome “Indio”. 505
4, Desdobramentos SLL
Capitulo X. A guisa de conclusio: exploragdes sobre a fronteira e atividade do mediador . 513
1. Estranhamento e construgdo de mundos.... 51S
2. Caracteristicas e processos das atividades entre fronteira.. 518
3, Agente e agency: universalismo e particularismo na abordagem dos mediadores.. 524
4, Aproximagées dos mediadores nos diferentes tempos... 528
5. Acontaminagdo dos mediadores . 331
6. Legitimidade e consolidagao do trabalho do mediador... 532
1
Fronteiras em expansio... 335
FONTES E BIBLIOGRAFIA....0.......cc0ssse secseecetentnatenetenennenseennnessns S39
ANEXOS
1. Mapa etno-linguistico por Loukotka (1935). essen 565
2. Mapa da “Costa Ocidental do Brasil entre os paralelos 13 e 23 sul” (Arrow-Smith, 1815-1817) 567
3. Relagdo fonecida pelo capitdo-mor Jodo da Silva Santos......... 568,
4. Dados biogrificos José Pereira Freire de Moura, fundador do aldeamento dos Tocoi6s (1797) seve. 569
5, Trechos do relatério do engenheiro Carlos Prates (1910) - 570
6. Registro de casamento do intérprete Félix Ramos e Umbelina Pahoe (1873).. 512
7. Didlogo, por Brno Rudoiph 73
8 Extrato das informagdes sobre as circunscrigées indigenes da Diretoria Geral dos Indios da Provincia de
Minas Gerais (1863-1894), ccseesenensnenseeseteseseruvessessenneeseteeeseeeee S74
“ftambacuri”. Jornal Nova Philadelphia (1897). ceceecesceeeeneeernsess seceeerterstesntess576
xiv
Abreviaturas
ACBH ~ Arquivo da Cidade de Belo Horizonte
ACRI- Arquivo dos Capuchinhos do Rio de Janeiro
ACCI— Arquivo do Convento dos Capuchinhos de Itambacuri
ACSC ~ Arquivo do Colégio Santa Clara ~ Itambacuri
AEAD ~ Arquivo Eclesidstico da Arquidiocese de Diamantina
AGO — Arquivo Geral da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos ~ Roma
AIHGB ~ Arquivo do Instituto Historico e Geografico Brasileiro - Rio de Janeiro
AN — Arquivo Nacional do Rio de Janeiro
APF — Arquivo da Propaganda Fide - Roma
APM ~ Arquivo Pablico Mineiro
CEDEFES ~ Centro de Documentagiio Eloy Ferreira da Silva ~ Contagem
NCS — Fundo Nelson Coelho de Senna. ACBH.
RAPM ~ Revista do Arquivo Pablico Mineiro
RIHGB — Revista do Instituto Historico e Geogréfico do Brasil
RIHGMG ~ Revista do Instituto Histérico e Geogréfico de Minas Gerais
SC — Fundo Se¢ao Colonial, Arquivo Piblico Mineiro.
SG ~ Fundo Secretaria de Governo, Arquivo Piiblico Mineiro.
.. Grupo de indios Pojiché em visita & coldnia indigena (1911).
. Capitéo Muim esquartejando um capado gordo (1911
. Indios Crenaks (rio Doce)...
. silo de indigenas e érfas, detathe
indice das Iustragdes
Mapa hidrogréfico da zona de perambulagdo dos Botocudo nos oitocentos..
Daguerredtipos dos Naknenuk (1844). sesso
Botocudos, Puris, Pataxés, Makakalis por J. B. Debret
Filadélfia no rio de Todos 08 Santos (1858).
Planta da colénia ¢ das chacaras de Filadélfia, no rio de Todos os Santos (1858).
Mapa hidrogréfico: éreas Giporok.
Botocuda mendigando.......
Excelentissima esposa do capitao Crenak (1910) ..
3s indios Pojichds na porta da igreja do Itambacuri (1911)...
Indios botocudos do norte do rio Doce. .
Crenaks do rio Doce.....
Imagem de Sao Sebastido, igreja de Santo Anténio (Capelinha ~ MG)..
Indios Aimoré (capitio Nazars)...
Frei Serafim de Gorizia e Frei Angelo de Sassoferrato
Mapa hidrogréfico: limites da jurisdigao do aldeamento do Itambacuri
Cronologia da missio do Itambacuri...
Dados populacionais do aldeamento do Ttambacuri.
Festa de Sao Francisco, matriz de Itambacuri (1939).
Inicio da estrada Ttambacuri-Figueira (1934) .
Botocudos do norte do rio Doce.
Padre André Colli em visita aos botocudos (1910)
O terrivel capitéo Crenak( 1909),
Menina Krenak 0.000
Delfina Bacén d” Arand..
Indios Aimoré, posto do Pancas. ..
Asilo de indigenas e érfés, Colégio Santa Clara. lambacuri.
Asilo de indigenas e érfas, detalhe das “bugrinhas”.
Sebastiana Arand (1990)
Emiliana Caboca e Joverdil Indio (1999) ..
xvi
xvii
Introdugio
Sei que muitos dos meus leitores no se interessaro em ouvir relatar as
virtudes natas destes filhos da natureza, a quem desprezam,...mas
consolem-se, ndo escrevo para eles: ... falo as almas nobres dos meus
amigos, aos amigos dos inocentes selvagens em particular, e da
>humanidade em geral,
Guido Marliére, 1825,
Diferentemente do diretor dos indios do rio Doce, o militar francés Guido
Marliére (1767-1836), que acenava sua disposi¢éo amigavel para com os indigenas
perante a intelectualidade adversa de sua época, convido o leitor a uma incursdo
antropolégica pela histéria dos indios e do indigenismo em Minas Gerais, na qual
quaisquer pré-julgamentos sobre os atores envolvidos seriam bagagens intiteis e
desnecessirias.
Indios, soldados e missiondrios, fazendeiros abastados e nacionais pobres,
escravos negros, mestigos ¢ imigrantes europeus, entre tantos outros e outras, constituem
os atores desta histéria. Todos estes se encontraram nas selvas impenetraveis do Mucuri
ao longo dos oitocentos, vivendo, combatendo, explorando e transformando aqueles
“sertées” de mata atlantica em “civilizago”, enquanto, entrementes, nos gabinetes dos
ilustrados politicos, projetos para a nagiio eram concebidos e gerados.
A abertura daquela fronteira ocasionou intensas transformagdes dos mundos em
interag3o e oferece ao pesquisador diversas oportunidades de entrada para a incurséo
proposta. Para torné-la vidvel, no entanto, um roteiro prévio, que mapee possiveis
trilhas, torna-se necessdrio. Nao se surpreenda, contudo, o leitor, se, ao adentrar nos
capitulos que compdem esta jomada, vislumbrar veredas nio mapeadas; 0 antropélogo,
de fato, ao partir para o campo, ndo pode estar desprovido de sua munigao de questes
e teorias, necessdria enquanto instrumento heuristico para o deslindamento dos sentidos
que se ocultam e se revelam através do Outro. A hermenéutica do historiador, no
entanto, € diversa, ao menos no que diz respeito ao seu “campo” — arquivistico -, que
exige estrito controle da tendéncia de reduzir fatos a conceitos, para que as alteridades do
passado ganhem em liberdade de expressio e possam, de fato, dialogar com o
xviii
pesquisador contemporaneo. Distintamente do antropélogo, interessado em
generalizagdes, o historiador exerce sua vigilancia epistemolégica mediante instrumentos
analiticos adquiridos no proprio dominio especializado e erudito das fontes sobre as quais
ele versa.
A comparagao entre ambos os métodos de pesquisa assim enfatizada relaciona-se,
evidentemente, as abordagens hermenéuticas da historia e da antropologia que enfatizam
© valor da experiéncia da significagiio na informag&o das relagdes_intersubjetivas que
configuram processos sociais. No limite de seu historicismo e subjetivismo, no entanto,
tais abordagens acabam por recusar quaisquer teorizagdes sobre o social, inviabilizando,
na pratica, o didlogo interdisciplinar almejado neste trabalho.
Apesar das semelhangas existentes entre 0 oficio do etnégrafo que estranha o
presente 0 do historiador que vasculha o tempo extinto, na medida em que ambos
interpretam, por detras dos sinais e vestigios dos humanos, formas sociais e mundos
simbélicos que lhes fornecem sentido, as significativas diferencas quanto a ambos os
métodos de reconstituir as alteridades perscrutadas representam os primeiros obsticulos
para a incurs investigativa proposta.
De fato, os sentidos do passado nao podem ser inferidos pelo historiador
etnogrifico de outro modo a ndo ser pelo acimulo dos vestigios que, reunidos,
concatenam-se de forma aparentemente auténoma e desafiadora, configurando, deste
modo, a alteridade — seu objeto de pesquisa. Quanto ao etndgrafo contemporaneo,
imerso no outro através do trabalho de campo, considera, por sua vez, seu locus de
pesquisa um ponto necessirio de partida para véos que o ultrapassam, em sua tentativa
de desvelar facetas dos mundos simbélicos e sociais, e de modo a especular, inclusive,
sobre o proprio alcance de seu conhecimento tedrico.
Esta ambig%io antropolégica poderia atravessar a fronteira dos tempos,
configurando um horizonte possfvel para a pesquisa historica; 0 isco. de estar
contaminando 0 “campo” do passado com preocupagées contemporaneamente datadas
constitu!
i, NO entanto, uma armadilha especialmente preparada para incautos cientistas
sociais. No embate com perspectivas historicistas que temem a redugdo dos fatos
camisa de forga dos conceitos cientificos e que apreendem os fendmenos sob a ética
inelutavel de sua propria transformacao, uma etnologia dirigida para 0 passado acaba por
xix
revelar-se ao historiador etnogrifico - que reconstitui os eventos pesquisados a partir das
suas proprias nuances e minticias - como 0 espectro do “etnocentrismo do presente”, que
Ihe cabe exorcisar.
Ainda que assim recobertos de valores diversificados, tanto o historiador como 0
antropdlogo revestem ambos os métodos de “trabalho de campo” - documental e
etnografico - de uma aura simbélica e ritual, inicidtica e sacralizadora.
Neste trabalho de natureza hibrida, onde antropologia ¢ historia se entrelagam,
encontram-se tentativas de ler os fenémenos étnicos no passado, através de um didlogo
‘com as fontes estribado em conceitos que, ainda que contaminados pelos sentidos
contemporaneos, propiciam, simultaneamente, a incursio nos dominios do Outro e o
cruzamento das fronteiras entre os métodos de pesquisa etnogrifico e historiogrifico.
Instigada por pesquisas etnograficas contemporaneas e reflexdes anteriores sobre
a questo etnoldégica da identidade, seja em sua dimensdo tedrica ou histérica, a
investiga¢ao, no entanto, deteve, por vezes, © seu percurso, tanto para contemplar as
janelas abertas pelo levantamento documenta! como para evitar prematuros desfechos,
presa em suas armadilhas metodoldgicas.
O exercicio antropoldgico de depreender experiéncias etnicamente diversificadas
do emaranhado empirico e “mesti¢o” da_situagdo colonial concorreu, no entanto, para
que a tarefa de historiar os acontecimentos, reunidos cronologicamente, pudesse ser
combinada ao agrupamento etnolégico dos dados, organizados segundo o nexo tedrico
da investigagao.
Os acontecimentos histéricos, uma vez organizados em sistemas que oferecem
espaco a sua expressividade, puderam concatenar-se através de vinculos reconstituidos
sob uma espécie mista de hermenéutica na qual a ordem da “empiria” - abundantemente
vasculhada na indagagao das fontes -, imbricando-se ao nexo tedrico (0 “sentido étnico”),
permitiu a evasdo deste de sua dimensao abstrata, fornecendo-lhe - como os proprios
dados ordenados segundo sua légica- visibilidade, corpo e argumento.
A estrutura tripartite da tese constitu seu proprio eixo - 0 da investigagiio da
dinamica identitaria indigena ao longo das sucessivas etapas do processo histérico de
colonizagao e de implantago de politicas indigenistas na zona de fronteira de matas do
alto Mucuri, médio Doce e adjacéncias. Sob a diversidade das formas étnicas observadas
em constante movimento de reconfigura¢do ao longo do tempo, encontra-se, no entanto,
um mesmo principio genético: o da visibilidade conquistada pelos atores indigenas no
interior de uma gramética pautada pelo indigenismo e caracterizada por criativas
negociagdes e mecanismos de “mesticagem”. Em outras palavras, apenas sob a
regularidade dos processos de “mistura”, examinados em situagdes diversas de
aldeamento indigena, os movimentos de reconfiguragdo e emergéncia de identidades
foram identificados, no interior de processos nos quais evidencia-se a proeminéncia dos
mediadores entre mundos simbélicos e sociais.
Nas duas primeiras segdes da tese concentram-se os esforgos de descrigio e
andlise dos dados levantados na pesquisa documental, enquanto na terceira e ultima, uma
experiéncia de etnificagio no cendrio contemporineo das politicas indigenas e
indigenistas em Minas Gerais - baseado no fetichismo do patronimico étnico enquanto
suporte simbélico de sua forga motriz endégena - foi analisada sob a perspectiva da
ressignificago da meméria social e da reapropriago intelectual da historia indigena
realizadas pelos mediadores e lideres Arana.
A terceira parte da tese compreende, portanto, ainda que abreviadamente, a
andlise de um processo contempordineo de etnogénese que introduz o tema discutido no
0 do trabalho do mediador nas fronteiras
décimo e ultimo capitulo, 4 guisa de conclusa
— geogrificas, histéricas, sociais e simbélicas -, locais permedveis no qual a
possibilidade de interjogo criativo de significados favorece a articulagdo de estratégias
indigenas, as quais, por sua vez, ganham visibilidade enquanto fendmeno politico de
cunho identitario no interior das situagdes coloniais mesticas.
A primeira segao da tese enfoca o movimento dos atores_indigenas acompanhado
através da ocorréncia de etnémios em fontes histéricas diversificadas e da etnografia das
formas nativas de articular-se, seja entre si ou com os pioneiros da colonizagao regional.
O recorte ampliado, de meados do século XVIII até a total exting’o da experiéncia do
“indigenismo filantrépico” da Companhia do Mucuri (1851-1861) e com a adogdo
sistematica da catequese capuchinha pela Provincia de Minas (1870) — perpassando,
Portanto, 0 periodo de guerra ofensiva contra os Botocudo das matas do Mucuri e Doce
(1808- 1831) -, justifica-se pela énfase devotada 4 andlise comparativa do fenémeno
enfocado — 0 processo de sustentacdo histérica de formas e estratégias indigenas, nas
diferentes situagdes examinadas.
Na segunda parte da tese foram descritos e analisados os mecanismos s6cio-
simbélicos da “mestigagem”, tanto sob o prisma de sua concepgao pelo indigenismo do
Estado como, empiricamente, de acordo com o acompanhamento etnografico da sua
promogao na catequese capuchinha do Itambacuri. O enfoque no trabalho dos indios
dos mestigos na construgdo da nova ordem colonial, as contradigdes e conflitos
engendrados pelos equivocos inerentes @ convivéncia de concepgdes antagénicas de
historicidade, assim como a compatibilizaco entre os mundos - negociada pelos atores
indigenas -, caracterizaram a trajetéria dos aldeamentos missiondrios implementados em
Minas a partir de 1870, em especial o do Itambacuri, cuja experiéncia prolongou-se até
0 ano de 1911. A metamorfose dos indigenas, bem como o impacto da catequese sobre
sua organizago politica, pode ser acompanhada através dos relatos de missionérios,
viajantes, administradores de indios e inspetores das politicas piblicas territoriais, além
das noticias veiculadas na imprensa,
O recorte cronolégico referente A segunda segdo da tese cobre basicamente o
periodo de funcionamento da missio do Itambacuri (1873-1911), _ historicamente
caracterizado por intensas transi¢des na sociedade brasileira, compreendendo a aboligdo
da escravidio (1888), a proclamag&o da repiblica (1889), a separagdo oficial entre a
Igreja eo Estado (1890), além das migragdes dos retirantes das secas ocorridas ao final
dos oitocentos. Toda essa situacdo de instabilidade, somadas as pestes que ceifaram
vidas de grande parte do contingente indigena aldeado, se encontra, de alguma forma,
representada nos tragicos acontecimentos de 1893, quando os indios “civilizados” do
Itambacuri se organizaram em um levante que visava tomar para si a administragio do
aldeamento designada aos missiondrios, de acordo com a legislagdo indigenista
imperial, que confetia aos capuchinhos italianos amplos poderes, “temporais”
“espitituais”, politicos e simbélicos, em torno dos quais também os lideres exams
Botocudo tradicionalmente disputavam e guerreavam.
A terceira segao da tese interroga a historia dos indios enfatizando os _processos
de “mestigagem” e mediagio, encarando 0 desafio imposto pela emergéncia
xxii
contemporainea dos Aran e indagando da antropologia seus recursos tedricos. para a
iluminar 0 didlogo com os atores indigenas através dos tempos.
idade, ou
nao, da presenga dos indigenas enquanto atores diferenciados, de acordo com sua
O movimento que perpassa e articula as trés partes da tese é o da vi
situagéo em trés diferentes momentos que compreendem um mesmo processo: no
primeiro, mediante a hegemonia indigena nos sertées, impés-se a andlise dos
instrumentos politicos e dialégicos da negociagdo de sua “pacificagdo”; no segundo,
observa-se o “desaparecimento” dos “silvicolas” sob a estratégia nacionalizadora da
mestigagem; no terceiro, acompanha-se 0 “ressurgimento” dos Arana ocorrido com a
ressemantizagao dos valores impressos na meméria social indigena.
Antes de enfocar 0 argumento teérico presente ao longo dos quatro capitulos que
conformam a primeira parte da tese, faz-se necessdrio um esclarecimento quanto a
ortografia dos termos em lingua botocuda - aquela falada pelos Botocudo dos oitocentos
- chamada pelos lingiiistas, contemporaneamente, borum ou krenak. Como ainda estd
por ser empreendida a tarefa de estabelecer uma homogeneizacdo oficial para a ortografia
das palavras nesta lingua, optei por adotar a ortografia apresentada pelas fontes - quando
da necessidade de sua utilizagdo - embora, aparentemente, no correspondam 4 sua
pronéncia atual no idioma krenak. Quanto ao uso dos etndmios, no entanto, o critério
adotado foi distinto: a melhor op¢do revelou-se a de seguir o padrio etnolégico
preconizado pela Associagao Brasileira de Antropologia, ainda que este, de fato, néo
contemple a especificidade do estudo dos indios “histéricos”.
Os proprios “etnémios histéricos” parecem questionar a etnonimia classica uma
vez que, situacionalmente elaborados, encontram-se impregnados de significados
valores que remetem para 0 contexto no qual foram forjados. E o proprio caso do
etnémio Botocudo - ¢ da maioria dos demais presentes neste estudo -, que abunda nos
relatos dos administradores de indios e viajantes do século XIX condensando e
traduzindo uma concepgio pejorativa sobre os atores nativos das matas do Mucuri e do
Doce, emblematizada na “brutalidade” do estranho aderego labial que sacramentava
a demonizagio de sua figura no imagindrio colonial.
Nao houve, contudo, como escapar da transformagao do epiteto pejorativo
Portugués em etndmio indigena, “deformando” assim seu sentido original, uma vez
xxiii
adotado na investigag%io sob uma perspectiva inversa, isto é para identificar os atores,
confusamente dispersos nas fontes ¢ enfatizar a coeréncia de seu protagonismo no
interior dos _processos histéricos nos quais emergiram enquanto um “povo”, portanto no
singular.
Este é um dos miltiplos exemplos do risco da traigo que a tradugdo dos
mundos passados para a linguagem cientifica “moderna” pode ocasionar e que pretendi
controlar, acusando ¢ justificando, quando possivel, sua ocorréncia na investigagao,
assim como concedendo espago 4 expressio dos prdprios atores, em transcrigées
extensas de passagens mais significativas de seus relatos, para propiciar ao leitor sua
propria apreciacdo.
O mesmo exemplo da descontextualizagio e transformagao do epiteto pejorative
“botocudo” em etnémio, serve para ilustrar uma estratégia da qual os atores indigenas
frequentemente langam mio em seus movimentos etnohistéricos/identitérios: 0 da
ressemantizagdo de sua condigao “étnica” operada através dos proprios signos e sentidos
forjados pelo Outro, para submeté-los hierarquicamente 4 gramética da colonizagdo, em
contextos anteriores.
A pesquisa situa, assim, possibilidades de articulago e afirmagio de alteridades
no interior mesmo do campo das “misturas” sécio-simbélicas historicamente situados,
ainda que a delimitacdo de fronteiras processualmente configuradas no implique em
concebé-las tdo-somente enquanto lugares onde as identidades e as contradigées_stio
formuladas e afirmadas, porém, sobretudo, enquanto lugares permedveis, onde o Outro
6, necessariamente, incorporado e reelaborado.
Assim como a grafia adotada para os povos Botocudo, todos os demais etnémios
seguiram a mesma norma académica, apenas, no entanto, quando enunciados nas
anilises; no se surpreenda o leitor se, na citagdo das fontes, encontré-los da forma
originalmente grafada para designar os indigenas, ou seja, fletidos em relagéio a nimero
e género, ainda que a ortografia das transcrigdes dos documentos histéricos tenha sido
atualizada. Um iltimo esclarecimento sobre as citagées refere-se as énfases,
exclusivamente minhas, quando niio acusado 0 contririo, bem como a maior parte das
tradugSes que, em algumas passagens, se fizeram necessérias para facilitar a fluéncia da
leitura.
xxiv
© primeiro esforgo analitico da tese foi, decerto, 0 de mapear os povos
indigenas em interagdo, a partir de meados do século XVIII, na regio entZio coberta de
florestas, onde o alto Mucuri, 0 alto Jequitinhonha e 0 médio Doce, em sua porgao:
setentrional, se encontram. Desemaranhar o intricado novelo das diversas denominagdes
entéo utilizadas para os “terriveis botocudos” em uma estrutura sécio-espacial de
subgrupos organizados em rede constituiu uma tarefa de particular interesse para a
pesquisa, uma vez que estabeleceu fundamentos para a andlise de situagdes etnogrificas
posteriores, examinadas na segunda parte da tese.
A partir de um exame lingiiistico e etnolgico das fontes, formas indigenas
puderam ser vislumbradas, ainda que em constante movimento de dissolucdo, mistura e
reconstituigéo, naquela zona de fronteira coberta de floresta atlintica, inicialmente
explorada e depois, violentamente, ocupada através de estratégias militares, a0 mesmo
tempo em que ocorria sua ressemantizagdo geografica; de muralhas contra o contrabando
no século do ouro (zona proibida) em Eldorado para aventureiros e degredados em busca
de riquezas.
Ainda que elaborados no diélogo com fontes nas quais prevalece o discurso da
“conquista” das selvas, dos selvagens e, sobretudo, dos territérios “virgens” e suas
prometidas riquezas, 0s capitulos foram construidos com o objetivo de capturar, no
tempo passado, os sentidos e as estratégias de sobrevivéncia dos atores coletivos imersos
em mundos sécio-simbélicos impactados por confrontos rupturas.
Os movimentos de diversificagdo interna ocorridos historicamente entre os povos
Botocudo, ao lado do acionamento estratégico de recursos politico-simbélicos em
situagdes de conflitos nos aldeamentos - concebidas pelos administradores enquanto
“revoltas” -, detonaram processos de recomposigdo dos mundos indigenas em uma
dinamica onde a linguagem do xamanismo, mesclando-se aos ditames da conquista e da
colonizagao, favoreceu a atualizacio criativa e diversificada de um principio virtual ¢
dialégico, representado pela categoria sécio-cosmolégica yiekégn - capaz de impelir os
Botocudo as disputas e combates por poder mAgico-politico,
Passemos entio, para a questio tedrica “de fundo”, introduzida na primeira parte
da tese e presente nas discussdes dos capitulos posteriores.
Relacionar a pesquisa da histéria indigena e do indigenismo @ investigagtio sobre
as identidades constitui uma tendéncia com fortes prerrogativas em estudos do campo da
etnohistéria. Assim como a pesquisa dos sentidos “étnicos” negociados nas situagdes
de fronteira, esta tendéncia vincula-se a abordagem historica dos “vencidos” ¢
confronta-se com outros possiveis “‘sentidos” conferidos aos processos de “conquista”,
principalmente Aqueles subjacentes historiografia da “civilizagdo” das fronteiras tal
como celebrizado pela vertente norte-americana baseada em “etapas civilizacionais”
demarcdveis pela légica econdmica da expans
Os conceitos de “sentido étnico” e de “etnohistéria” - cujas origens distintas
nao impedem © intercambio de seus significados no presente estudo - parecem
construfdos, ambos, sobre um mesmo jogo de equivocidade que, se um lado, os toma
fecundos e pregnantes, de outro, repercute nas interpretagdes realizadas e demanda a
explicitagdo de suas consequéncias tedricas e metodologicas.
© “sentido étnico” - assim como sua cognata, a “etnohistéria” definida
enquanto identidade - pode ser, de fato, concebido em uma dimensdo dupla: uma
primeira dimens&o, assumida pelo pesquisador em seu viés analitico, ¢ uma segunda,
“descoberta” pelos proprios atores e descrita em seus proprios termos. Em ambas as
manifestagdes encontra-se subjacente uma opgdo: _seja a do pesquisador, que elege a
investigagdo deste sentido enquanto estratégia para fornecer visibilidade aos sujeitos
indigenas; seja a destes proprios sujeitos que, para orientarem-se na situagdo histérica,
interpretam os eventos de acordo com os proprios principios, _historicos &
cosmoldgicos, operantes_ sobre a _inteligibilidade do Outro e capazes,
simultaneamente, de mobilizé-los coletivamente.
© primeiro significado atribuido ao conceito revela uma posigao teérica &
metodolégica de valorizar a pesquisa das formas e estratégias dos indigenas na histéria,
através da identificagdo de sua ocorréncia, ainda que em fontes a outros fins destinadas.
O privilégio concedido a uma dimensio, assim, abstrata, devido ao recorte analitico
operado na investigagdo, reflete-se em uma leitura das fontes que privilegia a observacio
das regularidades que configuram o objeto enfocado, que transcende as especificidades
situacionais.
Em outras palavras, na medida em que a légica estrutural da andlise se impde
sobre a ordem sincrénica dos eventos, a leitura das fontes parece des-historicizar-se. A
investigagao de fendmenos “étnicos” na historia — evidenciada apenas sob uma
perspectiva tedrica - nao pode articular-se, no entanto, sob os conceitos e métodos da
etnologia americanista, na medida em que a andlise das fontes exige abordagens
interdisplinares que considerem, sobretudo, os contextos de “mistura”, no interior dos
quais emergem as identidades. Apesar disso, 0 didlogo com as fontes balizado pelas
proposigdes da lingiiistica e da etnologia clissica revelou-se, neste estudo, ndo apenas
possivel, como também fecundo para a apreensio da perspectiva amerindia da alteridade
e da historia.
A abordagem da especificidade da presenga (e da experiéncia) dos indigenas nas
situagdes histéricas escapa, pois, ao olhar do historiador ndo instrumentado para
investigar os préprios conceitos nativos, capazes de orienté-los de forma diversa em
relagdo aos demais atores co-participantes do mesmo sistema colonial.
© desfecho consensual para o dilema interdisciplinar gerado por este primeiro
sentido de etnohistoria (0 de instrumento metodolégico ¢ analitico de recorte das fontes
pesquisadas) tem sido 0 de abordar os povos indigenas e seus processos identitérios no
interior das situagdes histéricas, cujas graméticas dispdem os valores negociados entre
os atores, inscrevendo-se indelevelmente na dinémica das (re) configuragdes
identitarias.
A outra face da dupla dimensio da concepeao de “sentido étnico” - e também de
sua mencionada cognata - encontra-se, por sua vez, vinculada a pesquisa das préprias
categorias, linguagens e estratégias indigenas, virtualmente presentes no universo
simbélico e sécio-politico nativo e atualizadas nos contextos onde emergem os
movimentos identitarios.
A pesquisa desta segunda dimensio do “sentido étnico”, ao contririo da primeira
= epistemologicamente construida pelo pesquisador -, pretende capturar os _prdprios
recursos epistémicos nativos, os quais, apesar de constituirem dispositivos inconscientes,
predispéem ¢ orientam os fluxos das forgas coletivas, na medida em que, ao prover
inteligibilidade e sentido aos eventos, organizando-os e reconceptualizando nos termos
nativos, impelem, simultaneamente, a promogio de (re) arranjos (inter) societérios.
xxvii
Este segundo sentido de etnohistéria, diferentemente daquele construido pelo
pesquisador, parece “descoberto” pelos proprios atores indigenas, enquanto gérmen
que origina 0 desenvolvimento de_novas perspectivas, identitarias e historicas. E aqui
penetra-se no terreno quente onde hist6ria e estrutura perigosamente se misturam, local
propicio para que o olhar “mestigo” do etno-historiador - meio etnolégico e meio
histérico — possa ser exercitado.
Conhecimento nativo, de um lado; situaco colonial que o ultrapassa, de outro.
Conceber uma fronteira nitida em que o primeiro dominio estanca para ter inicio
segundo parece um artificio por demais simplificador. Por outro lado, como conceber a
co-existéncia de mundos diferenciados, ainda que imersos no interior de uma mesma
situago histérica, sem que as fronteiras étnicas, que configuram as _ identidades,
possam ser concebidas? As identidades, paradoxalmente, parecem, no entanto, revelar-
se apenas na mistura processada entre as fronteiras, porosas e esboroadas, situadas no
interior do sistema colonial.
As relagdes entre os diferentes modelos de historicidade operantes nos
aldeamentos a0 longo dos oitocentos - um responsdvel pela idéia de “progresso” e
“civilizagéo” nacional e outro baseado no conhecimento “supersticioso” do indigena -
foram interpretadas através da chave do xamanismo enquanto idioma capaz de articular
as diferentes historicidades, introduzindo a “consciéncia histérica” entre os Botocudo e
informando processos identitérios.
Acompanhados microscopicamente em seu surgimento e sua trajetdria, os
movimentos de rearticulagéo politica e identitéria dos Botocudo ~ suas “rebeldias”
organizadas nos moldes de expediges guerreiras - foram interpretados a partir da
introdugdo de uma “consciéncia histérica” incorporada no pensamento indigena e
expressivel, naquela situago colonial, nos termos proprios do idioma do xamanismo.
Na primeira parte da tese, a configuragdo social dos povos “nativos” daquela
fronteira de matas, relacionada tanto aos seus aspectos demogrificos como as
designagdes étnicas, revela formas significativamente dispares se confrontadas, as
informagées sobre o século XVIII, com as obtidas para o século XIX - 0 qual foi
analisado com profundidade na segunda seco da tese, que compreende o periodo
imperial e as primeiras décadas da reptiblica
A surpreendente transformagaio da configuragio étnica constatada na comparagio
entre os séculos XVIII e XIX, por sua vez, concorre para conferir visibilidade ao
acentuado dinamismo dos processos de emergéncia de formas etno-historicas,
intensificados com a abertura da fronteira e sua efetiva ocupagio militar, processada, por
sua vez, desde as tiltimas décadas dos setecentos, e que se manifestou, com forga de lei,
na politica anti-indigena adotada pela Coroa para a conquista daqueles sertdes.
Os quatro capitulos que compdem a segunda parte da tese buscam desvendar a
estrutura administrativa do indigenismo provincial em Minas Gerais, a qual, uma vez
reconstituida, forneceria pistas sobre os mecanismos de negociagio politica dos
indigenas. Organizado através de uma hierarquizagio dos dominios jurisdicionais
tutelares, 0 servico de catequese, cuja dirego geral situava-se em Ouro Preto,
administrava as diversas circunscrigGes parciais indigenas e seus respectivos diretores de
indios, em cujas bordas situavam-se locais “vacuos” de poder, ideais para a elaboracio
das estratégias dos indigenas que, efetivamente, ali se desenvolveram. De fato, seriam
nas fronteiras entre as circunscrigdes tutelares que os Botocudo aldeados na misséo
capuchinha do Itambacuri idealizaram, alimentaram e levaram a cabo a “revolta”
ocorrida em 1893, quando, segundo os missionérios, os indigenas tentaram assassinar
seus dirigentes para “apossar-se” do estabelecimento.
A etnografia histérica da missio fundada sob a experiéncia da mestigagem -
ideologicamente encarada como solugdo para o problema da existéncia da “raga
selvagem” no interior de uma nagdo que pretendia “moralizar-se” e administrativamente
praticada como método para a “pacificagéo” dos conflitos politicos envolvendo os
indigenas - decodifica a rede de mediadores e mediagdes_responsdvel pelo seu éxito
relativamente as demais misses capuchinhas no periodo imperial. Os missiondrios —
representantes do Imperador — atraiam os indios com promessas veiculadas pelos
intérpretes mesticos e liderangas indigenas ~ influentes por seus poderes sobrenaturais e
xamanicos - estendendo seu dominio politico-religioso através de uma rede de
comunicagéo cujos elos eram os mediadores, em diversos niveis, que mobilizavam os
grupos para negociarem, tanto com os missiondrios como com 0 governo, os termos da
“conversio” dos Botocudo.
Você também pode gostar
- Papavero (2000) O Conceito Antropológico de Estrutura e Sua Abertura para o Evento HsitóricoDocumento23 páginasPapavero (2000) O Conceito Antropológico de Estrutura e Sua Abertura para o Evento HsitóricoTseretomodzatseAinda não há avaliações
- Atos de ContatoDocumento214 páginasAtos de ContatoTseretomodzatseAinda não há avaliações
- Heck EgonDionisio MDocumento151 páginasHeck EgonDionisio MTseretomodzatseAinda não há avaliações
- Bronislaw Malinowski - Os Argonautas Do Pacífico Ocidental PDFDocumento22 páginasBronislaw Malinowski - Os Argonautas Do Pacífico Ocidental PDFSarah Schimidt Guarani Kaiowá60% (5)