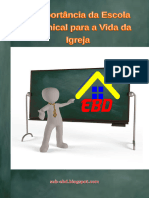Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
LS S2!19!20 JorgeRevez
LS S2!19!20 JorgeRevez
Enviado por
anamachanaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
LS S2!19!20 JorgeRevez
LS S2!19!20 JorgeRevez
Enviado por
anamachanaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
OS VENCIDOS DO CATOLICISMO : DO POEMA DE RUY BELO, NS OS VENCIDOS DO CATOLICISMO (1970), AO PROBLEMA DO VENCIDISMO CATLICO
JORGE REVEZ
*
Sou um contrabandista e levo para hispania a primavera vista e tida na itlia Talvez me abram as malas e procurem jias ou drogas mas a primavera no importa polcia. E no entanto perigosa pois no cabe no cdigo catlico Ruy Belo, Toda a Terra, 1976.
1. Ruy Belo (1933-1978), poeta, ensasta e crtico literrio portugus um dos nomes maiores da literatura portuguesa da segunda metade do sculo XX publicou nos idos de 1970, num livro intitulado Homem de Palavra[s], o poema Ns os Vencidos do Catolicismo 1:
* Mestrando em Histria Contempornea na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Este artigo o resultado de um trabalho apresentado no mbito do Seminrio Religio na Sociedade Portuguesa Contempornea do Mestrado em Histria Contempornea da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sob a orientao do Prof. Doutor Antnio Matos Ferreira. Estamos actualmente a redigir uma dissertao de Mestrado sobre o tema deste artigo, sob a orientao do Prof. Doutor Srgio Campos Matos. 1 Seguimos a verso publicada em Homem de Palavra[s]. Introduo de Margarida Braga Neves. 5. ed. Lisboa: Presena, 1997, p. 51.
LUSITANIA SACRA, 2 srie, 19-20 (2007-2008)
399-424
400
JORGE REVEZ
Ns os vencidos do catolicismo que no sabemos j donde a luz mana haurimos o perdido misticismo nos acordes dos carmina burana Ns que perdemos na luta da f no que no mais fundo no creiamos mas no lutamos j firmes e a p nem nada impomos do que duvidamos J nenhum garizim nos chega agora depois de ouvir como a samaritana que em esprito e verdade que se adora Deixem-me ouvir os carmina burana Nesta vida que ns acreditamos e no homem que dizem que criaste se temos o que temos o jogamos Meu deus meu deus porque me abandonaste?
Partindo deste poema e do seu contexto, procurmos analisar e compreender as atitudes crticas de um conjunto de catlicos, face instituio eclesial, entre o perodo que medeia, sensivelmente, a campanha para a Presidncia da Repblica em 1958, em que assume especial preponderncia a candidatura do General Humberto Delgado e o 25 de Abril de 1974. Analisaremos algumas destas tomadas de posio, focando principalmente a figura do poeta Ruy Belo, como um caso paradigmtico e at mesmo simblico pela construo posterior de um certo imaginrio de vencidismo catlico que o seu poema fez emergir do criticismo que marcou a relao dos catlicos com a Igreja, entendida aqui enquanto estrutura orgnica e hierrquica. Veremos adiante como outras questes se colocaram igualmente, ultrapassando o estreito campo da relao entre o crente e a estrutura que o enquadra. Em primeiro lugar, estamos ainda um pouco longe de poder avanar com uma caracterizao cultural e uma explicao histrica do que ter sido o grupo que se auto-designou, ou que Ruy Belo designou, ou que porventura algum, previamente ao poeta, chamou de Vencidos do catolicismo. No apresentaremos, portanto, concluses, mas apenas linhas de fora muito amplas e talvez at um pouco difusas, sobre o que ter sido a experincia cultural e espiritual de uma sensibilidade catlica, de homens e mulheres muitos deles com actividade poltica enquadrada no conceito
O S V E N C I D O S D O C ATO L I C I S M O
401
amplo e plural de oposio catlica objecto da tese de mestrado de Joo Miguel Almeida, dos trabalhos de Jos Barreto ou Manuel Braga da Cruz, e de outras snteses como a efectuada por Paula Borges Santos 2 outros, por certo a grande maioria, silenciosa e annima, que num dado momento, e na maior discrio se leram e consideraram como vencidos, rompendo de forma abrupta ou simplesmente afastando-se da Igreja e do catolicismo. Num segundo plano, a poesia, sendo uma forma de linguagem primordial e leitura dos homens sobre o mundo este real em transformao que nos cerca apresenta na sua essncia, muitas vezes, uma surpreendente capacidade de ler os sinais e os signos dos tempos, quase como se fosse possvel olhar para alm das coisas. E se, por vezes, o essencial parece impossvel de observar, a poesia apresenta-se talvez como uma espcie de chave interpretativa. Essa leitura do real a que tantos autores se referiram tem sido amide esquecida pela investigao na compreenso do passado mais recente dada a exploso de fontes histricas que se verifica na contemporaneidade. Qui a proximidade temporal nos leve a dispensar uma necessidade mais urgente de um oportuno recurso s fontes literrias, quer sejam puramente ficcionais ou de influncia autobiogrfica, recurso que se torna incontornvel para perodos histricos mais recuados. Da que a metodologia deste artigo se filie nesta enunciao. Partimos do poema em epgrafe e da sua anlise para a elaborao de um esboo que permita antever, com mais clareza, o retrato de alguns catlicos 3 espiritual, esttico e poltico que podemos situar, em traos largos, no decnio de 60 do passado sculo. Ter o poema como centro de reflexo no reduz, de forma alguma, o espectro de anlise. Tal a relao do historiador com o documento: esse mundo espera de ser infinitamente interpretado.
Cf. Joo Miguel Almeida A oposio catlica ao Estado Novo (1958-1974). Lisboa: Faculdade de Cincias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2000. Tese de mestrado; Jos Barreto Oposio e resistncia de catlicos ao Estado Novo. In Religio e sociedade: dois ensaios. Lisboa: ICS, 2002, p. 121-175; Manuel Braga da Cruz O Estado Novo e a Igreja Catlica. Lisboa: Editorial Bizncio, 1998; Paula Borges Santos Igreja Catlica, Estado e sociedade, 1968-1975: o caso Rdio Renascena. Lisboa: ICS. Imprensa de Cincias Sociais, 2005. 3 Tentaremos evitar a utilizao da expresso grupo. arriscado afirmar que os Vencidos do Catolicismo constituam um grupo: no tm meios de comunicao internos (talvez a correspondncia nos pudesse esclarecer este aspecto com mais certeza), no tm estrutura nem liderana de qualquer espcie, no tm objectivos nem um propsito comum. So, no fundo, um conjunto de pessoas com mltiplas sensibilidades acerca do mesmo problema.
2
402
JORGE REVEZ
2. Parece-nos importante, para comear, referir alguns aspectos acerca da obra de Ruy Belo e de alguns passos da sua vida que possam auxiliar a compreenso deste poema e de tudo o que este implica. Para nos auxiliar neste trecho, recorremos sobretudo ao apndice biogrfico tese de Manuel Antnio Silva Ribeiro 4 sobre a obra potica de Ruy Belo e a sua relao com as dimenses da transcendncia. O seu texto inclui vrios dados obtidos junto de familiares e amigos do poeta o que o enriquece bastante. 5 Ruy Belo nasceu em 1933, em S. Joo da Ribeira, Rio Maior, filho de professores primrios. Apesar do seu pai ter sido seminarista, sobretudo a sua me que se responsabiliza pela sua educao catlica, aprendendo com o pai a lngua latina e a leitura dos clssicos. Os seus pais mudam-se para Santarm por volta de 1943 e Ruy Belo far o seu percurso liceal nesta cidade tendo contacto com a dinmica da Juventude Escolar Catlica, organismo da Aco Catlica Portuguesa, na qual participa pontualmente. A militncia de Ruy Belo no Opus Dei inicia-se aquando da sua ida para Coimbra, para frequentar Direito, em 1951. O Opus havia sido instalado em 1946 em Coimbra, com a criao de uma residncia universitria. A sua militncia duraria dez anos, at 1961, sendo acompanhada de uma slida formao e prtica religiosa. Manuela de Freitas conta como Ruy Belo, com 22 anos, visitava o seu irmo Carlos, cuja morte em 1965 motivaria a dedicatria de Boca Bilingue, e estudavam com o crucifixo ao lado dos livros 6. Neste perodo houve uma forte expectativa pelos seus superiores de que Ruy Belo viesse a ser sacerdote deste Instituto (o primeiro sacerdote portugus seria ordenado em Coimbra, em 1955), no entanto, tal nunca viria a ocorrer. Depois da morte do pai, a sua famlia muda-se para Lisboa onde concluir o curso de Direito em 1956. Nesse mesmo ano vai para Roma iniciar um doutoramento em Direito Cannico. Esta rea de estudo teria sido escolhida a arrepio da sua vontade pessoal, pois o seu desejo seria estudar Literatura. Da no ser estranho que a tese que defende em 1958, com o ttulo Fico literria e censura eclesistica, apresente uma dimenso no exclusivamente jurdica ou cannica.
A margem da transcendncia: um estudo da poesia de Ruy Belo. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 2004, p. 365-385. 5 No existe nenhuma biografia desenvolvida sobre a figura de Ruy Belo mas apenas pequenos textos ou breves apontamentos factuais. um estudo que se encontra por fazer. 6 Fernando Pinto do Amaral (dir.) Ruy Belo. Relmpago: revista de poesia. N 4, Abril de 1999, p. 67.
4
O S V E N C I D O S D O C ATO L I C I S M O
403
Os trs anos que passou em Roma so hoje pouco conhecidos, como outros aspectos da sua biografia, sobretudo a importncia deste perodo para a sua obra potica e evoluo pessoal. Por um lado, se atendermos cronologia verificamos a possibilidade do seu contacto e eventual influncia com o ambiente pr-conciliar que se viveria em Roma nos finais dos anos 50. Por outro lado, Hugo de Azevedo, num artigo apologtico do Opus Dei, refere a amizade de Ruy Belo, em Roma, com Jos Miguel Ibaez-Langlois, um poeta chileno, jovem membro do Opus Dei, que nos coloca todo o problema da influncia hispano-americana na sua obra, bem como de temticas, pouco referidas, como a importncia da teologia da libertao. Contudo, no podemos, por ora, seguir esta pista devido falta de elementos. At 1961, ano em que sai do Opus Dei, Ruy Belo estagia como advogado e detm alguns cargos pblicos para alm de dirigir a Editorial Aster e a revista Rumo. Inicia igualmente a sua ampla actividade como tradutor, numa situao em que, nas suas palavras, impedido de escrever coisas minhas, escrevi em portugus a obra de um autor estrangeiro, imolando-lhe assim as experincias e os achados de vida e de linguagem que se me iam proporcionando, como escreve no prefcio da 2 edio de Aquele Grande Rio Eufrates, em 1972 7. A questo nebulosa de que teria ou no sido impedido de publicar ou mesmo obrigado a destruir uma obra sua pelo seu director espiritual manifestamente resultante do que escreve neste prefcio. O que o poeta escreve claro: No termo de dez anos de uma aventura mstica que terminou h dez anos, eu sa para a rua e para o dia-a-dia com este punhado de poemas, com estas palavras que me consentiram escrever nos breve intervalos de um silncio durante muitos anos imposto, a pretexto de que, de contrrio, a minha alma correria perigo, como se eu tivesse uma coisa como alma, como se correr perigo no fosse talvez a minha mais profunda razo de vida. () esta colectnea () ter sido e continuar a ser suficiente para, de certa maneira, me permitir a integrao naquela gerao que, em Portugal e para glosar Jorge de Sena perdeu o jogo do catolicismo e, talvez como nenhuma outra, proveniente de qualquer outro sector ideolgico, alis incondicionalmente merecedor do meu maior respeito, haja contribudo tanto para a luta tendente emancipao do povo portugus, no s pela sua actividade como pela constante e inexorvel capacidade de reflexo e de reviso de mtodos 8.
Aquele Grande Rio Eufrates. Introd. de Jos Tolentino Mendona. 5. ed. Lisboa: Presena, 1996, p. 29. 8 Ibidem, p. 25-27.
7
404
JORGE REVEZ
Em 1961, ingressa na Faculdade de Letras e publica o seu primeiro livro, Aquele Grande Rio Eufrates, iniciando-se o que podemos designar como uma segunda fase da sua militncia catlica. Esta segunda fase que podemos situar em traos largos at sua partida para Madrid em 1971, e que, na sua obra potica, culmina com a publicao de Homem de Palavra[s], em Janeiro de 1970, um perodo marcado pelo seu reconhecimento como poeta e pela sua profusa participao nas diversas iniciativas que caracterizam o tmido pluralismo e diversidade cultural do perodo final do Salazarismo e incio do Marcelismo. Ruy Belo publica no Tempo e o Modo, bem como nas publicaes da JUC, Encontro e Presena, bem como noutros dirios da imprensa nacional. Na Faculdade de Letras vive a crise acadmica de 1962, o mesmo ano em que publica O problema da habitao Alguns aspectos. Esta vivncia ter despertado em Ruy Belo um sentimento poltico, segundo o testemunho do seu amigo Gasto Cruz a Manuel Antnio Silva Ribeiro: Sentia-se impelido em ter uma actividade poltica porque havia nele um grande sentido de revolta contra a injustia. De repente percebeu que vivia num regime poltico concentracionrio 9. Assina, em 1965, o manifesto dos 101 catlicos a favor do Manifesto da Oposio Democrtica, onde se reflecte o desajuste entre a situao nacional de opresso e guerra colonial com as posies de Roma, sobretudo a reflexo em torno dos documentos conciliares e as encclicas papais, como exemplo cimeiro a Pacem in Terris, de 1963, amplamente citada no documento, como sinal de confronto com um regime que mantinha o pas na guerra em frica. Em 1966, publica Boca Bilingue, uma obra extremamente crtica em que o prprio poeta se auto-censura com receio de represlias policiais, amputando trs poemas que pretendia republicar na ntegra em 1969 (qui fruto do efeito do fim do Salazarismo). Um destes poemas era o famoso Morte ao meio-dia, cujo verso No meu pas no acontece nada ficaria cristalizado no romance de Cardoso Pires, Alexandra Alpha 10. Outro desses poemas era Versos do Pobre Catlico em que o sujeito, dirigindo-se a Nossa Senhora da Assuno pergunta: No te sentes feliz /
9 A margem da transcendncia: um estudo da poesia de Ruy Belo. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 2004, p. 381. 10 Jos Cardoso Pires Alexandra Alpha. 1 ed. Lisboa: D. Quixote, 1987. As personagens Maria e Alexandra utilizam, amide, vrios versos deste poema, havendo quase no final da narrativa um encontro de Maria com o prprio Ruy Belo, tornado personagem do romance de Cardoso Pires, em que se apresenta uma imagem da desiluso ps-revoluo de Abril.
O S V E N C I D O S D O C ATO L I C I S M O
405
se o povo reza livremente o tero no pas / e so muito cristos os nossos governantes? 11 Num texto indito at h dois anos e publicado na revista Inimigo Rumor, Ruy Belo escreve sobre Boca Bilingue: Quem o soube ler, verificou em que medida a perspectiva do catolicismo era errada enquanto aplicada a mim. claro que se trata de outra ordem de problemas: mas se eu visse que o cristianismo me afastava do homem, imediatamente deixava de ser cristo, [e acrescenta entre linhas] <quanto mais catlico, especialmente, se volte> 12. Em 1969, candidata-se como deputado por Lisboa nas listas da CEUD (Comisso Eleitoral de Unidade Democrtica) s eleies para a Assembleia Nacional e tambm co-fundador da cooperativa SEDES, publicando o seu quarto livro Homem de Palavra[s], o ltimo desta segunda fase de militncia catlica que coexiste j com um progressivo distanciamento da Igreja e que culminar com a concepo do poema Ns os Vencidos do Catolicismo, objecto central desta anlise. Neste captulo seria importante igualmente verificar o significado do Conclio Vaticano II, quais as suas consequncias para a gerao de 60, bem como este incio da ruptura com a Igreja Catlica, sobretudo as suas razes e prticas, como um processo no meramente individual, mas como o resultado de uma reflexo espiritual e geracional 13 que fundou, provavelmente, as motivaes mais profundas das diversas tomadas de posio de catlicos contra o Estado Novo, que nos permitem confirmar politicamente a existncia de uma oposio catlica, mais ou menos estruturada, conforme os seus diferentes momentos. A expresso Vencidos do Catolicismo surge, assim, como uma sntese quase final de um processo de dissidncia individual face estrutura que representava na dcada de 60 o catolicismo portugus. Foi esta expresso
Boca Bilingue. Introduo de Osvaldo Manuel Silvestre. 4. ed. Lisboa: Presena, 1997, p. 62. 12 Inimigo Rumor. N. 15. Lisboa: Livros Cotovia, 2003, p. 15. 13 Antnio Matos Ferreira avana com a ideia de trs geraes catlicas no catolicismo do sc. XX portugus. Ruy Belo estaria na transio da segunda gerao (marcada pelo projecto de recristianizao protagonizado na Aco Catlica) para a terceira (marcada pela ruptura intra-eclesial, pelo Vaticano II, e defensora de uma mudana da Igreja, de dentro para fora, no sentido de a tornar capaz de responder mudana social). Cf. Catolicismo. In Antnio Barreto e Maria Filomena Mnica, coord. Dicionrio de Histria de Portugal. Vol. VII. Porto: Livraria Figueirinhas, 1999, p. 257-269. Quanto ao problema da aplicao do conceito de gerao vide Julin Maris El mtodo histrico de las generaciones. 3. ed. Madrid: Revista de Occidente, 1961.
11
406
JORGE REVEZ
fruto da criao potica de Ruy Belo? O que a inspirou? Poderemos mesmo falar de uma certa apropriao desta por parte de um grupo de catlicos que, num determinado tempo, optaram por abandonar a pertena Igreja? Como refere Margarida Braga Neves, autora de uma tese 14 sobre a poesia de Ruy Belo, na introduo ltima edio de Homem de Palavra[s]: Embora relegada para um lugar secundrio, a inquietao religiosa () continua a ecoar em surdina (). No se estranha pois que em poemas como Ns os Vencidos do Catolicismo ou Quadras da alma dorida patrimnio insubstituvel de uma gerao, no dizer de Eduardo Prado Coelho o poeta se coloque no entre os descrentes, mas entre os derrotados de um catolicismo cuja nostalgia permanece viva (). E se essa nostalgia no suficiente para conferir um cariz especificamente cristo ao livro, contribui sem dvida para reforar o sincretismo de uma viso cujo carcter humanista e ecumnico o poeta nunca deixou de reivindicar 15. Adiante, a autora refere ainda como, nesta obra, se apresenta uma arte que define o triunfo da liberdade do homem na sua relao com Deus, do seu livre-arbtrio trazido pela moderna idade e sintetizado na frmula Deus pe e o homem dispe 16. De facto, a expresso denota, como reparou Tolentino Mendona 17, uma clara crise de f. No da crena espiritual e humana mas do lao que a f representa enquanto fides que liga o homem sua igreja. Coloca-se aqui, em certa medida, o mesmo problema que se colocou aquando das fracturas da cristandade no sc. XVI: , no fundo, a questo de se saber que a ruptura de Lutero no era uma crise de f mas, pelo contrrio, o romper com a fides Igreja de Roma que impedia que a verdadeira f (em esprito e verdade, diramos, glosando o poema) pudesse sobreviver 18. Esta potica ausncia da luz e do misticismo , no fundo, a
Margarida Braga Neves A poesia de Ruy Belo: entre o dilogo e o silncio. Lisboa: [s.n.], 1986. Tese de mestrado em Literatura Portuguesa apresentada Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1987. 15 Homem de Palavra[s]. Introduo de Margarida Braga Neves. 5. ed. Lisboa: Presena, 1997, p. 16. 16 Ibidem, p. 17 17 Cf. a introduo de Jos Tolentino Mendona: Aquele Grande Rio Eufrates. 5. ed. Lisboa: Presena, 1996, p. 7-15 18 A referncia ao encontro de Jesus com a Samaritana (cf. Joo 4, 1-42) foi igualmente utilizada por Antnio Srgio, numa carta ao Cardeal Cerejeira (1956), para a definio de um cristianismo essencial: No sou catlico, como Vossa Eminncia bem sabe, mas aceito as normas da moral crist e mantenho a serenidade ante os furores alheios, ou sejam naturais, ou de encomenda e pagos. Alm disso, dotado de um esprito de reaccionalismo
14
O S V E N C I D O S D O C ATO L I C I S M O
407
causa da desistncia da luta. Neste sentido o recurso imagtica da samaritana do quarto captulo do Evangelho segundo S. Joo, exprime a construo da pureza da f no acto impuro para um judeu chamado Jesus de abordar uma samaritana. A crena na vida e no homem coexiste com a dvida acerca da sua origem divina e o poema remata com esse grito de Jesus para Deus-Pai que abordaremos adiante. A expresso foi, de facto, apropriada por alguns autores e por uma certa sensibilidade catlica que, mais ou menos definitivamente, rompeu com o catolicismo. O exemplo mais conhecido o do livro de memrias de Joo Bnard da Costa, com o ttulo similar ao do poema, tendo sido esta apropriao autorizada por Ruy Belo, segundo o autor 19. O prprio poeta refere alis na introduo 2 edio de Homem de Palavra[s] que como me observou, salvo erro, o meu amigo Joo Bnard da Costa, Ns os Vencidos do Catolicismo seria o poema de uma gerao, onde a frase Meu deus porque me abandonaste significaria, como em Jos Rgio, um definitivo abandono dos homens por parte de Deus. Cristo na cruz ver-se-ia completa e definitivamente abandonado 20. Consumada a sua ruptura com a Igreja, inicia-se o que podemos designar como um perodo de afastamento, de ruptura. Ruy Belo no rompe simplesmente com o catolicismo mas caminha por um longo processo de questionamento da f, afirmando Joaquim Manuel Magalhes, nesses dois textos fundamentais que so os posfcios sua 1 edio da obra completa (embora truncada de Pas Possvel, de 1973, uma antologia pessoal do prprio Ruy Belo), que o poeta se encontraria no final da sua vida numa situao de completo agnosticismo 21. O afastamento de Ruy Belo tambm geogrfico pois vai em 1971 para Madrid, como leitor de portugus na
estreme (e o reaccionalismo estreme pode dizer-se um mstico, nada tendo, porm, de ritualista e de devoto) adiro ao que no Evangelho de um espiritualismo puro e por isso mesmo profundamente reaccionalista de acordo com o ditame que me parece ser o bsico, o cerne de toda a ideia que merea ligar-se ao Cristo: Deus esprito e necessrio que aqueles que o adoram o adorem em esprito e em verdade., apud Joo Medina (dir.), Histria Contempornea de Portugal: Estado Novo, tomo 2, Lisboa: Multilar, [1990], p. 117. 19 Ns os Vencidos do Catolicismo. Coimbra: Edies Tenacitas, 2003, p. 11. 20 Homem de Palavra[s]. Introduo de Margarida Braga Neves. 5. ed. Lisboa: Presena, 1997, p. 31. No ser descabido explorar, igualmente, a relao desta expresso com a influncia de uma leitura e exegese directa da Bblia que marcou os anos 60 do sc. XX, nomeadamente o Livro de Job. 21 Obra potica de Ruy Belo. Vol. 1. 2. ed. Organizao e posfcio de Joaquim Manuel Magalhes. Lisboa: Presena, [1984], p. 229.
408
JORGE REVEZ
Universidade Complutense, de onde s regressar em 1977, para publicar o seu derradeiro livro Despeo-me da terra da alegria e passar um ano como professor de uma escola tcnica no Cacm (concelho de Sintra) em horrio nocturno, situao que o abalou bastante tendo em conta a impossibilidade com que a sua entrada na docncia universitria sempre se lhe apresentava. A ruptura com a Igreja que antecede a publicao de Homem de Palavra[s] representa tambm o incio de uma potica sensivelmente diferente, impondo-se o verso longo, de grande flego discursivo, cujo exemplo maior o poema-livro A Margem da Alegria, de 1974. No esto completamente esclarecidas as condies da sua sada de Portugal. Sabemos que desde 1966 trabalhou na editora Unio Grfica, de propriedade catlica, que viria a abandonar posteriormente publicao do seu volume de ensaios Na Senda da Poesia, em 1969. Segundo as acutilantes palavras do seu amigo, Armando Pereira da Silva: Ruy Belo foi um poeta da dvida assumida, e isso custou-lhe caro, sobretudo na sua vida pessoal, num pas atado a (falsas) certezas; ao cortar com o seu passado catlico, rompeu, o que nesse mesmo sentido era pior, com a espria aliana poltico-religiosa responsvel pelo lodaal vigente. () Ruy Belo ter depositado algumas esperanas, como tantos outros companheiros de crise, na chamada primavera marcelista. No me parece que a experincia lhe tenha sido gratificante. De qualquer modo, a sua ligao contratual a estruturas editoriais da Igreja entrou em colapso. E as portas profissionais seguintes foram-se fechando, apesar das suas duas licenciaturas e um doutoramento. Conseguiu a muito custo, em 1971, o lugar de leitor portugus em Madrid, e mesmo assim a polcia poltica tentou impor-lhe uma condio vergonhosa: a de se limitar, na capital espanhola, a falar de literatura 22. A sua crise espiritual bem visvel, por exemplo, na mudana, expressa na 2 edio de Aquele Grande Rio Eufrates, ao ortografar a palavra Deus com minscula. Joaquim Manuel Magalhes v neste gesto no uma recusa de Deus enquanto convergncia do sentido religioso do homem mas apenas afirmao de mudana ideolgica e, por isso, alterao do uso social da ideia de Deus. () Um Deus que, de hegemnico, transita para ser entendido como afirmao na dvida 23.
Armando Pereira da Silva in Manuel Hermnio Monteiro (dir.) Ruy Belo. A Phala. N. 86. Lisboa: Assrio & Alvim, Maio de 2001, p. 54. 23 Obra potica de Ruy Belo. Vol. 1. 2. ed. Organizao e posfcio de Joaquim Manuel Magalhes. Lisboa: Presena, [1984], p. 226.
22
O S V E N C I D O S D O C ATO L I C I S M O
409
A inquietao conduz Ruy Belo, num primeiro momento ps-ruptura, a uma lenta recomposio da sua crena, a caminho de Um deus diferente, um tpico recorrente na poca e ttulo da traduo portuguesa (Moraes, 1967) do livro Honest to God de John A. T. Robinson, em que o pastor protestante preconizava a necessidade de matarmos as imagens de deus para o podermos refazer. Seguimos ainda Magalhes: Esta ironia da sobreposio do totalitarismo e do catolicismo que faz aproximar de um deus natural, ligado s coisas comuns. um deus de vencidos, no de dominadores. Um deus de dvida e desalento, um deus que viu Deus servir os extermnios. A sua conscincia religiosa de fraternidade confrontada com a prpria realidade da prtica catlica dominante e conduz descoberta desse deus sem maiscula, um deus ideologicamente reperspectivado, um deus do quotidiano, do homem comum, dos problemas reais 24. Num segundo momento, mais perto da sua morte, Ruy Belo teria mesmo comeado a substituir a palavra deus por outras palavras num exemplar pessoal do seu primeiro livro, como adianta Alexandra Lucas Coelho, num artigo do jornal Pblico, aquando do 25 aniversrio da sua morte 25. Esta espcie de logoclastia, nas nossas palavras, de desconstruo simblica do poema, confirma, ainda que parea contraditrio, a ideia de Magalhes quando afirma: Suponho que no h nunca, na sua poesia, qualquer espcie de quebra de sentido religioso, ela a poesia de um homem religioso at ao fim. Mas de uma religiosidade torturada, de quem viu deus afastar-se at dele restar apenas a indeciso e a distncia. A sua potica assim um permanente dilogo com o real, como se de uma slida formao espiritual sobressasse agora um imenso apelo do mundo sua palavra transformadora, continuamente interrogando o humano a partir de premissas aprendidas na religio crist, continuamente questionando essa religio a partir de evidncias adquiridas pela partilha humana. A sua descrena nunca deixa de pressupor a crena, assim como esta, por assim dizer, se redime humanamente na prpria possibilidade de duvidar 26. Parecemos estar defronte de uma forma de religiosidade reinventada, na destruio da linguagem (metfora da Igreja personificada na palavra Deus, alvo de logoclastia) como superestrutura, da qual o poeta acaba por libertar a palavra (metfora do indivduo e da sua liberdade).
Ibidem, p. 228. Pblico. 8 de Agosto de 2003, p. 2-3. 26 Obra potica de Ruy Belo. Vol. 1. 2. ed. Organizao e posfcio de Joaquim Manuel Magalhes. Lisboa: Presena, [1984], p. 228-229.
24 25
410
JORGE REVEZ
3. Se partssemos do princpio que, de facto, quando Ruy Belo escreveu o poema em anlise, se referia a uma realidade social e religiosa concreta, apesar dos limites hermenuticos que qualquer forma de literatura apresenta aos historiadores, poderamos ver neste poema a enunciao e a definio de um grupo especfico de Vencidos do Catolicismo. Poderamos inclusive encontrar uma das suas caractersticas principais nos versos que falam especificamente em desistncia da luta (no lutamos j firmes e a p) ou mesmo em derrota (Ns que perdemos na luta da f). Estes versos transportam-nos para uma situao de mudana e transio, de um passado antevisto como militante e combativo a um presente configurado como derrotado e vencido. Como se processou esta mudana? Como que as vrias geraes de catlicos que desde o incio do Estado Novo se colocaram numa perspectiva crtica e de confronto puderam, lentamente, ver entre as suas fileiras o abandono de alguns dos seus membros? Como que no seio da militncia catlica se operou a ruptura com a Santa Madre Igreja? Como referimos inicialmente, no apresentaremos concluses mas apenas algumas hipteses e tpicos de anlise. Desde a campanha de Humberto Delgado, a carta do Bispo de Porto a Salazar e o opsculo de Francisco Lino Neto sobre o perodo eleitoral, no ano de 1958, que as movimentaes catlicas, no que se pode designar, de uma forma ampla, a oposio catlica eram no s frequentes mas acutilantes e pertinentes. A generalidade da historiografia sobre o movimento catlico de oposio ao Estado Novo e de contestao da Igreja, sobretudo da hierarquia portuguesa na medida em que parte desta alinhava com as posies do regime, comportamento que, nas motivaes e crenas religiosas de alguns sectores catlicos, se tornou, a partir de certo ponto, incompreensvel e inaceitvel considera em consenso que 1958 foi o ano em que surgiu uma tendncia de contestao irreversvel que romperia a chamada frente nacional unionismo catlico em torno do regime 27 ou o catolicismo nacional como um bloco de suporte do regime (o que talvez nunca tivesse sido completamente). Sem querermos repetir o que j est escrito sobre esta dinmica, destacaremos apenas que, para alm de um conjunto de manifestos e abaixo-assinados desde os finais dos anos 50 e outras iniciativas fundamentais como a editora Moraes ou a revista O Tempo e o
27 Cf. Antnio Matos Ferreira Catolicismo. In Antnio Barreto e Maria Filomena Mnica, coord. Dicionrio de Histria de Portugal. Vol. VII. Porto: Livraria Figueirinhas, 1999, p. 257-269.
O S V E N C I D O S D O C ATO L I C I S M O
411
Modo estudada por Nuno Estvo Ferreira 28 e recentemente editada (a 1 srie) pelo Centro Nacional de Cultura em 1969, ano provvel da redaco do poema em anlise, seguindo, por exemplo, o elenco de Jos Geraldes Freire 29, ocorreram com destaque, entre outros: no Porto, a 1 de Janeiro de 1969, Dia Mundial da Paz, a distribuio de um documento porta das igrejas sobre as interrogaes da conscincia crist sobre a paz e a guerra; no mesmo dia, em Lisboa, uma viglia na igreja de S. Domingos com a inteno de consciencializar os cristos para os problemas da guerra muitas vezes apontada como antecedente, ainda que com caractersticas diferentes, do episdio da Capela do Rato; a publicao clandestina do Boletim Direito Informao, entre 1963 e 1969, co-editada por Nuno Teotnio Pereira, etc; a formao da Comisso Nacional de Socorro aos Presos Polticos, que durou desde fins de Novembro de 1969 at 1974; o Grupo e Cadernos GEDOC, desautorizados por Cerejeira em Fevereiro de 1969, com 2 reunies em Cascais e no Entroncamento (Novembro de 1969), reprimidos pela DGS; participao de catlicos, incluindo Ruy Belo, nas eleies e na crise acadmica de 1969; Comisso Justia e Paz, criada no Porto. Por estes breves apontamentos, possvel compreender um pouco do contexto em que a publicao, nos primeiros dias de Janeiro de 1970, do livro Homem de Palavras[s], que inclua o poema em anlise, surgiu no ambiente de tenso que caracterizava o catolicismo portugus. O que nos importar no desenvolvimento desta reflexo, para alm da questo especfica de Ruy Belo, ser compreender as motivaes religiosas que fundaram o movimento de oposio poltico-social, ou seja, no fundo, procurar as razes do foro da crena, espirituais, que suportaram as diversas tomadas de posio pblicas dos catlicos. No podemos reduzir, parece-nos, a questo da oposio catlica a uma conscincia poltica de catlicos que ao agirem criticamente so destacados e apontados, mais do que pelas suas formulaes contestatrias, por serem catlicos ou se apresentarem como catlicos. Ora, ainda que tal seja possivelmente verdade em diversos momentos, importante igualmente perceber, se interpretarmos as fontes, que talvez haja nesta problemtica uma nova formulao, um novo catolicismo que estava disposto a mudar e a escutar, tambm ele, os sinais dos tempos.
O Tempo e o Modo: Revista de Pensamento e Aco (1963-1967): repercusses eclesiolgicas de uma cultura de dilogo. Lusitania Sacra. 2 srie. 6 (1994) 129-294. 29 Resistncia ao Salazarismo-Marcelismo. Com carta-prefcio pelo Bispo do Porto, D. Antnio Ferreira Gomes. Porto: Livraria Telos Editora, 1976.
28
412
JORGE REVEZ
Nesta sequncia, denota-se a emergncia de uma incompatibilidade com uma hierarquia eclesial, de uma diferente gerao, que apesar do ambiente internacional conciliar, impulsionado por Joo XXIII, o papa da Mater et Magistra (1961) que preconiza a colaborao possvel entre cristos e no-cristos e o pluralismo no interior da Igreja , da Pacem in Terris (1963) dirigida a todos os homens de boa vontade e Paulo VI, o papa da Populorum Progressio (1967) que apresenta a mundializao da questo social e o desenvolvimento como o novo nome da paz no foi capaz de compreender as mudanas que se impunham. Diga-se que esta incompatibilidade, se assim podemos nome-la, no se verificou apenas entre leigos e clrigos mas dentro da prpria hierarquia ordenada, como as reflexes de Paula Borges Santos 30, entre outros autores, demonstraram. Inclumos nesta dimenso internacional, tambm, uma corrente teolgica de debate (onde surge o personalismo de Mounier e a fundamental Esprit, to caros a esta gerao de 60) que preparou o Vaticano II. Tolentino Mendona, na introduo edio mais recente de Aquele Grande Rio Eufrates, fala especificamente de um certo abandono por parte do clero que alguns sectores catlicos sentiram aquando da defesa de valores que to claramente decorriam do dinamismo da f o que gerou o desencanto de uma gerao em relao Igreja e s possibilidades de uma vivncia coerente da sua adeso a Jesus Cristo 31. Tambm o caso francs paradigmtico nesta problemtica. Como referia, j em 1957, Adrien Dansette 32, a espiritualidade contempornea acompanhou o movimento de questionao das velhas estruturas da Igreja, a substituir por uma nova edificao, num mundo que surgia na sequncia do ps-guerra. O autor era claro e especificava o que j no interessava muito aos jovens membros da Aco Catlica Francesa: o respeito de uma moral que exclui qualquer excesso, a caridade benfazeja, as obrigaes religiosas, o esprito de sacrifcio, a meditao, a comunho frequente; por contraponto, a renovao da espiritualidade passava, sobretudo, por um recentrar na comunidade em misso permanente, onde cada indivduo desempenha o seu papel em comum, na conscincia de que s a busca da
30 Cf. o captulo II, Crise do compromisso do catolicismo portugus com o Estado Novo in Igreja Catlica, Estado e sociedade, 1968-1975: o caso Rdio Renascena. Lisboa: ICS. Imprensa de Cincias Sociais, 2005, p. 55-99. 31 Aquele Grande Rio Eufrates. Introd. de Jos Tolentino Mendona. 5. ed. Lisboa: Presena, 1996, p. 10. 32 Destin du catholicisme franais: 1926-1956. Paris: Flammarion, 1957.
O S V E N C I D O S D O C ATO L I C I S M O
413
salvao de cada um no basta para uma vivncia plena da f. curioso como esta perspectiva se assemelha bastante a parte das palavras de Alada Baptista acerca da identidade catlica, a propsito do prefcio obra de Jean-Marie Domenach (ento director da Esprit) e Robert de Montvalon, Catolicismo de Vanguarda: Ser catlico uma cor de pele. estar em comunidade. No estar num partido a que posso aderir ou de que posso afastar-me () o que quer dizer estar em solidariedade activa perante qualquer coisa que j recebi e que continuar e me continuar at ao fim dos tempos. Da que haja uma regra e uma dialctica. A regra permanecer. Sair tirar a pele. () E j agora a ltima ambiguidade de quem quer estar na Igreja e a permanecer (). Saber que a sua tradio tem o peso e a segurana do lastro, e que no seu tesouro h coisas novas e coisas antigas, saber que nela h a fraternidade e o dio dos irmos, saber que me acolhedora e exigente e despropositada, saber que ao Pai invisvel corresponde algumas vezes o padrasto visvel, saber que se solidrio da grandeza e da decadncia duma genealogia de irmos santos e tarados. () Mas que s ali somos ns mesmos 33. Nestas palavras entendemos a noo de Igreja que parte das geraes influenciadas pelo personalismo de Mounier partilhavam entre si. E como a ruptura ainda estaria longe do pensamento de vrios destes homens e mulheres. Da que no seja apenas importante procurar as motivaes religiosas para contestar a Igreja mas tambm tentar definir o que representou nesse perodo o acto de romper com a concepo maternal de igreja. Numa obra de 1970, Igreja velha, Igreja nova, em que vrios autores escrevem sobre temticas fundamentais para este perodo, como a questo do Catecismo holands, o celibato, ou as perspectivas comuns a cristos e marxistas, referida a expresso terceiro homem, divulgada por Franois Roustang, um jesuta francs ligado psicanlise, em Outubro de 1966. Esta formulao parece-nos extremamente importante para a compreenso do fenmeno de ruptura presente no final dos anos 60. Vejamos a sua definio. Perante o nascimento de um quarto homem, o cristo revolucionrio: O primeiro o que se sente bem dentro das estruturas tradicionais da Igreja; o segundo, o que deseja algumas arrumaes de estruturas; o terceiro homem, esse, abandona a Igreja mas sem barulho, sossegadamente. Ainda acredita nos valores evanglicos, mas j nada
33 Jean-Marie Domenach, Robert de Montvalon (apres.) Catolicismo de vanguarda: textos e documentos do catolicismo frans: 1942-1962. Prefcio de Antnio Alada Baptista. Lisboa: Morais, 1965, p. XIV-XVI.
414
JORGE REVEZ
espera da Igreja. Vai-se embora definitivamente, indiferente ao problema da Igreja 34. Assim, o poema parece ser, pelo menos em parte, expresso deste horizonte. Quando Ruy Belo escreveu o poema Ns os vencidos do catolicismo, o catolicismo havia sido confrontado, de forma indelvel, com a modernidade, e antevia-se, igualmente, o debate com uma formulao posterior a que hoje ainda chamamos ps-modernidade, transparente na dinmica conciliar que marcou toda a dcada de 60 do sculo XX. O II Conclio do Vaticano representou, para determinadas franjas catlicas, a esperana de um rejuvenescimento, de uma forma quase incontornvel de dilogo entre a Igreja e o Mundo. A recepo do Conclio, que ainda hoje se apresenta como um amplo espao de debate e problematizao histrica, foi marcada por uma certa desiluso, um desajuste entre as expectativas criadas e as mudanas sofridas. No pelo discurso conciliar em si, tambm acusado amide de no ter ido mais longe, mas sobretudo pelas consequncias reais do suposto aggiornamento da Igreja. Para uma gerao de catlicos militantes, tornava-se possvel, sob o abrigo deste gorar, pensar a ruptura. Como se a um aggiornamento da Igreja existisse, em paralelo, a necessidade de um aggiornamento dos homens. Uma hiptese que explicaria como a Igreja e a sua prpria laicizao 35, cada vez mais realizada pelo crescente protagonismo de homens e mulheres, poderia ela prpria reagir em duplicado, com maior ou menor grau de mimetismo, a um conjunto de profundas mudanas, mais ou menos concretizadas, cuja recepo abriria o campo, em ltima anlise, para o equacionar de um abandono, de um vencidismo mais ou menos definitivo, que faria dessa outra Igreja, imaginada pelos homens, a instituio vencedora. Como explica Denis Pelletier 36 num livro que lida com estas e outras problemticas em torno do caso francs, a dinmica conciliar prometia um ralliement entre o catolicismo comprometido, militante, e a modernidade. No entanto, uma das questes que o autor coloca se a prpria tendncia
34 Yvon le Vaillant A morte da Igreja. In Yvon le Vaillant [et al.] Igreja velha, Igreja Nova. Lisboa: Dom Quixote, 1970, p. 14. 35 Expresso presente na crtica do Padre Felicidade Alves. Cf. por ex. Perspectivas actuais de transformao nas estruturas da Igreja: sentido da responsabilidade na vida poltica do pas. [S.l.: s.n.], 1968. 36 La crise catholique: religion, socit, politique en France (1965-1978). Paris: Payot, 2002.
O S V E N C I D O S D O C ATO L I C I S M O
415
ou necessidade de um aggiornamento, no seria j uma porta aberta diluio da especificidade catlica na anomia moderna. O desencontro entre o Conclio e a sociedade francesa daria assim origem ao terceiro homem, que j referimos, bem como a uma mutao social e cultural que afectou todas as instituies portadoras de sentido e no s a Igreja Catlica. Esta mutao, caracterizada pelo conflito entre instituies e indivduos, colocaria o catolicismo ps-conciliar no mesmo trilho do que vieram a ser as preocupaes da gerao que protagonizou as contestaes de 1968, em Frana e nos Estados Unidos da Amrica. A possvel diluio da especificidade catlica e uma recomposio dos seus significados, visvel at mesmo na leitura dos Evangelhos, so expressas, parece-nos, no grito de Cristo na cruz, perto da sua morte. Deixando vir ao de cima a realidade da sua condio humana, reflecte-se neste poema, como ltimo verso, o desespero de um abandono sentido. O sujeito potico abandonado, sente-se abandonado. Cristo j sabe o que lhe ir acontecer e o poeta tambm. Cristo morrer e ressuscitar e o poeta romper com a Igreja para no mais voltar. No se pode dizer que seja, no fundo, o poeta a colocar-se no lugar de Cristo. H sim, sem dvida, uma associao entre Deus e a Igreja, a divindade e a mediao. Este poema pode ser entendido, no fundo, como uma reflexo acutilante sobre as mediaes catlicas, o que talvez nos possa levar a pensar que afinal os vencidos eram, em certa medida, os vencedores. Se pensarmos a ruptura luz do tempo, compreendemos como no est enunciada neste poema qualquer crise de f, mas uma profunda questionao das mediaes, especificamente uma contestao do catolicismo, e sobretudo uma crtica ao catolicismo portugus, expresso obviamente na sua conscincia colectiva e nos seus bispos, a sua principal voz. Como escreve Tolentino Mendona: aludindo ao abandono de Deus, o poeta faz a composio transfigurar-se, pois o que parecia ser uma perda do sujeito agora atribudo a esse escndalo teolgico, por excelncia, que o silncio de Deus. Esta no a nica orao que Ruy Belo poeticamente teceu () mas aquela que no seu imprecar doloroso, no seu falimento, no seu avano sem defesas melhor ilumina, isso que Bernanos chamou, a medonha solido dos filhos de Deus 37. Quem abandona quem? Quem vence quem? Vence a mediao e vencido o crente. vencida a f, a crena, a relao de confiana estabelecida
37 Manuel Hermnio Monteiro (dir.) Ruy Belo. A Phala. N. 86. Lisboa: Assrio & Alvim, Maio de 2001, p. 55.
416
JORGE REVEZ
com Deus, esse Deus transformado em minscula expresso, que anda beira da gua, cala arregaada 38, esse Deus quotidiano do silncio das igrejas vazias. Vence a mediao porque tem esse nome imenso e histrico de catolicismo, essa espcie de adversrio que participa num jogo, numa tenso. E Ruy Belo j o havia dito que perdera, glosando Jorge de Sena e referindo-se hora de vo catolicismo de Antero de Quental. Ruy Belo chegou a organizar uma edio de Prosas dispersas do autor aoriano 39 e Tolentino Mendona escreve sobre Antero o que poderamos, talvez, tambm escrever sobre Ruy Belo: nele que se descobrem as runas e os escombros interiores, a inquietao moral e metafsica, numa reinveno da misso do poeta, buscador da perfeio, no apenas esttica, mas moral e social 40. Esta busca, por parte da gerao de 70, de uma religio mais pura, identificada muitas vezes com o cristianismo primitivo e necessariamente diferente da noo absoluta que, segundo Antero, Trento conferiu ao catolicismo, interessa-nos por uma certa inquietao e questionar eclesial que marcar tambm a dcada de 60 do sculo XX. Assim, parece-nos que a recuperao da expresso Vencidos no de todo um acaso lingustico ou uma mera semntica que dizia o que o poeta queria dizer. Aparentemente por influncia francesa, a expresso Vencidos da Vida nasce na cultura portuguesa com Oliveira Martins e o seu ulico grupo de amigos e companheiros de elitistas almoos e jantares no ltimo quartel do sc. XIX 41. Nessa expresso, condensou-se para a histria da cultura portuguesa, a formulao de uma ampla e acesa crtica aos desaires do parlamentarismo da monarquia constitucional, que se voltou
38 Verso do poema Orla martima in Homem de Palavra[s]. Introduo de Margarida Braga Neves. 5. ed. Lisboa: Presena, 1997, p. 98. 39 Antero de Quental Prosas dispersas. Ed. organizada por Ruy Belo. Lisboa: Presena, 1966. 40 Literatura religiosa. III. poca contempornea, Dicionrio de Histria Religiosa de Portugal. Vol. III. Lisboa: Crculo de Leitores, 2001, p. 132. 41 Cf, por ex., sobre os Vencidos da Vida: Manuel da Silva Gaio Os Vencidos da Vida, prefcio do Dr. Joaquim de Carvalho, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1931; F. A. Oliveira Martins D. Carlos I e os Vencidos da Vida, 2 edio, Lisboa, Parceria Antnio Maria Pereira, 1942; Srgio Campos Matos A ideia de ditadura no crculo dos Vencidos da Vida. Clio. 5 (2000) 73-91; Gomes Monteiro Vencidos da Vida. Relance literrio e poltico da segunda metade do sculo XIX. Lisboa: Romano Torres, 1944; Vencidos da Vida. 1 Ciclo de Conferncias promovido pelo Sculo, [S.l.], [s.n.], 1941; Os Vencidos da Vida. Ciclo de conferncia promovido pelo Crculo Ea de Queiroz, Lisboa, [s.n.], 1989.
O S V E N C I D O S D O C ATO L I C I S M O
417
para o jovem D. Carlos, apelando a um reforo do poder real, a um cesarismo que resolvesse de uma vez por todas o fracasso da regenerao iniciada em meados do sculo XIX; consolidou-se uma imagem de romantismo tardio, plena de saudade de um tempo de heris, desiludida com o presente, escapando-se pelo passado como quem busca um miraculoso pio numa expresso de uma bomia celebrada por personagens que eram afinal vencedores, mais que no fosse pela sua condio social e cultural; fixou-se igualmente uma profunda questionao da f, dos sacramentos, da mediao. Um exemplo flagrante disso o Crime do Padre Amaro, obra cimeira de Ea de Queiroz, onde, mais do que uma questo unicamente ou aparentemente anti-clerical, se colocam interrogaes fundamentais ao nvel do valor dos sacramentos e das dimenses do pecado humano. Como escreve Antnio Matos Ferreira relativamente ao grau de exigncia da vivncia religiosa em Oliveira Martins: A crtica martiniana no correspondia, pois, a um anticlericalismo de combate, mas ao entendimento da necessidade de um clero isto , a mediao da organicidade religiosa capacitado em adequar religio e razo, isto , ser culto como necessidade vital da sociedade. certo que certos catlicos sentiam nessas crticas ataques desenfreados Igreja, mas Oliveira Martins, como outros autores, colocaram problemas que a crise modernista destacou na relao entre religio e razo, com implicaes ao nvel da exegese bblica, da histria da Igreja e da teologia em geral que permaneceram como tenses, pelo menos, ao longo da primeira metade do sculo XX 42. Diramos ns que talvez se possa estender um pouco mais esta tenso at ao problema da tentativa de dilogo, entre a Igreja e o Mundo, que atravessa toda a fase conciliar e o perodo da sua recepo ao longo da dcada de 60. Podemos estabelecer uma ligao entre Os vencidos da vida e os Os vencidos do catolicismo? H algo de comum? H um filo que une as duas sensibilidades? Ser possvel a comparao? Em primeiro lugar, se observarmos Oliveira Martins e Ruy Belo na sua atitude mental, a comparao complexa, sobretudo pelos perodos histricos em causa (a crise dos anos 60 , podemos dizer, uma crise de crescimento, aps o trauma imenso e decisivo das guerras mundiais; a do ltimo quartel do sc. XIX atravessada por um romantismo tardio que lhe confere um tom decadentista, que pouco vem acrescentar, no seu todo, ao que viriam a ser as dinmicas
42 O pensamento de Oliveira Martins sobre religio. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2005. Tese complementar para provas de doutoramento em Histria Contempornea, p. 62.
418
JORGE REVEZ
futuras da sociedade e da cultura). Neste sentido, podemos at observar uma ligao mais estreita de Ruy Belo gerao do Orpheu (sobretudo a Pessoa) e a Antnio Srgio, crticos do vencidismo oitocentista, do que propriamente figura de Oliveira Martins. Em segundo lugar, se atendermos especificamente questo semntica, h uma correlao que evidente: ambos, sua maneira, procuraram ser vencedores Ruy Belo, pelo poder da palavra e de um deus humano, militou por um catolicismo novo, que encetasse de uma forma profcua o dilogo com a modernidade; Oliveira Martins, desiludido com o rumo da Regenerao, esperava por um tempo novo de heris em que a nao pudesse ser rejuvenescida, nas suas finanas e no seu sangue, em torno de um Csar de mo firme. Ora o facto de no se terem afirmado vencedores Ruy Belo, pela desiluso profunda com o catolicismo portugus e uma crise de questionao da f que o conduz talvez ao agnosticismo do final da sua vida; Oliveira Martins pelo seu pessimismo no tempo dos jantares do Bragana, e que o leva, aps o fracasso da sua curta vida governativa, a um final da vida pleno de amargura e desiluso no explica completamente o significado de vencidos se tivermos em comparao ambas as personalidades. De facto, enquanto que, em Ruy Belo, o uso da expresso potico e supostamente aplicado a um grupo que com ele partilhava a ruptura eclesial, em Oliveira Martins, o uso algo irnico, apropriado da experincia francesa e transformado numa espcie de burguesismo intelectual. Alis, no discurso que proferiu no Teatro Vasco Santana, em Outubro de 1969, num comcio da Comisso Eleitoral de Unidade Democrtica, Ruy Belo disse: No vamos ganhar as eleies no porque ns no queremos, mas porque eles [o regime] no querem. E enquanto depender da vontade do inimigo a sorte das eleies, o sufrgio no ser prova real de coisa alguma porque estar viciado desde a origem. Mas, no fundo, no faz mal. Como diz um nosso slogan, s vencido quem desiste de lutar. esta mxima a raiz do nosso optimismo fundamental. Porque contra tudo e contra todos, ns no deixaremos de lutar. Ns somos portanto vencedores. esse o nosso nome. Pela liberdade, pela democracia. Abaixo a tirania, morte opresso 43. Excluindo a componente potica da expresso, parece surgir nestas palavras um optimismo poltico, pelo menos nesta fase em que ainda vigorava uma certa esperana quanto abertura do regime, no se podendo daqui inferir, obviamente, um aparente contraste entre o pessimismo de
43 Obra potica de Ruy Belo. Vol. 3. Organizao e notas de Joaquim Manuel Magalhes e Maria Jorge Vilar de Figueiredo. Lisboa: Presena, [1984], p. 227.
O S V E N C I D O S D O C ATO L I C I S M O
419
Martins e o optimismo de Ruy Belo, o que indicia, quase necessariamente, dois enquadramentos distintos para o uso da expresso em anlise: um potico, literrio; outro, de atitude para com a vida, aqui numa revelao pblica e em ambiente pr-eleitoral. Contudo, a ligao que nos parece ser possvel entre os dois vencidismos, se assim podemos dizer, prende-se com o facto da utilizao do conceito de ps-catolicismo, que Antnio Matos Ferreira aplicou a Oliveira Martins 44, e que nos parece, pelo menos em parte, ser igualmente aplicvel figura do poeta Ruy Belo. Abordaremos adiante este aspecto, deixando, no entanto, a questo da ligao em aberto para outras perspectivas que venhamos a encontrar para comparar e qui interligar estes dois momentos, aparentemente nicos na histria portuguesa, em que se utiliza a expresso vencidos com um sentido, mais ou menos programtico, ainda que certamente mais elaborado do que simplesmente o sinnimo de derrotado. 4. Parece-nos aqui, sem qualquer dvida, que uma anlise profunda deste poema e das questes que a sua interpretao nos levanta, nos conduz ao cerne do problema da identidade catlica, em plena reconfigurao na dcada de 60 do sc. XX, ou no tivesse sido o Conclio uma espcie de reviso global do que o catolicismo e do que so, em ltima anlise, os catlicos, fiis da Igreja de Roma. O poema afirma a crena na vida e no homem. Que catolicismo este? De que catolicismo fala o sujeito potico? Esta questo da identidade fulcral. Procuraremos abord-la tendo em conta dois quadrantes que se inter-relacionam: a possibilidade e a operacionalidade do conceito de ps-catolicismo ou o que pode sobejar do catolicismo numa sociedade e religio ps-tradicional e o lugar da secularizao o contexto que apresentamos como hipoteticamente capaz de abarcar conceptualmente o problema dos Vencidos do Catolicismo. Antnio Matos Ferreira refere, relativamente a Oliveira Martins, que a religio surgia essencialmente como tica social, onde a dimenso ideolgica se encaminhava para uma certa religio secular, no positivista ou laicizadora enquanto forma de descristianizao ou dessacralizao, mas como recomposio da heteronomia na modernidade. Assim, a secularizao corresponderia secundarizao do dogma para a religio se entender
44 O pensamento de Oliveira Martins sobre religio. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2005. Tese complementar para provas de doutoramento em Histria Contempornea.
420
JORGE REVEZ
essencialmente como uma interioridade ascendente da humanidade, isto , autnoma do dogma, sem descurar, contudo, que a mudana da instituio religiosa era civilizacionalmente pertinente para a evoluo da conscincia humana e colectiva. () o seu pensamento apontava para o que se pode designar por um horizonte de ps-catolicismo. Mais do que pugnar por uma desconfessionalizao da sociedade, insistia na necessidade de se valorizar no plano tico uma heroicidade que, encarnando no indivduo [ou na palavra, se quisermos comparar com Ruy Belo], devia expressar o horizonte de plenitude social; isto , a sociedade seria regenerada pelo agir daqueles que consubstanciavam e corporizavam a Ideia, como processo de espiritualizao enquanto processo encaminhador de progresso 45. Esta longa citao justifica-se pela definio de um conceito ps-catolicismo que, sem qualquer abuso, nos parece passvel de ser aplicado situao de Ruy Belo e de alguns catlicos do seu tempo. De facto, o confronto que se verifica entre o catolicismo portugus e a modernidade na sua diversidade cultural, tecnolgica, mental, etc., sendo essa mesma modernidade personificada igualmente por vrias dinmicas internacionais do cristianismo e mesmo do Vaticano, pode estar na origem de um conjunto, mais ou menos complexo, de formas de recomposio do catolicismo, no qual, a questo tica representava um papel central. Era, no fundo, a valorizao de um humanismo tico que se colocava em dilogo com crentes, no crentes, comunistas, etc. Um humanismo atento ao problema da guerra, da descolonizao, da injustia social, na esteira de um catolicismo social, agora renovado, e colocado no plano da liberdade humana, como o mais fundamental dos direitos humanos. tambm o eclodir de um recentrar da questo religiosa no indivduo e na sua relao com uma divindade que muitos viam como morta a morte de Deus. Sobre isso, Alada Baptista escreve num nmero da revista Relmpago, de homenagem a Ruy Belo: Falou-se ento na morte de Deus. Na verdade, era necessrio que esse Deus morresse porque estava a tomar o lugar de um outro que se confundia com o mistrio da nossa liberdade que tambm a conscincia de enfrentar um mistrio que a essncia do novo Deus que se anunciava. () No fundo, a minha gerao teve que descobrir a sua liberdade e fazer a difcil passagem entre a segurana das regras e a insegurana da responsabilidade das suas decises 46. A conscincia poltica dos catlicos no pode ser assim meramente entendida como uma tomada de posio crtica. Importa aferir que novas
45 46
Ibidem, p. 66-67. Relmpago: revista de poesia. 4 (Abril de 1999) p. 55.
O S V E N C I D O S D O C ATO L I C I S M O
421
formas de espiritualidade e de corporizao religiosa sustentaram a afirmao dos sectores catlicos que se opuseram ao regime de Salazar e Caetano. H uma leitura do Conclio e da reflexo teolgica que o envolveu que foi feita por alguns catlicos portugueses e que, em certa medida, no foi acompanhada, por diversos e compreensveis motivos, pela hierarquia nacional. Compreendemos assim porque, por exemplo, na poesia de Ruy Belo no encontramos um discurso fcil, ao sabor do momento, mas uma reflexo profunda acerca do poeta como cidado construtor de palavras, da palavra nova 47, a que poderia construir um mundo novo. Estamos, sem dvida, perante uma nova formulao do catolicismo que importa desenvolver futuramente tendo em conta, entre outros aspectos, o contributo da sociologia religiosa. Por exemplo, Danile Hervieu-Lger 48 define as condies da emergncia moderna ou ps-moderna de uma religio ps-tradicional. Modificada de forma abrupta pela desinstitucionalizao decorrente do processo de secularizao, as novas formulaes da crena exigem uma nova dinmica da autoridade. A autora escreve mesmo que, historicamente, no cristianismo, emergiu para um primeiro plano a f pessoal, em esprito e em verdade, mais do que o respeito das observncias religiosas do judasmo e do islamismo. Conclui, ento que, confirmando em parte o que j dissemos, a desinstitucionalizao moderna do religioso o resultado da subjectivizao crist da experincia religiosa. No fundo, percebemos como esta questo dos Vencidos do catolicismo uma questo eclesiolgica que se debate no binmio liberdade/ /autoridade, uma busca em vo por uma realidade eclesial incapaz de os acolher. Bnard da Costa formula, no seu livro de memrias sobre este perodo, o problema da liberdade individual no interior da Igreja, cerne de diversos conflitos que conduziriam vrios catlicos ruptura: A prpria natureza institucional da Igreja no permitia nem jamais permitiria a liberdade com que sonhara antes. Quem a quisesse estava j fora da Igreja e fora da sistematizao dogmtica e moral que pertencer a ela necessariamente pressupe 49.
A novidade da palavra, a ideia de uma poesia nova ou a reinveno da palavra potica so ideias recorrentes ao longo do labor ensastico de Ruy Belo. Cfr. o volume de ensaios: Na senda da poesia, in Obra potica de Ruy Belo. Vol. 3. Organizao e notas de Joaquim Manuel Magalhes e Maria Jorge Vilar de Figueiredo. Lisboa: Presena, [1984], p. 9-214. 48 La religion pour mmoire. Paris: Cerf, 1993. 49 Joo Bnard da Costa Ns os Vencidos do Catolicismo. Coimbra: Edies Tenacitas, 2003, p. 89-90.
47
422
JORGE REVEZ
Se afastarmos um pouco o nosso olhar, compreendemos como o lugar da secularizao em toda esta problemtica central. No basta dizer que qualquer questo da contemporaneidade lida necessariamente com o problema da secularizao. Isso bvio. Contudo, aqui, a impossibilidade de esvaziar a f, ou seja, de ver no vencidismo, tal como Ruy Belo o enunciou, apenas uma crise de perda de f, obriga a considerarmos essa lenta e progressiva deslocao do religioso, para que possamos colocar com mais propriedade as questes essenciais. No fundo, as novas formulaes da crena que vemos emergir num quadro de desinstitucionalizao, sobretudo a questo tica que referimos como um patamar possvel do ps-catolicismo, transportam-nos para uma nova dimenso do lugar do religioso, agora num contexto de pluralismo concorrencial. Ruy Belo e a sua gerao vivem o impacto da acelerao que o processo de secularizao experimentou no ps-guerra. Como referido por Antnio Matos Ferreira: este debate questionava a pertinncia da experincia religiosa em face das mutaes vivenciais no quotidiano dos indivduos herdeiros de tradies crists, que surgem, no desajustadas, mas sobretudo irrelevantes para a sua realizao pessoal e social. De certo modo, a denncia de quadros morais e posturas existenciais que funcionariam como espartilhos, acabam por relativizar o lugar das instituies religiosas como referncia e instncias de enquadramento 50. De facto, podemos pensar como a emergncia de uma conscincia crtica por parte de alguns catlicos representou, talvez, uma possvel dimenso concorrencial para com as estruturas do catolicismo nacional, nomeadamente a sua representao hierrquica a todos os nveis, com excepes conhecidas (vide, por exemplo, o caso do Bispo do Porto, D. Antnio Ferreira Gomes). Assim, o vencidismo desses catlicos foi provavelmente, o resultado ou a expresso de um processo de deslocao cujo movimento global seria o da secularizao, em que, inconformados com a estrutura religiosa de que faziam parte e face s novas dimenses da experincia humana que vinham contactando, optaram pela ruptura. A sucesso do tempo aceleraria todo este processo, a que se juntarmos o influxo de um pensamento revolucionrio sistematizado nas correntes socialista e marxista, conduziria alguns catlicos que se posicionaram na oposio ao regime a tomadas de posio mais violentas na dcada de 70, ultrapassando uma certa noo
50 Secularizao. In AZEVEDO, Carlos Moreira, dir. Dicionrio de Histria Religiosa de Portugal. Vol. IV. Lisboa: Crculo de Leitores, 2001, p. 199.
O S V E N C I D O S D O C ATO L I C I S M O
423
de resistncia que teria vingado na dcada de 60, apesar dos golpes militares em que houve a colaborao de catlicos. A prpria questo da secularizao, aplicada sobre esta temtica, confirma a relevncia do debate eclesiolgico como a questo-chave da dcada de 60 ou, com audcia, um dos debates mais importantes da segunda metade do sculo XX. Pensar a Igreja na sua relao com o mundo moderno, ou imagin-la, como sugeriu Maria de Lourdes Pintassilgo 51, foi talvez a questo central no catolicismo do passado sculo, a ponto de um Conclio, que se pretendeu ecumnico, ser o centro dessa discusso. O prprio poema de Ruy Belo essencialmente uma questionao desse papel da organicidade do catolicismo, pelo poeta antevisto como o vencedor numa batalha a qual havia desistido de travar. 5. Em sntese, para alm das crises pessoais ou existenciais que possam ter existido, a questo centra-se no rompimento, no abandono da estrutura. E a novidade reside, em parte, a. Podemos perguntar quantos no tero sentido, no passado, o mesmo desajuste entre o catolicismo e o mundo em que ele intervm sem terem rompido? Quantos no pensaram o abandono da Igreja? Na dcada de 60, porm, esse gesto sofreu um incremento no seu grau de possibilidade, se assim podemos falar, dadas as mudanas estruturais e civilizacionais do prprio lugar do religioso. Neste sentido, podemos colocar como hipteses de trabalho as seguintes formulaes com que terminamos: ser que os Vencidos do catolicismo representam no s uma expresso de oposio catlica, pela quebra de confiana na Igreja enquanto estrutura hierrquica que convergia em grande medida com a Ditadura, mas sobretudo uma expresso de um processo mais vasto e profundo: a mutao religiosa das sociedades contemporneas, a secularizao, o debate com a modernidade? Ser o gesto destes homens e mulheres, o resultado, afinal, de uma ampla recomposio do catolicismo portugus: em retraco, pela ortodoxia, a guerra colonial, a ditadura, por um catolicismo anti-moderno; e em expanso, pelo dilogo com os no crentes, pelas opes polticas heterodoxas, por uma f crtica na qual emergem novas formas de espiritualidade onde se destaca a reformulao da relao com a Bblia e a exegese dos textos sagrados?
Imaginar a Igreja. Lisboa: Multinova, [1980].
51
424
JORGE REVEZ
Ser o poema de Ruy Belo uma expresso, mais do que poltica, eminentemente religiosa e como tal social, que define o desajuste entre o conjunto das mudanas que constituem a modernidade e a estrutura da Igreja? Estaremos perante um momento charneira nesse longo processo de dissoluo do mundo tradicional e da sua definio do religioso, em que emerge uma nova modernidade resultante da exploso e multiplicao infinita de instncias em concorrncia?
Você também pode gostar
- Discipulado e Preparação Ao Batismo - IGREJA BATISTA BETELDocumento17 páginasDiscipulado e Preparação Ao Batismo - IGREJA BATISTA BETELAbiru1902Ainda não há avaliações
- Avivamento e MissoesDocumento21 páginasAvivamento e MissoesCarina MoratoAinda não há avaliações
- Hector Othon - VOLUME I - Introdução A AstrologiaDocumento50 páginasHector Othon - VOLUME I - Introdução A AstrologiaChico Di Sissa100% (1)
- Manual de Orientações e Práticas para A Proteção Das Crianças Nas IgrejasDocumento70 páginasManual de Orientações e Práticas para A Proteção Das Crianças Nas IgrejasJacira CordeiroAinda não há avaliações
- Esquema Do Consilio Dos Deuses, Canto IDocumento5 páginasEsquema Do Consilio Dos Deuses, Canto IanamachanaAinda não há avaliações
- Falas Portugues B2guia Do ProfessorDocumento64 páginasFalas Portugues B2guia Do Professoranamachana100% (2)
- ER Aula 01Documento32 páginasER Aula 01Rodrigo Moreira de MatosAinda não há avaliações
- Mini Gramática Da Língua PortuguesaDocumento23 páginasMini Gramática Da Língua PortuguesaanamachanaAinda não há avaliações
- Slides - Drogas-2Documento25 páginasSlides - Drogas-2anamachanaAinda não há avaliações
- Alexandre O'neillDocumento16 páginasAlexandre O'neillanamachana100% (1)
- Romanos 5.1-11Documento3 páginasRomanos 5.1-11Talmay Rohrer Marques100% (1)
- Ficha de Trabalho de Camões Lírico Curso ProfissionalDocumento2 páginasFicha de Trabalho de Camões Lírico Curso Profissionalanamachana100% (1)
- Ficha Informativa Leitura de Imagem FixaDocumento6 páginasFicha Informativa Leitura de Imagem FixaanamachanaAinda não há avaliações
- Contos Exemplares de Sophia de Mello BreynerDocumento6 páginasContos Exemplares de Sophia de Mello Breyneranamachana100% (1)
- Poesia de Irene LisboaDocumento10 páginasPoesia de Irene LisboaanamachanaAinda não há avaliações
- A História Da Evolução Da LínguaDocumento5 páginasA História Da Evolução Da LínguaanamachanaAinda não há avaliações
- Oraçoes Coordenadas e SubordinadasDocumento3 páginasOraçoes Coordenadas e SubordinadasanamachanaAinda não há avaliações
- Chico Xavier - Livro 367 - Ano 1994 - Pássaros Humanos PDFDocumento34 páginasChico Xavier - Livro 367 - Ano 1994 - Pássaros Humanos PDFJurandir NunesAinda não há avaliações
- Qualidades de Um Obreiro AprovadoDocumento3 páginasQualidades de Um Obreiro AprovadoComunidade El ElyonAinda não há avaliações
- Curso 1 Módulo 1 FUNDAMENTOS DA FÉDocumento150 páginasCurso 1 Módulo 1 FUNDAMENTOS DA FÉJesusheocaminho100% (1)
- Unidade e Unanimidade Discipulado MeireDocumento5 páginasUnidade e Unanimidade Discipulado MeirewalfaiaAinda não há avaliações
- Últimas Palavras de Grandes HomensDocumento3 páginasÚltimas Palavras de Grandes HomensVandélio José da SilvaAinda não há avaliações
- 7 Afirmações de Jesus Sobre Si Mesmo.Documento2 páginas7 Afirmações de Jesus Sobre Si Mesmo.Aluísio NatanAinda não há avaliações
- A Importância Da Escola DominicalDocumento42 páginasA Importância Da Escola Dominicalkosejox935Ainda não há avaliações
- SMMA 2013 Livreto 5 11Documento7 páginasSMMA 2013 Livreto 5 11Michele TrindadeAinda não há avaliações
- EsmirnaDocumento5 páginasEsmirnaKarynne LadysllauAinda não há avaliações
- (Espiritismo) Emmanuel - Religião Dos Espíritos (Chico Xavier)Documento200 páginas(Espiritismo) Emmanuel - Religião Dos Espíritos (Chico Xavier)robertomalcanAinda não há avaliações
- RESUMO GALILEIA Modificada EditadaDocumento7 páginasRESUMO GALILEIA Modificada EditadaArmando AntunesAinda não há avaliações
- Sermão - Que FareiDocumento6 páginasSermão - Que FareiFILIPE ALVES DO NASCIMENTOAinda não há avaliações
- Oculto Revelado: A Origem Da QuedaDocumento9 páginasOculto Revelado: A Origem Da QuedaVictor senaAinda não há avaliações
- Aspectos Do Arrebatamento Da IgrejaDocumento6 páginasAspectos Do Arrebatamento Da IgrejaBENEDITO ROCHA LEALAinda não há avaliações
- A PALAVRA DE DEUS E A FORMAÇÃO DO CARÁTER CRISTÃO - Pb. Robespierre MachadoDocumento1 páginaA PALAVRA DE DEUS E A FORMAÇÃO DO CARÁTER CRISTÃO - Pb. Robespierre MachadoRobespierre MachadoAinda não há avaliações
- Trabalho 2 - Simbolos Do Ministerio Jovem-2Documento13 páginasTrabalho 2 - Simbolos Do Ministerio Jovem-2Manuel Francisco BinzeAinda não há avaliações
- Preciso MorrerDocumento2 páginasPreciso MorrerJoelson Jones BorgesAinda não há avaliações
- A PERSPECTIVA DOS MESTRES ASCENSIONADOS NAS LIÇÕES BÁSICAS DE UM CURSO EM MILAGRES-Joshua David SDocumento55 páginasA PERSPECTIVA DOS MESTRES ASCENSIONADOS NAS LIÇÕES BÁSICAS DE UM CURSO EM MILAGRES-Joshua David SLuciane Ines CamargoAinda não há avaliações
- A Tarefa de Ganhar AlmasDocumento5 páginasA Tarefa de Ganhar AlmasManoel GeraldoAinda não há avaliações
- Darana321969 PC 3Documento92 páginasDarana321969 PC 3Arnaldo OliveiraAinda não há avaliações
- Modelo Carta Celebracao 2023Documento3 páginasModelo Carta Celebracao 2023Matheus GarciaAinda não há avaliações
- Devocional Diário OficialDocumento25 páginasDevocional Diário Oficialdyegobp2100% (1)
- Livro Do KIKO Vozes Do CerradoDocumento89 páginasLivro Do KIKO Vozes Do CerradoJoaquim Teles de FariaAinda não há avaliações
- Navegai Conosco - 50 AnosDocumento8 páginasNavegai Conosco - 50 Anosmarianarodrigues505Ainda não há avaliações