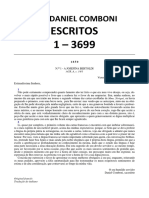Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
TUTIKIAN, Jane - Inquietos Olhares - A Construção Do Processo de Identidade Nacional Nas Obras de Lídia Jorge e Orlanda Amarílis
Enviado por
Pedro Marques0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
19 visualizações187 páginasTítulo original
TUTIKIAN, Jane - Inquietos olhares - A construção do processo de identidade nacional nas obras de lídia Jorge e Orlanda Amarílis
Direitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
19 visualizações187 páginasTUTIKIAN, Jane - Inquietos Olhares - A Construção Do Processo de Identidade Nacional Nas Obras de Lídia Jorge e Orlanda Amarílis
Enviado por
Pedro MarquesDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 187
Arquivo Upado por MuriloBauer - FileWarez
A construo do processo de identidade nacional nas
obras de Ldia Jorge e Orlanda Amarlis
Inquietos
lhares
O
Inquietos
lhares
O
Arquivo Upado por MuriloBauer - FileWarez
! / N | I U I | K | / N
\ e e | e a | e
! 7 7 7
A construo do processo de identidade nacional nas
obras de Ldia Jorge e Orlanda Amarlis
Inquietos
lhares
O
Inquietos
lhares
O
Arquivo Upado por MuriloBauer - FileWarez
1999, by autora
Tulikiun, 1uno
lnquiolos olhuros. u conslruuo do procosso do idonlidudo nu-
cionul nus obrus do Lidiu 1orgo o Crlundu Amurilis / 1uno Tulikiun.
- Suo Puulo. Arlo & Cinciu, T.
p. T8, 2T cm
lS8N. 85-8T27-0-
T. Amurilis, Crlundu, T23 - o inlorproluuo. 2. 1orgo, Lidiu -
Crilicu o inlorproluuo. 3. Liloruluru uricunu do oxprossuo por-
luguosu - Hislriu o crilicu. 4. Liloruluru compurudu luso-uricu-
nu. 5. Nucionulismo nu liloruluru. l. Tilulo. ll. 2 lilulo. ldonlidu-
do nucionul nus obrus do Lidiu 1orgo o Crlundu Amurilis.
CDD - 80.000
8.00
8.30
Coordenao Editorial
Henrique Villibor Flory
Editor e capa
Aroldo Jos Abreu Pinto
Editorao Eletrnica e Projeto Grfico
Rejane Rosa
Ilustrao de Capa
Xxxxxx xxxx
Reviso
Letizia Zini Antunes
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)
(Biblioteca de F.C.L. - Assis - UNESP)
Editora Arte & Cincia
Rua dos Franceses, 91 Bela Vista
So Paulo SP - CEP 01329-010
Tel/fax: (011) 253-0746 - (011) 288-2676
Na internet: http://www.arteciencia.com.br
ndice para catlogo sistemtico:
1. Literatura comparada: Estudo crtico 809.000
2. Literatura portuguesa: Sculo 20: Histria e crtica 869.090
3. Literatura portuguesa: Fico: Crtica e interpretao 869.309
Ti
Arquivo Upado por MuriloBauer - FileWarez
Ao Jos e Doralice,
meus pais.
Arquivo Upado por MuriloBauer - FileWarez
&
Somrio
INTRODUO ................................................................................ 9
1- VISES CONSTRUDAS ......................................................... 25
1.1 A revoluo e a terra trazidas ........................................... 25
1.2 O texto, o mito e o mito produzido ................................... 42
1.3 A sacralizao e a dessacralizao de vises ................ 56
2- IMAGENS INSULARES............................................................. 67
2.1 O passe e a senha ............................................................... 69
2.2 O riso e o espelho ............................................................... 80
2.3 As imagens cruzadas ...................................................... 103
3- DEVORAO DA CIDADE ................................................. 107
4- FRICA AMARELA: O EXERCCIO DO PODER........... 149
CONSIDERAES FINAIS:
REPRESENTAO E TRANSGRESSO.............................. 165
BIBLIOGRAFIA .......................................................................... 183
Arquivo Upado por MuriloBauer - FileWarez
ln|rodo5o
Dentre os problemas que mais tero marcado nossa
contemporaneidade esto as questes de identidade e de nacio-
nalidade e isso pelos acontecimentos das ltimas dcadas, tanto
do ponto de vista poltico quanto econmico e social: da queda
das barreiras econmicas no Ocidente capitalista do Leste Euro-
peu abertura chinesa ao capital estrangeiro; da queda das bar-
reiras poltico-ideolgicas tipificadas pelo muro de Berlim e da
articulao da Glasnost, exterminando o imprio sovitico, fa-
lncia das utopias, mundializao do capitalismo, acentuando
desigualdades, inferiorizaes e excluses. Alm disso, o pr-
prio interesse despertado pelas literaturas terceiro-mundistas no
primeiro mundo; as rupturas com os totalitarismos; os separa-
tismos; os racismos; as minorias tnicas; a liderana americana
na nova ordem mundial; as composies supranacionais como
o mercado comum; tudo converge para um novo perfil de fron-
teiras geogrficas, econmicas e ideolgicas.
Diante desse quadro, de transformao e complexidade
da ordem mundial, de que, evidentemente, no passa margem
Portugal, com a Revoluo de 25 de Abril e a queda do
Salazarismo, com a descolonizao e com o ingresso no Merca-
do Comum Europeu; e de que no passam margem as naes
emergentes
1
, frutos da descolonizao
2
, questes como nacio-
1
Ainda que a definio pases emergentes venha sendo usada, desde o incio da
dcada de 90, para designar naes que mais atraem investimentos estrangei-
ros, e ao mesmo tempo aceleram a modernizao da economia e melhoram
nalismo
3
, identidade e alteridade, na medida em que o Outro
tambm produtor da imagem do Mesmo, terminam ocupando
espao em textos nacionais dos mais diversos estatutos, ficcionais
ou no.
Se a linha mestra da literatura portuguesa, j estudada por
Cleonice Berardinelli (1994), no outra seno o nacionalismo,
o discurso laudatrio de outros tempos substitui-se,
contemporaneamente, pelo discurso crtico, antipico. Cum-
priu-se o mar e o Imprio se desfez. Senhor, falta cumprir-se
Portugal, afirmara Fernando Pessoa, na Mensagem (1972:57),
o que, hoje, se reatualiza.
Da mesma forma, o nacionalismo est presente, e tanto
mais ntido pela condio histrica nas literaturas emergentes
4
,
as africanas, a partir de suas premissas scio-histricas, com
uma reflexo prpria, que busca solues particulares, inclusive
nas abordagens estticas e histricas, no posicionamento contra
a poltica assimilacionista da metrpole, voltando-se para a
desalienao e a conscientizao, por meio de seus temas de
resistncia.
Temas esses que, antes de serem unicamente de reao
ao imperialismo, voltam-se para a emigrao, a antievaso, a ter-
ra..., uma vez que De cada peito contrito,/ De cada lgrima ou
grito,/ De cada gesto de dor,/ De todo o sangue ou suor/ Discre-
tamente nascia/ Uma nova Poesia, como cantou Aguinaldo Fon-
seca em Nova Poesia, de 1951, (1986: 16). No perodo ps-
os indicadores sociais, optamos por manter a definio literal para os pases
frutos da descolonizao e que buscam sua identidade cultural.
2
Refere-se ao processo pelo qual passa a ex-colnia, quando conquista sua
independncia poltica.
3
Tomamos, aqui, como o define Edward W. Said (1995: 276): restaurao da
comunidade, afirmao da identidade, surgimento de novas prticas culturais,
ou seja, dentro do pressuposto mesmo da Literatura Comparada que entende a
nao como no concluda, onde os mecanismos de incluso e excluso
aparecem como movimentos dialticos, quer dizer, no mais como uma enti-
dade plenamente formada.
4
formao de nacionalidades corresponde a formao de literaturas nacio-
nais.
colonial
5
, por sua vez, os temas deslocam-se para busca e pre-
servao das fontes da cultura popular e razes nacionais autn-
ticas.
Complexos, entretanto, evidenciam-se num olhar para
si e so produtores de determinados discursos na ordem da
relao com o Outro, e isso trao marcante na literatura portu-
guesa quando surge a relao com o estrangeiro, apesar de um
discurso de poder em relao s colnias/ ex-colnias e, nessas,
o complexo de colonizado. Negar a fora da Europa, no h
como, por tudo o que o eurocentrismo representou na ordem
mundial para as mais diferentes culturas e no essa a questo
que se impe. A questo ser Europa margem da Europa.
Negar a fora da metrpole, como metrpole, tambm no h
como. negar-se como povo, como sujeito-histrico para as-
sumir-se apenas como paciente de um processo. Por outro lado,
essas negaes se contradizem na produo de uma memria
histrica pela literatura. Mesmo na imposio do discurso auto-
ritrio, a literatura se prope com alternativas opostas: contra o
fixo e o codificado, com as plurissignificaes e o dialogismo;
memria, histria e fico se permeiam.
No obstante sua importncia para o sistema literrio de
seus pases de origem, pouco se conhece, no Brasil, sobre Ldia
Jorge, que ocupa lugar de destaque entre a gerao ps-74, e
Orlanda Amarlis, primeira escritora caboverdiana publicada em
livro. A importncia histrica de ambas as autoras fato ineg-
vel. Enquanto a primeira faz de seu texto um agente revelador da
terra, com suas idiossincrasias, sua cultura, seus mitos, suas
tradies motivadas pelas fontes nacionais, a segunda procura
recriar metafrica e metonimicamente a ptria e sua gente, numa
espcie de espelho contra a vida
6
para, mediante uma postura
crtica, desvendar valores da identidade nacional.
5
Segundo E. Said (1995:63), existe todo um movimento, uma literatura e uma
teoria de resistncia e de reao ao imprio, um esforo para se iniciar um
debate com o mundo metropolitano em p de igualdade, mostrando a diversi-
dade e a diferena do mundo no europeu, suas prioridades e histria.
6
Expresso usada por Ldia Jorge.
!
Orlanda Amarlis nasceu em Santa Catarina, na ilha de
Santiago, Cabo Verde, viveu seis anos na ndia e dois em Angola
e fixou-se em Lisboa, adquirindo a condio diasprica. Autora
de Cais-do-Sodr t Salamansa (1974), Ilhu dos pssaros (1983)
e A casa dos mastros (1989), iniciou sua carreira literria na re-
vista Certeza (1944), publicao de grande importncia na ativi-
dade cultural da poca e na literatura caboverdiana; viveu o im-
perialismo
7
e vive a descolonizao
8
, mas, em especial, vive a
condio de caboverdianidade, a ligao ntima com a terra, sua
gente, seus valores culturais. Sua grande personagem o
caboverdiano, no arquiplago e em Lisboa sobretudo, raramente
aparecendo em lugares outros, a revelar o que Maria Lcia
Lepecki define como um deitar razes em duas memrias liter-
rias e em duas vivncias da linguagem (1989).
Se os seus contos so caboverdianos, a sua sensibilidade,
ou melhor, a sua arte universal e nada fica a dever s escrito-
ras que, no continente, vo escrevendo o que de melhor a litera-
tura portuguesa tem apresentado nos ltimos vinte anos. (Men-
dona, Fernando. Apud Cardoso, 1988)
Ldia Jorge nasceu em Boliqueime, Algarve, pertencendo
gerao literria da repensagem portuguesa
9
, da reflexo do
percurso revolucionrio que culminou com o 25 de Abril, da
resistncia ao fascismo e s perverses de seus resqucios na
democracia, do alerta da necessidade da memria, dos valores e
das tradies. o que deixa entrever em O dia dos prodgios
7
O imperialismo, comenta Said (1995: 40,42), designa a prtica, a teoria e as
atitudes de um centro metropolitano dominante governando um territrio
distante, mas alerta para o fato de que nem o imperialismo nem o colonialismo
so um simples ato de acumulao e aquisio. Ambos so sustentados e
talvez impelidos por potentes formaes ideolgicas que incluem a noo de
que certos territrios e povos precisam e imploram pela dominao.
8
O que Edward Said coloca como uma complexssima batalha sobre o rumo de
diferentes destinos polticos, diferentes histrias e geografias.(1995:277).
9
Expresso usada por Maria de Lourdes Simes.
"
(1980), O cais das merendas (1982), Notcia da cidade silvestre
(1984), A costa dos murmrios (1988) e O Jardim sem limites
(1995). A ltima dona, obra de 1992, bem como o conto A
instrumentalina, do mesmo ano, abrigam uma outra vertente na
obra de Ldia Jorge, vinculada, prioritariamente, interioridade,
motivo pelo qual no constituem nosso corpus.
Considerada pela crtica em geral como uma das mais
importantes revelaes da fico portuguesa das ltimas dca-
das, no dizer de Joo Gaspar Simes o maior prodgio das le-
tras ptrias neste ltimo quartel de sculo (apud Silva, 1995),
sua grande personagem o homem portugus com suas razes e
seu ser na vida, numa narrativa marcada pela universalidade.
O conjunto de obras de ambas as autoras revela o texto
que, resguardado o poder encantatrio, se inscreve no real pro-
jetando-se na direo do documento e da reflexo. Esse o nos-
so corpus.
Inquietos olhares pretende desvendar a forma de olhar de
Ldia Jorge e de Orlanda Amarlis voltada para a sua terra, res-
pectivamente Portugal e Cabo Verde, no momento em que ambas
as naes procuram a identidade. A primeira, pela crise instaura-
da no perodo ps-revolucionrio e na descolonizao; a segun-
da, pela destruio da identidade que o colonialismo trouxe con-
sigo e a tentativa de resgate no tempo ps-colonial, a partida a
que o arquiplago obriga e o querer saber-se quem em terras
outras.
a questo da identidade que norteia a obra das duas
autoras, entendida em seus cdigos fundamentais, da etnicidade
e razo de ser nacionalidade: uma lngua, um territrio, uma
arte, uma literatura, uma independncia poltica e seus sistemas
poltico-econmicos, uma tradio com seu folclore e seus mi-
tos, em duas realidades culturais distintas, a mtica e a racional.
Em ambos os casos, recusa-se o sentimento nacionalista,
gerado para servir s formas totalitrias, e busca-se a conscin-
cia nacionalista, com a liberdade que lhe prpria; recusa-se o
#
esteretipo da unidade autoritariamente construdo, para o des-
vendar das diferenas na busca de uma pretendida identidade,
seja resgatando-se uma suposta tradio, seja construindo-se uma
nova.
Tanto Ldia Jorge quanto Orlanda Amarlis tomam-na, na
montagem literria de um discurso nacionalista prprio, com suas
particularidades, em dupla face: a identidade para o Outro, esta-
belecendo determinadas relaes culturais, e a identidade para o
Prprio, produtora da auto-interpretao e do autoconhecimen-
to, atravs de olhares observadores, analticos e atuantes, capa-
zes de adentrar no viver individual e coletivo. Nos dois casos,
desaparece o componente demaggico dos nacionalismos pro-
duzidos pelo Estado Novo e pelo Colonialismo, gerador de um
marco de unidade na diversidade, para uma concepo inversa: a
diversidade na unidade, o que, ento, se examina. A transforma-
o das ideologias e a queda de modelos, tanto quanto a
insularidade, explicam a necessidade dessa definio cultural.
Os procedimentos metodolgicos utilizados so os da Li-
teratura Comparada, entendida no como mera comparao en-
tre textos, mas como campo de estudo dos processos de relao
entre textos, literaturas e culturas, criando-se no decorrer do
trabalho um sistema relacional para, por meio dele, proceder
leitura de fatos histrico-culturais determinantes da busca da iden-
tidade. Ocupa-nos, tambm, como essa busca se manifesta na
composio do discurso literrio, na medida em que entendemos
o contexto como categoria essencial e determinante da existn-
cia do texto. Temos uma histria temporalmente comum em re-
alidades scio-culturais diferenciadas; temos culturas originri-
as diversas: a racional e a mtica; temos um momento comum,
de ruptura: a Revoluo e a descolonizao que a segue; e te-
mos, em conseqncia, uma mesma busca, a da identidade, por
caminhos dessemelhantes: de operaes cognitivas, sociais e his-
tricas prprias. E esses so os elementos que enformam nosso
sistema relacional, possibilitando re-leituras nacionais: histrias
muitas vezes obscurecidas pelos debates polticos e ideolgicos
$
na reafirmao da conscincia nacional. quando o presente
retoma um passado, prximo ou distante, real e mtico, buscan-
do recuperar certos valores autctones de razes especficas,
capazes de clarificar a conscincia ou identidade nacional, iden-
tidades distintas, com particularidades diferenciadoras e espec-
ficas, mas no fechadas em si. Em outras palavras, o Outro
como partcipe da reflexo sobre a questo nacional, tanto do
ponto de vista interno quanto externo.
Ao historiarem a Literatura Comparada, em Que Litera-
tura Comparada?, Brunel, Pichois e Rousseau apontam a traje-
tria de 150 anos que, iniciada de uma feio francesa (Villemain,
1838), adquire uma fisionomia universal, creditando sua popula-
ridade ao fato de que no constitui uma tcnica aplicada a um
domnio preciso e restrito. Ampla e variada, reflete um estado de
esprito feito de curiosidade, de gosto pela sntese, de abertura a
todo o fenmeno literrio, quaisquer que sejam seu tempo e seu
lugar(1990: 16). Em tese, a definio da literatura comparada
no tem sido problema, o problema se instaura com relao ao
mtodo e mesmo ao campo de investigao. A bipartio: escola
francesa, bero da Literatura Comparada como disciplina, e ame-
ricana, que questiona o outro modelo procurando ampliar obje-
to, princpios e aproximaes metodolgicas, pode ser paradigma
dessa afirmao.
Leyla Perrone-Moiss avana nessa retomada do percur-
so de 150 anos, em Flores na escrivaninha, identificando certos
ranos do sc. XIX, quando a prtica da disciplina adquiriu o
feitio que tem hoje, no que diz respeito sua abrangncia,
indefinio do seu campo e do prprio ecletismo metodolgico.
A, a autora examina as propostas tericas que, em nosso scu-
lo, modificam os pressupostos e os objetivos comparatistas e
enfatiza que, ao estudar as relaes entre diferentes literaturas
nacionais, autores e obras, a literatura comparada vem mostran-
do que a literatura se produz num constante dilogo de textos
por retomada, emprstimos e trocas. Para isso contribuem Mikhail
Bakhtin que, na anlise do romance do sc. XIX, detectou um
%
novo trao discursivo, o dialogismo, um dilogo interno obra e
desta com outras obras; Julia Kristeva que, ao retomar Bakhtin,
concebeu a intertextualidade, cujo objeto est na investigao
do processo de produo do texto por apropriao, absoro e
integrao de outros textos; Iuri Tynianov, que prope uma revi-
so no conceito de tradio ao acrescentar noo de influncia
a de convergncia pela existncia de certas condies literrias
em determinado momento histrico; e mesmo Jorge Lus Borges
que, por sua vez, subverte o conceito de tradio a partir de uma
teoria da leitura, condicionando aquela a esta como uma questo
de recepo e iluminando como essa recepo se transforma a
cada momento histrico. A tradio sujeita-se reviso, colo-
cando-se, assim, em permanente mutao. Perrone trabalha, ain-
da, com Oswald de Andrade e a antropofagia cultural, coinci-
dente, em alguns aspectos, com as teorias de I. Tynianov e J.L.
Borges, e aponta para o desejo do Outro, a abertura e a
receptividade para o alheio, desembocando na devorao crtica
ou na absoro da alteridade.
Assim, segundo a autora, se a literatura comparada busca
detectar analogias, parentescos e influncias, as teorias de Bakhtin,
Kristeva, Tynianov, Borges e Oswald levam a privilegiar a busca
das diferenas sobre as analogias, o estudo das transformaes
sobre o dos parentescos, a anlise das absores e das integraes
como uma superao de influncias.
E este o ponto que nos interessa, uma vez que o carter
relacional sob essas perspectivas que vai amparar a observa-
o dos mecanismos por meio dos quais um discurso literrio se
constri em torno da busca de uma conscincia identitria sem a
preocupao de estabelecer reflexos/espelhos. O objetivo a cons-
tituio de problemas reais, particulares, com caractersticas po-
lticas, histricas, sociais e culturais prprias em que, entretan-
to, no se anula a presena do Outro.
Assim, com premissas desse comparatismo renovado, es-
tudamos a obra de Ldia Jorge e de Orlanda Amarlis, no com o
intuito de valorao de uma cultura sobre a outra ou de uma
&
autora sobre a outra, mas utilizando como estratgia de compa-
rao a articulao do discurso histrico com o discurso liter-
rio no agenciamento de uma conscincia identitria, sem, entre-
tanto, convert-la em um propsito temtico, estilstico e ideo-
lgico privilegiado pela histria imediata.
Tomamos como conceitos direcionadores desse processo
de desvendamento: intertextualidade, dialogismo, polifonia, carna-
val, mito, fantstico, imagem. Busquemos articul-los entre si.
Quanto ao primeiro conceito, no inovamos ao aproximar
as concepes de Bakhtin e Kristeva, at porque na esteira
daquele e de Tynianov que Kristeva chega noo de
intertextualidade, termo cunhado por ela em 1969, para designar
o processo de produo do texto literrio, dentro da concepo
bakhtiniana do texto como um mosaico, uma construo
caleidoscpica e polifnica. Assim, se para Kristeva todo o texto
termina sendo resultado da absoro e transformao de outro
texto, Bakhtin, ao relacionar o texto literrio sociedade e his-
tria como dois percursos que se cruzam na narrativa, conside-
ra-os tambm como textos no processo dialgico. A concepo
de intertextualidade (verso do dialogismo, segundo J. Kristeva)
nos permite ver todo o texto como em dilogo com outro texto e
com o leitor, e nessa perspectiva, tambm, que visualizamos a
intertextualidade na anlise da obra de Ldia Jorge e de Orlanda
Amarlis.
por esse caminho que o mtodo dialgico o dialogismo
oportuniza a discusso do texto em mltiplas possibilidades de
leitura, na medida em que o texto acolhe plos antitticos, textu-
ais e extratextuais, em estruturas ambivalentes, pela insero do
texto na histria e vice-versa.
Segundo a concepo bakhtiniana, o dialogismo instau-
rado pela carnavalizao, por meio do tom, a menipia, por meio
dos contrastes, e a polifonia, por meio da voz, revelando-se, por
tais processos, como discurso intertextual. Desses processos,
trabalhamos com dois, a polifonia e o carnaval.
'
A construo polifnica caracteriza-se pelo
entrecruzamento de vozes diversas e plenivalentes que se neu-
tralizam dentro do jogo dialgico. E esse entrecruzamento tam-
bm um cruzamento discursivo e, por isso mesmo, ideolgico
por meio de pontos de vista diferenciados. O texto escuta as
vozes da histria e no mais as re-presenta como uma unidade,
mas como jogo de confrontaes, afirma Tania Carvalhal (1986:
48). Da por que o discurso, segundo a viso polifnica de M.
Bakhtin, deixa de ser um discurso voltado para si mesmo e sua
realidade imediata para ser um discurso mais amplo: sobre o
mundo.
, entretanto, no carnaval que a ideologia e a contra-ide-
ologia se entrecruzam quando a realidade ou infra-estrutura de-
termina o signo que reflete e refrata a verdade oficial, estabelecida
pela ideologia dominante, deformando-a pela ambigidade, pela
combinao da negao e da afirmao, pela ironia, pela pardia,
pelo riso srio a que alude Kristeva. (1974: 79). pela refra-
o que se promove o olhar distanciado, uma vez que as normas
que determinam a vida extracarnavalesca ficam revogadas du-
rante o carnaval e no mundo paralelo crtico, desmitificador,
dessacralizador, que a se cria.
Ambos os aspectos do dialogismo, a polifonia e o carna-
val, convergem para a verdade, que, segundo o pensamento
bakhtiniano, no nasce nem se encontra na cabea de um nico
homem, mas nasce entre os homens, que juntos a procuram no
processo de sua comunicao dialgica, o que chama de ver-
dade materializada.
Ora, quanto mais suscetvel ao processo de
complexificao for determinada sociedade, maior ser a busca
da verdade, seja a verdade existencial, vinculada polifonia, seja
a verdade crua, vinculada ao carnaval. E, nesse sentido, o carna-
val prope sua simplificao na leitura que dela faz. Desapare-
cem as relaes estveis, so rompidos os conceitos vinculados
tradio, o sagrado se profaniza, instaura-se a atomizao do
real e a dialtica entre a interioridade e a exterioridade, a
racionalidade se fragiliza na sustentao das ideologias
10
, o ceti-
cismo e a iconoclastia se alojam destruindo mitos, dessacralizando
espaos e idias e incorporando, pelo carnaval, a
remitologizao que tem marcado a literatura do sculo. E este
o caminho a ser investigado em Ldia Jorge.
Um caminho contrrio quele o da sociedade arcaica,
presa tradio, em que subsistem massas de populao num
estado primitivo, capazes de garantir a permanncia dos mitos
de seus antepassados, conservando seus rituais religiosos onde
predomina o animismo: o da cultura mtica, representada no
olhar de Orlanda Amarlis.
Em ambas as sociedades, a necessidade do mito, associada
busca da verdade, se faz presente. Seja ligado busca de conhe-
cimento e da explicao do no racionalmente explicvel, trans-
cendendo qualquer real ou qualquer humano e surgindo na alma
coletiva de forma espontnea e primitiva; seja pela remitologizao,
que assume carter particular quando, segundo Mielietinski (1987),
alguns escritores o transformam numa espcie de organizao ar-
tstica da matria e meio de expresso de certos princpios psico-
lgicos imutveis e de modelos nacionais estveis de cultura. H,
a, a mitologizao da prosa do quotidiano.
Na mitologia compreendida tradicionalmente, trabalhamos
com Bronislaw Malinowski e Ernest Cassirer, na adoo de uma
posio ritualstica em que a religio primitiva parte de uma intui-
o que no se consegue distanciar do mgico, atribuindo ao
mito uma natureza simblico-metafrica, e sua funo pragm-
tica est voltada para a afirmao da solidariedade natural e soci-
al. Essa concepo da unidade interior mito/rito, da relao e da
funo prtica comum apontada por B. Malinowski. Ernest
Cassirer, assumindo-a, aponta como particularidade do pensa-
mento mitolgico a impossibilidade de distinguir o real do ideal,
em que, particularizadas ainda mais, vida e morte no se
10
Entendendo a ideologia como Althusser (1980) a define: uma representao
da relao imaginria dos indivduos com suas condies reais de existncia,
cujos sentidos so fixados historicamente em uma direo determinada.
antagonizam, o nascimento retorno, e a existncia e a
inexistncia no so mais do que duas partes homogneas da
prpria existncia. Nega-se, portanto, a anlise lgica do pensa-
mento mitolgico, at porque a fantasia mtica resulta da combi-
nao da espiritualizao do cosmo com a materializao dos
contedos espirituais. A alma, com as mesmas caractersticas
que o corpo, faz-se sujeito da conscincia tica. Para Malinowski,
o mito codifica o pensamento, refora a moral, prope certas
regras de comportamento, ao mesmo tempo em que sanciona os
ritos, justificando as instituies sociais.
Com relao ao mito, recorremos, ainda, a Claude Lvi-
Strauss, cujo enfoque estrutural dos mitos j se intua nas con-
cepes simblicas de E. Cassirer. Para Lvi-Strauss, a mitolo-
gia antes de tudo o campo de operaes lgicas, mas lgicas
inconscientes. Vista essencialmente em sua forma metafrica e,
portanto, simblica, a mitologia lana mo de um conjunto finito
de meios disponveis que exercem a funo ora de material ora
de instrumento e so submetidos a uma reorganizao peridica.
Por outro lado, Lvi-Strauss considera que o mito se
manifesta na Histria e, mais do que isso, que o fato histrico
participa da natureza do mito.
Os povos primitivos (...) consagram portanto suas especu-
laes mticas explicando a ordem do mundo. Ns explicamos a
ordem do mundo pela cincia. Mas, para explicar a ns mes-
mos nossa histria, para fabric-la, procedemos como os gran-
des mitos. (1970:142)
a perspectiva adotada, principalmente, para a obra de
Orlanda Amarlis.
Na remitologizao, trabalhamos com E. M. Mielietinski,
que se baseia no enfoque proclamado pela filosofia da vida, com
Nietzsche e Bergson; na viso anti-historicista, com R. Wagner;
na psicanlise, com Freud e Jung e as novas teorias etnolgicas.
O conhecimento ntimo das modernas teorias etnolgicas
(nos limites da aproximao entre etnologia e literatura, ca-
racterstica do sculo XX) pelos escritores no podia impedir
que as suas concepes artsticas, mesmo experimentando
ntida influncia das teorias cientficas, refletissem a situao
histrico-cultural de crise da sociedade ocidental dos primei-
ros decnios do nosso sculo em propores bem maiores que
as caractersticas da prpria mitologia primitiva. (Mielietinski,
1987: 03)
Esse quadro, evidentemente, no se esgota no incio do
sculo, mas perdura em autores como Ldia Jorge, quando o
mito se apresenta como uma certa oposio histria. Entretan-
to, reconhece Mielietinski (op. cit.), a nfase do mitologismo do
sc. XX no est apenas no desnudamento da degenerao e da
deformidade do real, est tambm na revelao de certos princ-
pios imutveis e eternos, suscitados pelas mudanas histricas.
A, sua concepo no prescinde do humor e da ironia, do car-
naval bakhtiniano.
Em qualquer dos dois enfoques, o mito torna-se, portan-
to, elemento de composio e revelao do carter, do pensa-
mento, do temperamento, da identidade, enfim, do povo que o
produziu. Da mesma forma, em qualquer dos dois enfoques, sua
produo se dar, na literatura, pelo fantstico, seja por perten-
cer a uma realidade fantstica ento referimos o realismo m-
gico, a cultura mtica seja por pertencer a uma realidade raci-
onal, que adquire a fora da representao do conjunto pelo indi-
vidual, pelo onirismo ento referimos o realismo fantstico, a
cultura racional.
Convm salientar, aqui, que o conceito de realismo mgi-
co, tal como o entendemos, est intimamente vinculado ao con-
ceito de real maravilhoso, empregado por Alejo Carpentier, em-
bora em A literatura do maravilhoso o escritor rejeite essa apro-
ximao ao resgatar a figura de Franz Roth, crtico de arte ale-
mo que criou a expresso por volta de 1924 ou 1925.
!
Na verdade o que Franz Roth chama de realismo simples-
mente uma pintura expressionista, mas apenas aquelas mani-
festaes da pintura expressionista alheias a uma inteno po-
ltica concreta(...) uma pintura onde formas reais combina-
vam-se de maneira no condizente com a realidade cotidiana.
(1987: 123).
Em contrapartida, o real maravilhoso, que eu defendo e que
o nosso real maravilhoso, aquele que encontramos em estado
bruto, latente, onipresente em tudo o que latino-americano.
Aqui o inslito cotidiano, sempre foi cotidiano. (Idem: 125).
Assim, trabalhamos com o inslito apresentado pela his-
tria caboverdiana dentro da prpria concepo de A. Carpentier:
(...) o maravilhoso comea a s-lo de maneira inequvoca
quando surge de uma inesperada alterao da realidade (o
milagre), de uma revelao privilegiada da realidade, de uma
iluminao no habitual ou particularmente favorecedora das
desconhecidas riquezas da realidade, de uma ampliao das
escalas e categorias da realidade, percebidas com especial in-
tensidade em virtude de uma exaltao do esprito que o conduz
a um modo de estado-limite. (1987: 140)
Tomado dessa forma, o realismo mgico, a exemplo do
maravilhoso, pressupe uma f.
Por outro lado, recorremos, para a definio de realismo
fantstico, quela que Carpentier adota para realismo mgico,
ou seja: onde as formas reais combinavam-se de maneira no
condizente com a realidade cotidiana.
Associa-se a esses conceitos, ao tratarmos da identidade,
o de imagem, em que trabalhamos, sobretudo, com Daniel-Henry
Pageaux e a concepo de que, (...) limage littraire est
envisage comme un ensemble dides sur ltranger prises dans
un processus de littrarisation mais aussi de socialisation, en-
"
tendendo que seu estudo leva determinao das linhas de fora
que regem a cultura e que limaginaire social (...) est marqu
par une profonde bipolarit: identit vs altrit, laltrit tant
envisage comme terme oppos et complmentaire par rapport
lidentit (1989: 135), na medida em que Je regarde lAutre;
mais limage de lAutre vhicule aussi une certaine image de
moi-mme (1989: 137).
Expostas as justificativas, identificado o corpus, elucidados
conceitos e posies, torna-se necessrio apontar para as ques-
tes/hipteses que norteiam o trabalho e que poderiam ser assim
sintetizadas:
a. o discurso literrio estabelece um tipo especfico de
relao com o discurso histrico e social em culturas de nature-
za diversa;
b. o colonialismo representou a destruio da identidade
ou transformou-se, contrariando a si prprio, em elemento pro-
dutor da conscincia nacional;
c. os elementos que propiciam o resgate ou a reconstru-
o da identidade no discurso literrio trazem marcas dos regi-
mes totalitrios e coloniais responsveis pelo emperramento da
conscincia nacional;
d. o mito desempenha importante papel na preservao de
uma tradio mutvel, no reforo e resgate da conscincia
identitria ou nacional;
e. a imagem do Outro e do Mesmo produz significao no
constructo/reviso do processo identitrio;
f. a transgresso dos cdigos produz a negao da
aculturao e a representao carnavalesca do adentramento ao
multiculturalismo.
Considerando essas questes, pretendemos chegar, por
mediante a anlise da obra de Ldia Jorge e de Orlanda Amarlis,
construo do texto literrio, em sua diversidade, a partir de
quem se representa. E nelas se representa o portugus e o
caboverdiano.
$
VISES CONSTRUDAS
A rovolo5o o u |orru |ruzidus
O panorama mais geral da histria portuguesa desta
segunda metade do sculo aponta, com a Gerao de 50, para
a transgresso dos cnones da narrativa. Rompe-se com a litera-
tura de cunho notadamente regionalista e evolui-se da crnica
social para o enfoque individual e particularizante, em que se
denuncia a estagnao do cotidiano e se busca desvendar a
estratificao do espao scio-poltico-econmico. , ento, a
efetiva conscincia da crise que a arte portuguesa, com caracte-
rsticas prprias, busca expressar, abrindo novas perspectivas
em outros campos temticos e possibilitando ao romance adqui-
rir dimenses que perpassam a valorizao do institucionalizado.
Deixa de existir o domnio absoluto do enredo e insinua-
se, j na dcada de 60, a grande tendncia do romance portugu-
s contemporneo: a narrativa, como obra, torna-se seu prprio
objeto, a histria passa a ser a histria do romance, quando aban-
dona o narrador tradicional, e o dota de nova identidade, quando
confere personagem outra definio de seu estatuto, quando
redimensiona o jogo espao-temporal, quando enfim desmitifica,
remitificando a prpria escrita.
Mas esse mesmo panorama revela uma ruptura profunda
O
1
%
em 1974. Inaugura-se, em Portugal, um tempo marcado por
profundas transformaes histrico-poltico-sociais que se re-
fletem em todas as manifestaes artsticas e, de forma muito
particular, na literatura.
a instaurao de um novo valor trazido pelo 25 de Abril,
o qual precisa ser redimensionado, na medida em que traz consi-
go a desmitificao do poder salazarista e de suas imagens
idealizantes, cujo pressuposto doutrinrio ficara claro no discur-
so do autoritarismo:
No se discute Deus. No se discute a famlia. No se discu-
te a Ptria. No se discute a Autoridade. [...] Deus quem nos
manda respeitar os superiores e obedecer s Autoridades.
(Salazar. Apud Rosado, 1994: 3)
O aprendizado do elevado valor da obedincia, marcado
pelo direcionamento ideolgico e pelo cerceamento das liberda-
des, durou 48 anos, de 1926 a 1974, quando euforia imediata
ao desmoronamento do fascismo sucede a perplexidade de uma
revoluo trazida, parafraseando Manuel Ferreira, feita apenas
pelos militares, sem a participao popular. Em 1978, comenta-
va Eduardo Loureno :
A contra-imagem... que a revoluo de Abril e suas seqelas
entronizaram, ainda no possui um grau de assentimento coleti-
vo e um perfil que permitam consider-los como estveis. (1978:
61)
Foi sem transio que o povo portugus passou da
conscincia de um sistema semitotalitrio ou mesmo totalitrio,
para a boa conscincia revolucionria, afirma quatro anos mais
tarde (1982: 63), sem mesmo se interrogar. Da a necessidade
de reviso do exerccio e da marcha democrtica, at porque,
ainda segundo Loureno (1984), as revolues so, via de regra,
&
grandes consumidoras do imaginrio ativo e, nesse sentido, a
revoluo portuguesa foi muito mais uma revoluo sonhada do
que vivida.
Se houve ou no o que se pode chamar, no sentido literal,
de revoluo, como sublevao, utilizao da fora, se Marcelo
Caetano foi derrubado no 25 de Abril ou se o salazarismo caiu
por haver se esgotado em si mesmo, certo que a descontinuidade
e a mudana da tradio cultural e, ainda, a recomposio das
camadas sociais, e assim em qualquer processo histrico, so
foras geradoras de contrastes scio-polticos que encerram sen-
timentos igualmente contraditrios, sobretudo a insegurana re-
presentada pela crise de parmetros. Assim:
Buscando encontrar-se, a gerao dessa poca vive esse
momento histrico e posteriormente faz do mesmo a sua leitu-
ra. Procura entender o sentido da liberdade anunciada, definir
seus caminhos, refletir sobre o acontecido. Ento, mitos so
derrubados, segredos desvendados, alertando, assim, a sua
idia sobre a ptria e sobre si mesma. (Simes, 1992: 659)
A mudana provoca a derrocada de antigos referenciais j
incorporados a conceitos direcionadores no sentido existencial.
H, ento, o desamparo diante da queda das hierarquias.
A produo literria, ento, se faz reflexo na tentativa de
apreender a transformao das instituies fundamentais do Es-
tado, a ruptura com a tradio cultural e a prpria recomposio
das camadas sociais. , como entende Maria de Lourdes Netto
Simes, um modo de repensagem da histria portuguesa em re-
viso de sua existncia (1992: 660). E a se inclui no apenas o
processo revolucionrio como um todo, como mudana, mas
tambm a experincia portuguesa de colonizao na frica.
Estamos, portanto, diante do estabelecimento do dilogo
crtico, pela permeao intertextual, entre o texto histrico e o
texto ficcional, onde o segundo termina analisando o primeiro e,
'
mais do que isso, propondo a reviso da Histria, sob novos
olhos.
Em seu artigo Literatura comparada, intertexto e antro-
pofagia (1990: 91-99), Leyla Perrone-Moiss destaca, com muita
propriedade, Bakhtin com o novo trao discursivo detectado em
romances como o de Dostoivski, o dialogismo, a presena de
uma pluralidade de vozes, o dilogo interno na obra e um dilogo
da obra com outras obras e o fato de, a partir da proposta
bakhtiniana, Jlia Kristeva conceber a intertextualidade.
Importam tais colocaes porque, retomando a concep-
o de Bakhtin, a sociedade e a histria tambm constituem tex-
tos na medida em que, ao relacionar o texto ficcional aos dois
ltimos, temos caminhos que se agregam na narrativa. E se,
como observa Tatiana Bubnova (1987), a obra de Bakthin traz
consigo o que poderia ser classificado como dificuldade: a no
apresentao de uma metodologia fixa e fechada, tambm ver-
dade que, como mtodo, oportuniza a discusso do texto em
infinitas leituras.
As estruturas ambivalentes das narrativas terminam abar-
cando plos antitticos. O discurso tipificado pelo estatuto da
palavra. Dessa forma, rompe com a cultura oficial e se instaura
pela presena metonmica ou pela associao metafrica. A, a
ambivalncia se realiza pela insero da histria no texto ao mes-
mo tempo em que o texto se insere na histria numa interseco
e permutao permanentes de tal forma que a palavra adquire, na
narrativa, uma tripla funcionalidade: emisso, recepo e con-
texto, em dilogo permanente.
, justamente, na linhagem dos temas ps-revolucionri-
os que Ldia Jorge estria na fico, em 1979. Em seus quatro
primeiros romances publicados O dia dos prodgios, (1979); O
cais das merendas, (1982); Notcias da Cidade Silvestre, (1984)
e A costa dos murmrios (1988), o tema central est ligado
Revoluo de Abril, seja na face demonstrada na guerra colonial
(A costa dos murmrios), seja na busca da identidade cultural
portuguesa (O cais das merendas).
!
Ns todos estvamos convencidos de que havia um pen-
samento filosfico e poltico tolhido pelo fascismo antes da Re-
voluo. E o drama que, quando se tirou o telhado casa, viu-
se que estava vazia, afirma a autora em entrevista a Cremilda
Medina (1983: 487). E esse vazio a que alude situa-se na regio
fronteiria entre o sonho e a ao, uma vez que, comenta, ainda,
temos, por um lado, a total fora para sonhar (somos verdadei-
ros megalmanos da aventura) e, por outro lado, a debilidade
para agir (Idem: 489).
Esse vazio a que se refere Ldia Jorge aquele de toda
uma gerao que viveu a revoluo mtica e a construiu sua
obra. Se alguns j haviam separado de seu mito, como Verglio
Ferreira, ou haviam glosado at a vertigem, como Augusto
Abelaira, limitando-se outros, como Fernando Namora, a cami-
nhar, calmamente ao lado, (Loureno,1984: 8), certo que, no
momento imediato, a Revoluo significou, para eles, silncio.
O mesmo silncio que Maria Alzira Seixo (1984) atribui, tam-
bm, no apenas ao impedimento da publicao, por meio da
censura, mas ao condicionamento e sensao da inutilidade de
produzir, como fatores inibidores da criao.
Assim, colocando em primeiro plano as figuras que a cer-
cam, os portugueses, Ldia Jorge busca, pela fico, romper
com essa fronteira, preencher o vazio pela possibilidade de
autodescoberta de uma nao capaz de revisar ficcionalmente
sua histria, desmitificar a prpria esperana messinica, to
peculiar ao carter portugus, tanto mais por fazer parte, dife-
rentemente dos autores citados, da prpria gerao literria da
Revoluo:
Aquela que polariza o lan vital e imaginante do seu tempo
prprio, aquela para quem esse tempo histria aberta, luz
indecisa na rua, ocasio de descoberta ou reajustamento do
seu ser, do seu viver, escolher, amar e morrer (ao menos
ficcionalmente). (Loureno,1984:13).
!
Em O dia dos prodgios, seu livro de estria, Ldia Jorge,
ainda que situada margem do exerccio da metaliguagem ou do
metarromance, recusa o confinamento s velhas formas literri-
as.
Entendendo que os temas eternos entram em seus li-
vros como flashes e no como obras inteiras, liberta-se para
assumir uma posio, diante da histria e da literatura, geradora
de uma imagem que reproduz o mundo submetendo-o organi-
zao prpria, onde a avaliao do real se faz por sua ruptura,
luz do prprio processo ficcional.
Seu estilo evoca o estilo cinematogrfico: as personagens
falam embora no predomine o dilogo tradicional e produ-
zem imagens de uma histria portuguesa revolvida por mitos. E,
como quer Albrs,
La signification de cette squence, le jugement moral que
lon peut porter sur elle, les rflxions quelle suscite sont remises
au lecteur. (1962: 343 (B)
De imediato a autora esboa a sua teoria da transfigurao:
Uma personagem levantou-se e disse: Isto uma histria.
Por isso podem ficar tranqilos nos seus postos. A todos atri-
buirei os eventos previstos sem que sobrevenha nada de grave.
Outro ainda disse. E falamos todos ao mesmo tempo. E eu
disse. Seria bom para que ficasse bem claro o desentendimento.
Mas ser mais eloqente. Para os que crem nas palavras.
Que se entenda o que cada um diz. Entrem devagar. Enquanto
um pensa, fala e se move, aguardem os outros a sua vez. O
breve tempo de uma demonstrao. (Jorge, 1990: 9)
A autonomia das personagens est posta desde o princ-
pio, elas assumem o papel primordial. por elas que a histria
!
se cria, no mais pelo autor ou narrador que passa a ser, unica-
mente, uma espcie de ordenador dos acontecimentos e das fa-
las.
Se na escritura tradicional a literatura tem por intento con-
fundir-se com a vida ou mesmo substitu-la, aqui fica claro que
a histria apenas isto: uma histria. Uma inveno que se cons-
tri pela construo de seres ficcionais sem que se perca a rela-
o com que ensina Vargas Llosa: dizer que
la novela es una representacin verbal de la realidad es
una definicin muy vasta (...) porque la realidad podemos
abordala de muchas maneras, desde puntos de vista absoluta-
mente antagnicos. (1968: 3)
Assim, a personagem escapa ao controle do criador, esta-
belecendo-se entre eles uma outra dimenso de dilogo, em que
o equilbrio da tcnica expressiva se d no plano da inventividade.
Como ela desconhece o seu destino, desfaz-se a iluso de que
esse destino pertena ao autor ou narrador; afinal, tudo se passa
no breve tempo de uma demonstrao (Jorge, op.cit.: 9), em
que a personagem apenas reveste-se de ator.
A liberdade concedida ao ser ficcional , portanto, anteri-
or histria; e porque a histria apenas uma demonstrao,
sobretudo para os que crem nas palavras, abre-se a possibilida-
de da representao, no da sntese humana, mas de determina-
dos tipos conformados, que terminam mascarando as foras so-
ciais.
Desaparece a noo tradicional da personagem, o round
character de Forster. quando se instaura a ruptura com a
lgica literria, para que, da, emerja um cosmos prprio, no
qual as pessoas de fico constituem a energia imaginativa. Ain-
da assim, remetem sempre, antes de qualquer evento, para um
determinado horizonte de valores, para uma determinada ideolo-
gia (Aguiar e Silva, 1969: 662).
! !
Agora, a personagem, papel a ser desempenhado pela per-
sonagem, toma a palavra, tornando-se porta-voz de idias scio-
culturais de um mundo fechado. Deixa de existir a interveno,
a explicao ou a anlise da autora, uma vez que o pressuposto
terico a lhe guiar a criao j foi colocado. A romancista cala.
A personagem fala. E, ao utilizar a frmula e disse, a autora
permite que a personagem se revele de modo completo. a
transparncia do disfarce a que alude Antonio Candido. A hist-
ria ento se faz. Ela fictcia. Ela a representao de uma outra
histria: a histria de uma revoluo trazida.
A Revoluo aqui assim como a cobra que vem revolver a
vida do livro-chave do novo olhar romanesco post-Abril, exi-
gncia de fala contraposta a um silncio que era menos o de
uma determinada situao histrica castradora que o
imemorial, de todos e de ningum. (Loureno, 1984:14, 15)
Ldia Jorge cria o fantstico para revelar o real. Ou, em
outras palavras, alegoriza o prprio imaginrio nacional, recons-
truindo a tenso e a perplexidade histricas pelo volume alegri-
co de sua representao.
A histria de Cabo Verde, por sua vez, nos remete, em sua
origem, a uma variedade tnica e a uma sociedade multirracial
relacionada por uma mistura lingstica de que se tomou o crioulo
como lngua oficial e que nos remete, no presente, estagnao
imposta pela insularidade e por caractersticas geofsicas, expres-
sa na sobrevivncia de uma sociedade regida por valores arcaicos.
Veja-se que, quando os portugueses chegaram ao arqui-
plago, em 1456, as ilhas no eram habitadas, e, por elas esta-
rem situadas entre a metrpole e as colnias do continente, os
navios negreiros a deixavam contingentes de negros insubmissos
ou doentes, do que resultou a variedade tnica e o caldeamento
lingstico. A a origem da noo bem definida por Manuel
Ferreira de terra trazida.
! "
Por outro lado, a grande caracterstica climtica do arqui-
plago a irregularidade da chuva. Em perodo de seca, a popu-
lao dizimada e os sobreviventes emigram para fugir da fome
e da sede, numa grande semelhana com o circunstancialismo
humano do Nordeste brasileiro, onde a temporalidade se assenta
na mesma base: seca, ilhamento, fora opressiva da tradio.
Essa soma de fatores formadores de Cabo Verde, resultando na
mestiagem em que o mulato tem nfase especial, provoca a
condio apontada pelos socilogos como inferiorizante. Gilber-
to Freyre, ao comentar esse fenmeno, equivocadamente defi-
niu os envolvidos como uma gente que querendo ser europia se
exclui da frica. Ou seja, uma gente situada entre um regionalis-
mo europeu ou africano.
Afirma Pierre Rivas que:
La miscgnation fait du Cap-Vert, au sein des societs croles,
un cas dacculturation exceptionnelle un dcentrement initial et
fondateur (Jean Benoist), dcentrement entre crole et portugais,
entre deux registres de ltre, du monde et des pratiques
discursives, deux ples (mtaphorique et mtonymique). (1985:
294)
Se a terra trazida no terra de origem, no terra herda-
da nem tampouco conquistada, seu povo termina assumindo ca-
ractersticas bem distintas daquelas das demais ex-colnias de
expresso portuguesa na frica: a terra do temperamento da
amorabilidade
1
, de um outro tipo de escravido que ultrapassa a
relao colonizador/colonizado para sucumbir fora
escravizadora da prpria terra. onde o sonho passa a fora
revitalizadora, dentro do princpio de Manuel Lopes de que o
homem est ligado a fatores exteriores, os sonhos, s razes
prticas. onde se instaura o grande dilema caboverdiano: o ter
1
O temperamento amorvel, pacfico e solidrio que caracteriza o ilhu.
Salvato Trigo definiu assim o caboverdiano: o grogue, a morna e a cabra.
! #
de partir querendo ficar e o querer partir tendo de ficar, porque
se estabelece entre a terra e o homem uma perfeita simbiose,
sem possibilidade de ciso.
Esse dilema faz parte da estrutura mental do arquiplago.
Como quer Pierre Rivas (1985), a insularidade e o
desenraizamento constituem duas estruturas antagnicas da iden-
tidade caboverdiana, lle, elle-mme apparat comme un abandon
physique du continent maternel, (Idem: 292), da a transforma-
o desta insularidade geogrfica em insularidade existencial.
a geografia da ansiedade, como refere Natlia Correia, (apud
Rivas, 1985: 292), exlio e priso e constri no mar um cami-
nho mtico de uma vida idealizada. a ilha, circunstncia imedi-
ata, e uma ptria situe dans un ailleurs mythique, na definio
de Yannick Tarrieu (apud Rivas, idem, ibidem):
Les littratures alines trouvent leurs paradigmes culturels
ailleurs quen elles-mmes. Lidentification au Pre, dans ces
littratures ex-colonises, est celle du Pre colonisateur Blanc;
cest pourquoi, souligne R. Bastide, ces littratures sont
marques au dpart du stigmate de limitation. (Idem, ibidem)
O estigma da imitao, numa trajetria que aproxima da
identificao com o Brasil, sobretudo o Nordeste e seu
circunstancialismo promovida pela Claridade, ou o prprio
enraizamento voluntrio ao Continente Africano, por meio da
proposta da Certeza e da viso que enceta por influncia do Neo-
Realismo portugus, no anula, entretanto, da evoluo da expe-
rincia esttica caboverdiana, aquelas mesmas experincias, apon-
tadas por Pires Laranjeira (1992). So as marcas de
contemporaneidade e mesmo de vanguarda da literatura deste
sculo: o materialismo dialtico e histrico, aliado busca de
universalidade do Neo-Realismo da Certeza, fundamental na re-
velao da alienao histrica imposta pela prpria situao colo-
nial; a questo lingstica, onde se rejeita o cnone centralizador
! $
e descaracterizador da cultura padro, possibilitando-se a convi-
vncia de lnguas e falares, lintimit dune langue maternelle
quils habitent et lextriorit dune langue trangre quils
utilisent, segundo J. Haowelett (apud Rivas, 1985: 294), e, por
ltimo, a psicanlise, quando tipos conformados so surpreen-
didos por uma vontade de realizao pessoal, buscando romper
com a hierarquizao histrico-cultural mediante o
aprofundamento do drama social e psicolgico. Na narrativa
caboverdiana, predominantemente, um drama ligado terra.
a partir de 1936 que a literatura realizada em Cabo Verde
comea a caminhar em direo a uma organizao sistmica, com
o movimento decisivo que foi a Claridade, a partir da revista ho-
mnima criada por Jorge Barbosa, Baltasar Lopes e Manuel Lopes.
O movimento propunha o deslocamento de uma viso europia
para o passado do arquiplago, ao mesmo tempo em que recusava
a tradio portuguesa para assumir a modernidade, sobretudo a
realista, a busca das razes antropolgicas e culturais, manifestada
no gosto pela etnografia e filologia do crioulo e, ainda, pela valori-
zao da criatividade popular, apontando a descoberta de um es-
pao marcado pela insularidade, pela fome, pela seca, pelo mar
feito priso e caminho mtico de uma cultura essencialmente mtica.
Guiados pelo Modernismo brasileiro, baseados na semelhana com
o Nordeste, encararam a independncia poltica brasileira como
factor de relevo para a assuno de uma literatura prpria, nacio-
nal, e reconheceram a necessidade do regionalismo como primei-
ra condio para fugir ditadura literria da metrpole europia
(Pires Laranjeira, 1992: 23).
Entretanto, os homens que ousaram contrariar a tradi-
o clssica, escolstica e colonial da cultura caboverdiana eram
intelectuais puros, no sentido de que no intentavam qualquer
movimentao poltica, pois no se lhes conheciam filiaes prag-
mticas ou sectrias, comenta Pires Laranjeira (1992: 22).
O conceito regional da Claridade substitudo pelo con-
ceito nacional da gerao que a seguiu: a da Certeza, de 1944,
que, sob a influncia do Neo-Realismo portugus, do romance
! %
regionalista nordestino brasileiro e da introduo de uma viso
dialtica marxista, adentra por uma concepo nova do coletivo.
Nela, a Segunda Grande Guerra tem papel de grande importn-
cia, no mais o restrito, no mais o tribal, mas a insero de
Cabo Verde, como nacionalidade, dentro do contexto africano.
H a percepo de que o destino histrico e poltico do arquip-
lago est intimamente vinculado ao contexto africano.
Orlanda Amarlis pertenceu Certeza e, trazendo consigo
aquele iderio, vem-se inserir, em 1974, com Cais- do- Sodr t
Salamansa, entre os escritores da dispora caboverdiana.
Entenda-se, aqui, por dispora, no unicamente um senti-
mento obsessivo de terralongismo a expresso usada por
Manuel Ferreira, (1977: 110) e retomada por Pires Laranjeira,
(1992: 15) ou de retorno, com um cunho fortemente
messinico, mas tambm uma literatura de diferentes recursos
estilsticos, inclusive pela aproximao dos modelos europeus, o
que, em Orlanda Amarlis, transforma-se em marca de originali-
dade, sem anular seu valor social.
A par dos modelos euro-ocidentais, Orlanda Amarlis pro-
cede reconstruo da linguagem, num processo de reatualizao,
pesquisa e inveno permanente, estabelecendo a ligao entre o
que Manuel Ferreira define como uma linguagem
caboverdianizada das mais bem conseguidas (1977: 69), e a
cultura local, entre o aprofundamento psicolgico e o meio soci-
al em que as personagens se inserem. Assim, a linguagem utili-
zada por Orlanda est intimamente vinculada a um olhar perma-
nentemente voltado para o arquiplago.
Se a recriao de foras espontneas, coletivas e incons-
cientes s se pode expressar por uma linguagem prpria, para
que deixe transparecer o temperamento e o carter de um povo,
em Orlanda Amarlis, essa linguagem a da especificidade
caboverdiana, marcada pelo uso simultneo do portugus e do
crioulo. um crioulo prprio, para o qual contriburam o portu-
gus e vrias lnguas africanas, aquelas rudimentares, julgadas,
! &
pelos colonizadores, uma sucesso de grunhidos, no verdadei-
ras lnguas, denominadas, pejorativamente, de dialetos, meios
inadequados para a expresso dos mais simples pensamentos
(Petter, 1993: 3).
Hoje, o crioulo pode ser considerado uma lngua novilatina,
a lngua caboverdiana, e possui um 97% (Ferreira, 1977: 62) do
seu lxico proveniente do portugus,
e naturalmente a reapropriao (com tudo quanto a pala-
vra implica: reelaborao fontica, morfolgica, sinttica e se-
mntica) continuada de palavras (sintagmas) portuguesas por
parte do dialeto crioulo que so depois devolvidas, j modifica-
das, escrita em portugus. Eis assim o portugus
caboverdianizado onde, inclusive, por vezes, o eixo sintagmtico
alterado.
Esclarea-se, aqui, que as lnguas europias tm, hoje, na
frica, uso restrito a certos domnios como a educao, a pol-
tica e a rea comercial.
Por outro lado, a associao lngua importada, o
bilingismo revelador da ambigidade cultural gerada por um
processo histrico que deixou suas marcas, alm do no reco-
nhecimento do estatuto literrio da lngua da terra, justificado
tanto pela fragilidade da organizao terica das lnguas
vernculas quanto pela prpria tradio da oralidade africana. A
palavra falada, essencialmente dialgica, reveladora da
essencialidade comunitria. Assim, o intercmbio direto da pala-
vra serve de garantia manuteno dos valores civilizatrios, os
mesmos valores civilizatrios que Orlanda Amarlis busca trans-
por para a literatura com a insero do crioulo e de uma lingua-
gem caboverdianizada, isto , um portugus alimentado pela in-
terferncia permanente do crioulo falado, da quotidianeidade do
viver ntimo.
Na verdade, como bem observa Pierre Rivas em seu es-
! '
tudo Insularit et dracinement dans la posie capverdienne
(1985), a passagem da sociedade comunitria, da estrutura oral
escrita, significa o primeiro grande desenraizamento, at por-
que norteia o princpio de que o idioma do colonizador identi-
ficado com o poder, ao passo que a lngua do colonizado no
tem prestgio nem eficcia.
Le dracinement symbolique- viol et violence - est
arrachement lImaginaire Maternel; il est, pour parler comme
Derrida, passage de la phone la graphe, de la fusion tellurique
et maternelle, limaginaire lacanien, la Rgle, la Loi, le
Symbolique, lInstance de la Lettre, le Nom du Pre;
dracinement de la phusis Mre et Nature et irruption du discours
et de linsularit. [...] Lidentification au Pre, dans ces
littratures ex-colonises, est celle du Pre colonisateur Blanc...
(1985: 292)
Isso explica por que, com exceo de alguns casos raros
de uso literrio do crioulo, notadamente em escritores de Cabo
Verde, entre os quais, por exemplo, Lus Romano se salienta
com a experincia de Lzimparim-negrume, de 1973, que rene
poesias e contos em crioulo de Santo Anto acompanhados da
traduo livre em portugus, no esforo de transformao do
crioulo, efetivamente, em lngua literria, as literaturas emergen-
tes das ex-colnias portuguesas da frica so, predominante-
mente, escritas em portugus. Mantm-se, portanto, o paradigma
cultural externo, no colonizador branco.
Mesmo em Cabo Verde, h a preferncia pela utilizao
do portugus. Entretanto nos dilogos que envolvem persona-
gens populares, a interferncia do crioulo inegvel e constante.
A literatura ser, durante a vigncia cruel do colonialismo mo-
derno, afirma Pires Laranjeira (1985:125), o nico lugar de
reunio da oralidade e da escrita... Muito contribui para isso a
prpria produo popular, sobretudo a morna, grande expresso
artstica do homem crioulo, alm das finanons ou canes de
"
batuque e dos curcutians, as canes de desafios. Tudo isso
representa um verdadeiro substrato dialetal popular que estimu-
laria a produo literria.
A se favorece a convivncia de falares, o hibridismo, os
neologismos, a inveno permanente que, em Orlanda Amarlis,
constitui um trao de singularidade, ainda que no dentro da rup-
tura e da inveno que marcou, por exemplo, Guimares Rosa
ou Luandino Vieira. A construo do seu texto, embora integra-
do Certeza, que praticamente desconhece o dialeto na sua bus-
ca de universalidade, voltada para a fonte inesgotvel de recur-
sos estilsticos em que se configura o prprio crioulo. H, por
isso, uma espcie de reapropriao do lastro dialetal de grande
rigor e efeito sugestivo imagtico, em que o real, os gestos, as
falas, o quotidiano, a anlise social e psicolgica emergem no
desvendamento do espao e das sensibilidades das gentes de Cabo
Verde de que, entre outras, a narrativa Lusa, filha de Nica, de
Cais-do-Sodr t Salamansa, pode bem ser paradigma.
Do ponto de vista ideolgico, a produo literria em cri-
oulo ou, melhor dizendo, com o uso do crioulo, passa pela fase
lrica, s vezes portadora de uma conotao social, e pela fase
marcadamente ideolgica, de protesto e de inveno poltica. O
texto amariliano medeia as duas fases ao trazer consigo a
essencialidade, o temperamento e o carter de um povo marca-
do pela amoralibilidade e pela nostalgia, a nostalgia de quem
parte, a tristeza de quem fica.
O espao literrio que ocupa a obra de Orlanda Amarlis
um espao repartido entre So Vicente e Lisboa e surge como eixo
fundamental na medida em que, tambm escrava da terra, no
sentido anteriormente referido, transita entre um certo desencanto
ou nostalgia do exlio, entre a sensao de estranhamento e o olhar
voltado para a terra natal, com seu sofrimento, sua fome, seu
ilhamento e seus mitos. E a, ao enveredar pela relao com Cabo
Verde e suas razes, penetra, no raro, no realismo mgico. por
onde nos coloca diante de comportamentos nos quais se verifica
o surto original de uma atitude espiritual, como sugere Gerd
"
Bornheim (1961: 47). Integrado o homem inicialmente no seio
que o gerou, suas potencialidades espirituais desabrocham, de-
sabrocham sua caboverdianidade, sua africanidade, a natureza
tribal, a associao ao cosmos. o que nos mostram os contos
de Cais- do- Sodr t Salamansa (1974), Ilhu dos pssaros (1982)
e A casa dos mastros (1989), que fazem, hoje, de Orlanda Amarlis
uma das mais importantes escritoras dos cinco pases africanos
de lngua portuguesa.
Assim, a revoluo e a terra trazidas so dessemelhanas
que terminam em confluncia atravs de vises que precisam
ser redefinidas a partir do seu prprio processo histrico. o
que fazem os textos ficcionais de Ldia Jorge e Orlanda Amarlis
com sua construo voltada para a redescoberta das fontes do
mito, onde o regional se projeta no fantstico.
Esclarea-se, aqui, que o fantstico traz consigo duas pos-
sibilidades de viso: ou ele tido como categoria esttica que
define a relao da obra com a realidade representada ou tido
como uma tendncia do ponto de vista da histria literria.
Importam essas ponderaes porque, na verdade, diante
de Orlanda Amarlis, e uma cultura mtica, e de Ldia Jorge, e a
cultura racional miticamente representada, situamo-nos em ambas
as possibilidades.
No primeiro caso, a literatura fantstica, que tem como
vertentes o realismo mgico e o realismo fantstico, em geral
representa a realidade por meio de elementos fictcios que no
representam o comum da experincia cotidiana, mas que podem
ser tomados simblica ou alegoricamente. E aqui que se coloca
Ldia Jorge, com o seu O dia dos prodgios.
No segundo, por sua vez, estamos falando do realismo
mgico como uma tendncia literria que apareceu nas literatu-
ras latino-americanas na segunda metade do sc. XX, sobretudo
na fico do meio rural, como uma expresso da vitalidade da
cultura popular, que aproveitada na criao literria com a fina-
lidade de definir a identidade nacional contra as influncias euro-
"
pias e norte-americanas. Os elementos fantsticos utilizados,
aqui, procedem de mitos, fbulas, lendas, entre outros, de ori-
gem ndigena, africana ou popular, em geral. comum que o
seu aspecto sobrenatural seja tomado como natural, porque, para
os habitantes indgenas da Amrica e para os africanos, toda a
realidade circundante preenchida por qualidades mgicas, em
que se estabelece a unidade entre o real e o fantstico. O realis-
mo mgico, ento, termina expressando a relao de toda a cul-
tura com a sociedade. Aqui se insere, obviamente, a obra de
Orlanda Amarlis e, aqui, a fonte de Ldia Jorge, na literatura sul-
americana, notadamente, no tratamento que dispensa ao tempo,
na atmosfera fabular, na pluralizao dos lugares do discurso, o
que permite a ocorrncia paralela de temas e intrigas, na recusa
ao dilogo direto e, fundamentalmente, na dimenso fantstica
ligada ao tratamento dispensado aos mitos.
A que, segundo a escritora, o continente sul-americano d
banho e mostra que o grande romance de fabulao no mor-
reu. Houve j quem comentasse que Ldia Jorge lhe segue o
rastro. Fico contente com a semelhana, porque no final das
contas isso refora minhas posies quanto ao romance. Pro-
va-me a evidncia de que o gnero est vivo. E tenho a certeza
de que, se no tivesse lido Garcia Marques ou Vargas Llosa,
escreveria da mesma maneira.(Medina, 1983: 486)
Assim, a exagerao da experincia cotidiana, provocada
pela imaginao mtica, ou o mito como forma superior da nar-
rao fantstica, tomada em suas duas vertentes, funcionam
como revelador de verdades essenciais onde se reconhecem, de
um lado os conflitos reais e naturais e, de outro, a crena em
foras que ultrapassam as possibilidades racionais humanas. So
as foras sociais e as foras csmicas.
Nesse sentido, em ambas as escritoras, h o revolver de
razes, o registro lingstico popular, o neologismo e o hibridismo
para expressar um velho universo ficcionalmente novo e nico,
" !
de leis prprias.
Orlanda Amarlis parte de uma cultura essencialmente
mtica sufocada pela questo histrica do colonialismo e da opres-
so civilizatria aliada ao drama da terra; Ldia Jorge, ao contr-
rio, parte de uma cultura europia, racional, para recriar a cultu-
ra local. Apesar da diferena de caminhos, em ambas se l um
projeto de reafirmao de identidade.
1.2 |ox|o, o mi|o o o mi|o prodozido
Se o mito e o fato estabelecem entre si uma correspon-
dncia, na medida em que se expressam mutuamente, tambm
se pode afirmar que tanto o pensamento cria o mito, quanto o
mito representa noes mentais, quando anima, define ou defor-
ma objetos reais. onde se instaura, na literatura, o corte na
literatura realista, permitindo a entrada do elemento fantstico
definido pela ruptura com as ligaes convencionais e lgicas
que regem o real ou pela representao da realidade por meio de
elementos fictcios que no correspondem experincia comum.
Ldia Jorge mitologiza a prosa quotidiana.
Como quer Forster em Aspects of novel, O dia dos prod-
gios conta uma histria composta pelos valores da vida: uma
vida simples. Incorpora a potica do cotidiano de uma vila do
Algarve, sendo, tambm, uma histria de amor de um Macrio
aluado espera de Carminha, filha de pai incgnito, gerada
no batistrio, que, por sua vez, espera por um forasteiro que
venha busc-la.
Vm dois, o soldado, que morre de acidente de arma, e o
sargento, que traz consigo os requintes de crueldade da guerra
colonial. Mas s Macrio promete faz-la rainha.
Tudo se passa em Vilamaninhos, aldeia simples e isolada,
com seus habitantes tipicamente interioranos.
Entretanto, O dia dos prodgios mais do que isso. Os
" "
acontecimentos, as histrias individuais so pretextos para re-
flexes outras que sero dadas por situaes inslitas.
O cenrio abarca o comportamento mtico de uma socie-
dade velha, onde a povoao vai ficando um ovo emurchecido,
que fede, gorado, e no gera(Jorge,1990: 18), tornando-se um
espao fechado:
Que o crculo sempre um crculo de terra e ar. Como o
redondel dum copo virado, atrs do ser da pessoa. Por cima os
astros, por baixo o p e as pedras, e o mesmo redondo atrs,
ele no meio. Ah prisioneiro. Quem uma vez no saiu de
Vilamaninhos no conheceu nem conhecer a realidade da ter-
ra. (Idem: 35)
Desaparece a noo de cronologia porque o tempo tam-
bm se recompe num crculo fechado, num direcionamento
sempre inverso o futuro o presente a andar lentamente para
trs (Idem: 188) , adquirindo carter ritualstico, de onde,
pelas falas coletivas, emerge a tradio. a simultaneidade, des-
tacada por Lvi-Strauss, de diacronia e sincronia.
Coincidindo com a Revoluo dos Cravos e marcando
um corte vertical no equilbrio da vida amorfa, uma cobra foge
voando, como uma luz que transforma temores em imagens ra-
cionalmente pouco ntidas:
A cobra fez duas roscas volta da cana, saiu dela, e voan-
do por cima dos nossos chapus e dos nossos lenos, desapa-
receu no ar. Voou no ar. No ar como se fosse uma avezinha de
pena. Oh famlia. Digam a verdade. Como se fosse uma avezinha
de pena. Ningum me deixe mentir. Digam se no viram a cobra
alevantar-se no cu, abrir umas asas de escamas, espelhadas e
furtacores. Digam a verdade. Abriu as asas, e as escamas da
barriga pareciam um fole de navalhas. (Idem: 23)
" #
Alguma coisa muda. Todos ficam diferentes. Estabelece-
se a ciso entre o antes e o agora, e o agora no melhor porque
revolvem-se culpas e comportamentos ancestrais, e tudo torna-
se aviso e pressentimento. Enquanto o presente se esvazia, j
ningum trabalha espera de um futuro carregado de significa-
o.
Acredita-se que os soldados da Revoluo, verdadeiros
operadores de milagres, possam explicar o fenmeno da cobra,
decifrar os sinais, mas eles no tm a resposta. Esses
inauguradores de futuro, os salvadores, portadores da liberdade,
da justia e de uma conscincia que os habitantes de Vilamaninhos
no possuem, apenas contentam-se porque nessa terra ainda se
gosta de milagres. J comea a ser raro...(Idem: 185).
Se os soldados vieram ensinar os novos valores, no
foram compreendidos, at porque a compreenso do presente
s se faz como parte de um processo cujas razes esto na expe-
rincia humana vivida coletivamente, verdadeira matriz potencial
de futuro.
Quer dizer, em O dia dos prodgios, a autora liberta-se
da racionalidade europia e portuguesa para criar uma realida-
de inslita e ambgua, numa aldeia simples e isolada. Evoca, na
prpria reconstruo lingstica e na vivncia cultural, as razes
portuguesas, revolvendo seus mitos, adensando-os pelo fan-
tstico.
Ldia Jorge recria a cultura local tendo como elemento
histrico a ligar os referenciais espao-temporais a Revoluo
dos Cravos, at porque o mito, como representao do imagin-
rio coletivo, e o fato so uma e a mesma coisa vista de maneira
diversa, j que o primeiro corporifica o segundo.
Justamente esse revolver de razes, por meio da constru-
o ficcional voltada para as fontes do mito, em que o regional
se projeta, mais o registro popular, com a presena do neologis-
mo, do arcaico e do moderno, expressam um universo novo, de
leis prprias.
" $
A histria centrada volta de um ncleo fantstico, ale-
grico e simblico prope a dissociao do real com base na
associao de idias. O contorno das coisas termina adquirindo
dimenses irreais como a vassalidade e a libertao para o
mundo premonitrio, de Branca; como a ausncia das fronteiras
de vida e morte de Jos Jorge; como a composio de Esperana
como matriz geradora; como a personificao da fora do
matriarcado em Jesuna Palha, etc. , mas so essas dimenses
que guardam as significaes ocultas e fundamentais para o seu
entendimento.
Coletivo e primitivo, o mito, que traz consigo o valor de
uma realidade intrnseca, deixa transparecer o temperamento e o
carter do povo de Vilamaninhos. Ele reflete, como um espelho,
o pensamento espontneo.
Porque aqui se uma cobra salta dizem todos que voa. E
ficam embasbacados de queixo levantado, olhando a pontinha
das chamins. Mas se um carro aparece cheio de soldados,
falando da mudana das coisas, olham para o cho desiludi-
dos. E dizem. Mudana? S porque os indivduos, apesar de
fardados, tm boca e cu como os demais. E Jesuna Palha disse.
A gente? E o cantoneiro disse. Sim vocs. Vocs queriam asas,
mantos, luzes, chuvas de maravilhas e outras coisas semelhan-
tes. (Idem: 205)
Nesse sentido, a cobra , ao mesmo tempo, fruto da ad-
mirao e do medo gerados pelo instinto do conhecimento e,
tambm, a representao da imaginao e das impresses dos
sentidos e, ainda, o pressentimento correspondente a um deter-
minado perodo da histria poltica e social portuguesa. A Revo-
luo em Lisboa o que d sentido a todos os sinais vindos do
cu.
A presena metafrica da cobra assegura-se no drago
vermelho que Branca borda interminavelmente.
" %
Essa mutao, como bem observa Mongelli (1991: 133),
remonta Bblia, onde a serpente, que leva Eva desobedincia,
pertence ao mesmo esprito do drago apocalptico, identificado
a Satans e s foras do mal. Mongelli traa o esboo que
corresponde a uma viso arquetpica da cobra-drago: o forma-
to de estrela, de Vilamaninhos, semelhante que guiou os pasto-
res a Cristo e em cujo centro est a casa de Jos Jorge Jnior,
ltimo descendente do fundador da vila que, encontrado num
cesto e alimentado por leite de cabra h cem anos, enfrentou o
soldado emissrio de um rei espoliador, o mesmo Jorge cujos
filhos partiram e o dcimo-segundo nasceu morto; a libertao
de Branca do jugo do marido, com a concluso do bordado e a
aquisio da caracterstica premonitria; a obsesso por limpeza
da Carminha Rosa e sua filha Carminha Parda, como busca de
resgate da culpa original; o papel de Jesuna Palha, lder, em
busca de indcios e sinais e de explicaes para o ocorrido; a
ao de Macrio, terceiro noivo da Carminha, poeta e cantador,
capaz de ter um sentimento transcendente, superior ao estigma
do pecado.
Ldia Jorge recorre em O dia dos prodgios aos mitos
cosmognicos e s lendas cavaleirescas. possvel reconhecer, j
apontados por Mongelli, Ulisses, Moiss, Rmulo e Remo, Tristo
e Isolda, Galaaz, Cristo e seus apstolos, Sibilas, alm dos moti-
vos lendrios como o rio que seca, as pragas que assolam a cidade,
o bode expiatrio, as cores (branco, vermelho, dourado), o dos
nmeros (so 4 os avisos, 3 os noivos), etc. (Idem: 134).
Assim, a cobra-drago sintetiza a bipolaridade bem/mal,
cujas origens remontam s mais arcaicas civilizaes, embora,
como bem observa Lnia Mrcia de Medeiros Mongelli, o livro
do Gnesis, os Salmos, o Livro de Job e principalmente o
Apocalipse de So Joo lhes tenham revelado a forma mais co-
nhecida desde a Alta Idade Mdia. H que se acrescer, ainda, a
sua presena na tradio folclrico-popular.
Se a fora do drago vem dos elementos primitivos ter-
" &
ra, ar, fogo e gua como se apresenta no Bestirio medieval
(Apud Mongelli, 1991: 135), O drago a maior de todas as
serpentes e, na verdade, de todos os seres vivos (...) Quando o
drago sai da cova, freqentemente se eleva aos cus e o ar ao
seu redor torna-se ardente- ento, est estreitamente vinculado
aos ritos de fertilidade, de acordo com o simbolismo da gua
que fecunda a terra e responsvel pela evoluo cclica da vida.
Assim, seu sentido de Bem ou de Mal marca-se
notadamente pela cultura e momento histrico em que se insere.
Prioritariamente assinala a vitria do heri sobre o monstro, des-
de, por exemplo, as novelas de cavalaria dos sculos XII e XIII,
ou as hagiografias que mostram os santos em vitria sobre as
serpentes. Entretanto, em Vilamaninhos, predomina a ambigi-
dade, at porque, conforme E. M. Mielietinski (1987: 75), dra-
ges e serpentes referem a ameaa de conquista total da consci-
ncia pelas foras do instinto, e tal ambigidade alimentada
pela inrcia.
Mudou a vi da. Dizem que quem vai l, e v o que l vai e se
passa, no s acredita que uma cobra possa voar, como j nem
ligar a esse feito relacionado com a minha vida passada.[...]
Os bons andam a procurar os maus. No para lhes fazerem
mal, mas. Como se o cu tivesse descido terra. Apenas para
lhes mostrarem com o dedo, o nmero dos seus crimes. (Jorge,
1990: 168)
Como diria Albrs, em O dia dos prodgios as ima-
gens mticas so propostas como equaes, na tentativa de re-
cuperao de certas experincias em que se renova um senti-
mento de estaticidade social, sim, mas em perodos, talvez por
isso e paradoxalmente, mais confiantes.
No nvel da histria, o presente fictcio e o presen-
te real so absolutamente contrastantes.
Afirma-se a existncia do passado como presente
porque o passado guardador de determinados valores em
" '
Vilamaninhos e para Vilamaninhos, como o bem, a fora moral, a
austeridade, ltimo resqucio, enfim, de uma tradio prestes a
ser engolida pelas transformaes, em que o coletivo devorado
pela solido das foras sociais. Da a afirmao de que:
Esses que a vieram mostrar-se nem chegaram a ouvir a
voz da gente.[...] A gente s devia ouvir a gente. No acreditar
em nada alm da gente. Sempre que damos ouvidos a outros,
ou matam ces ou levam a esperana que a gente tem. Manuel
Gertrudes repreendeu. Cala-te, Macrio. No v essa gente
arrepender-se do pouco que nos deu. Porque o pouco sempre
melhor do que nada. (Idem: 187)
Ora, o mito, como explicao alegrica ou simblica pri-
mitiva, no aparece, na obra jorgiana, com seu carter primeiro
de satisfazer a curiosidade, mas como tendncia da prpria lite-
ratura do sculo, ao voltar-se para a remitologizao.
Esse renascimento do mito, no sculo XX, termina en-
globando a Filosofia da vida, tal qual concebida por Nietzche e
Bergson; a psicanlise freudiana e, particularmente, os arquti-
pos de Jung; as novas teorias etnolgicas, em que se destacam,
entre outros, Ernest Cassirer e Boris Malinowski. quando o
mito apreendido em uma funo pragmtica, regulando e apoi-
ando a ordem natural e social, por meio de um sistema simblico
pr-lgico, resultante da capacidade imaginativa e criativamente
fantasiosa do homem.
Se o mito relaciona-se, no Modernismo, conscincia da
crise da cultura burguesa e crise da civilizao, em O dia dos
prodgios, tal qual prev P.H. Rahv (apud Mielietinski, 1987: 03),
o significado alegrico que abriga, vinculando-se histria naci-
onal e aos costumes do seu tempo, expressa o medo e a descon-
fiana por ela produzidos. tambm por onde se d sua identifi-
cao com a ideologia e a psicologia. Longe de um carter
apologtico, o mito fator de desmascaramento, sim, da dege-
#
nerao e da deformidade, mas tambm fator de desvendamento
de princpios imutveis, localizados entre o cotidiano emprico e
as mutaes histricas. o que Mielietinski chama de
mitologizao franca da histria: o humor, a ironia e a
carnavalizao como liberdade ilimitada do criador revisam, cri-
ticamente, o sistema como um todo.
J nos contos de Orlanda Amarlis, a ruptura com o real
no criada, mas trazida fico na transposio da prpria cul-
tura africana. Essa ruptura reside no cerne da identidade de Cabo
Verde e da frica, uma vez que a integrao com o cosmo, o
animismo e o fetichismo religioso apontam para a identidade de
uma cultura mergulhada no mito e na tradio oral, uma espcie
de linguagem adequada descrio de modelos eternos de com-
portamento, de certas leis essenciais do cosmo social e natural.
Assim, aqui, o mito no uma narrativa alegrica ou simblica.
Ele a vivncia de uma realidade relacionada ao destino humano e
ao destino do mundo, embora se mantenha sua definio como
representao por meio de imagens fantsticas do mundo, de deu-
ses e espritos que regem o mundo. Aqui, a realidade mgica a
apreenso mesma da realidade africana, onde tpico que seu
aspecto sobrenatural seja considerado real, natural, numa ligao
entre cultura e realidade regida por qualidades mgicas. O mito
remonta a tempos pr-racionais, mas permanece na sua reprodu-
o por meio dos ritos e de suas significaes mgicas. O mito,
como quer Mielietinski (1987: 40), codifica o pensamento, re-
fora a moral, prope certas regras de comportamento e sanciona
os ritos, racionaliza e justifica as instituies sociais.
Como um ser eminentemente religioso, o africano sem-
pre procurou, em sua histria, um alimento espiritual mais sli-
do do que o que o seu primitivismo lhe pudesse proporcionar,
por meio de uma filosofia e uma metafsica muito mais intuitivas
do que refletidas.
A superstio ou a magia incidem sobre objetos bem de-
terminados que materializam, de uma forma mais genericamente
acessvel, a noo de divindade ou, pelo menos, de fora divina.
#
A fora do esprito uma constante de considervel energia.
So esses elementos que Orlanda Amarlis vai buscar na
cultura popular e que constituem a prpria ritualizao da vida
como formas construdas para viver dentro de determinada rea-
lidade, como fora de permanncia do olhar voltado para a sua
terra.
devera, ela deitou-lhe sorte e deu um rei de copas no
meio de Piedade e de Teodoro. Depois, deu trs de paus e qua-
tro de paus e ainda dois de espadas. Quer dizer, dentro de trs
meses, por caminho de mar, numa noite que duque de espa-
das, havia de sair para longe desta terra. E foi assim, no foi?
NhAna estava de boca aberta quase a tremer e a comadre
sentia-se feliz. Feliz por sujeitar NhAna a uma evidncia to
clara como a das sortes com cartas. Apenas no lhe contou
sobre as cartas pretas volta da Piedade. (Amarlis, 1982:17).
Ou, mais adiante, no mesmo conto, Thonon-Les-Bains:
Quebranto podia apanhar qualquer pessoa em qualquer
idia. Por isso gente pe os fios de conta, pretas e brancas, de
volta das barrigas de menino-novo, por baixo do umbigo. Gen-
te-grande no precisa de um fio de conta de quebranto, mas
quando desconfia de quebranto vindo por um elogio quase sem-
pre (inveja), e de um olhar intenso (mau olhado), fazer figas
com a mo esquerda escondida por entre as saias, debaixo de
uma prega ou mesmo a mo atrs das costas. Figa canhota,
bardolega, mar de Espanha. E assim a fora malfazeja de olhar
ou das palavras afastada. (Idem: 19,20)
Apesar da magia colocada sobre os objetos, as cartas e as
contas, numa comunicao com uma outra esfera de realidade,
, sobretudo, na conversa de espritos, na conversa de morto-
#
vivo, de avassalamento, de coisas de intentao (Idem: 43) que
o realismo mgico aflora nos textos de Orlanda Amarlis. Tais
quebrantos possuem uma funo social especfica como meca-
nismos de anulao da competio na medida em que a prpria
sociedade , naturalmente, produtora de diferenas.
assim com Simo, em Cais do Sodr, que, por artes
de maonaria, costuma fazer aparecer um vapor de guerra
meia-noite e um arrastar de ferros e nh Simo a gritar a noite
inteira para a marinhagem (Amarlis, 1974: 16).
assim com Rolando, de Rolando de nha Concha, sur-
preendido com seu prprio enterro, transformando a morte na
representao final da vida, sem que haja, necessariamente, rup-
tura entre vida e morte. que a iniciao compreende uma esp-
cie de morte provisria, simblica, abrindo caminho para a
revivificao, para um novo nascimento e para o contato com os
espritos.
Nh Totone e nh Jom Santos, abafados pelos gritos de nha
Concha, deixaram cair as abas do caixo sobre o corpo hirto
de Rolando, sobre o seu prprio corpo, Senhores!
E a surpresa m refeita de Rolando aderiu ao desespero de
nha Concha e ambos gritavam: No, no, no! (Idem: 37)
assim com Rodrigo que cheira morte, em A casa
dos mastros, a casa que surge como cenrio de uma trans-
gresso no quotidiano de uma pacata cidade (Amarlis,1989:
39), ou Laura, que veio buscar a amiga e terminou morrendo
pela segunda vez, porque a possibilidade de reencarnao se mul-
tiplica, mas principalmente assim, num conto impressionante
chamado Lusa filha de Nica, de Ilhu dos pssaros.
Evocando a unidade entre o real e o seu elemento mgico,
Amarlis recria a apreenso do mgico em trs planos que se
interpenetram: o real objetivo, o real imaginrio e a fuso dos
dois.
# !
O espao, que um espao fechado, marcado pela opres-
so da misria, do insulamento e dos conceitos tradicionais, evolui,
gradativamente, do quintal cidade e desta a um outro plano que
se pode caracterizar como espao do transe, o espao de
ventona de um mesmo vento que, no real objetivo, age como
elemento de desorganizao, no fim de tarde para fora de seu
cho, para retornar, depois, casa do incio, mas j ento uma
casa avassalada.
Um vento empurra-a para fora do cho, para um espao
de ventona, de calhaus, de vulces mortos, de poeira
redemoinhada. Tapou o nariz com as duas mos e caminhou de
cabea inclinada, corpo em arco, contra a tempestade sem chu-
va, sem troves ou relmpagos. E este desfragar de rochas
desfeitas em pedregulhos sempre atrs dela. E sempre a fugir e
as pedras aos saltos, em passadas certas e fragorosas. So
passos de canelinha. Canelinha to leve e to corpo uno de
pernas, braos, cabelos, um todo canelinha (...)
Lusa dava passadas no ar (...) Cada passada tinha o ta-
manho de um dia.
A ventona aqueceu, era um bafo de caldeiro, bafo de leo
de purgueira.(...)
Ia iluminando a superfcie e escorregava em bicos de ps.
Ensaiou um bailado e gargalhou. Andou, escorregou, des-
lizou de gatas. Atravessando colinas de espuma,(...) como ara-
nhas cinzentas entre a coisificao da vida sem vida.
Nunca mais chegava ao termo da jornada e nem j tinha
conta do tempo.(...)
Voava, Lusa de cabelos soltos, seios virgens expostos, para
amamentar quantos mil filhos viessem. (...)
Os portes fecharam-se sem pressa. Lusa gritou (uivou?)
e foi de encontro aos batentes onde socou cem vezes(...) Escor-
regou, as mos desceram pela superfcie (...) e deixou-se ento
embalar no mar de espuma de purgueira quente. (Amarlis,1983:
# "
39,40)
No espao mtico, a conexidade , portanto, neutra. As
relaes se estabelecem sem lgica, sobre uma identidade pri-
mria no identificvel, e o cosmo constitudo, por sua vez,
sem um modelo determinado. Segundo Cassirer, o sistema de
relaes remonta, at certo ponto, intuio humana relaciona-
da ao prprio corpo, ligando-se a ele o sentimento primrio mi-
tolgico-religioso.
O tempo tambm um tempo fechado, circular: dez anos,
vinte anos, cem anos?, um tempo que anda sem sair do lugar, o
lugar do transe, formando um eterno ciclo. O tempo mtico con-
figura-se como um supratempo de tempos primeiros, anterio-
res, portanto, contagem emprica, que, no entanto, assimila-
do por ela.
a que so trazidos fico os elementos mticos da
cultura, a questo da mediunidade, da limpeza psquica, dos es-
pritos zombeteiros, marcando sua presena no mais por meio
do transe de Lusa ou do retorno de Anton, o tio que ela acom-
panha e que morrera antes mesmo de ela nascer, mas por meio
de bolinhas atiradas contra a parede, que desfaziam-se espalha-
das pela casa. A colcha estava toda pintalgada. Pareciam espir-
ros de lama(Amarlis, 1982: 44).
quando a forma de pensamento mitolgico transforma
toda a realidade em metfora.
Se a questo da transmigrao das almas aparece j na
antigidade Anaxgoras, pensador grego, herdeiro da tradio
cientfica e racionalista de Jnia, quem primeiro admitiu o esp-
rito (nous) como fora explicadora das coisas, presente na dife-
renciao entre vivos e no-vivos , no sculo XIX que
sua releitura feita e, ento, luz do positivismo.
Coube a Allan Kardec sistematizar o Espiritismo numa
doutrina que se encontra exposta em suas obras: O livro dos
# #
espritos, O evangelho segundo o espiritismo, O livro dos
mediuns, O gnesis, Os milagres, As predies segundo o espiri-
tismo.
Tal filosofia entende o Universo como resultante dos se-
guintes elementos: Deus (inteligncia suprema, causa primeira),
esprito, matria e o fluido (intermedirio entre o esprito e a
matria). Distingue os espritos em perfeitos e imperfeitos e ad-
mite o princpio da reencarnao.
Surgindo contra a propagao das idias materialistas, o
Espiritismo enfrentou, a um s tempo, duas correntes opostas: a
dos cientistas materialistas e a dos defensores da religio crist,
tanto evanglicos quanto catlicos.
De qualquer forma, o espiritismo passa a ser uma filoso-
fia que se complementa e se compromete com o socialismo,
embora tenha divergncias internas. H, por exemplo, uma ver-
tente espiritualista inglesa que nega o reencarnacionismo, como
h a discusso entre o espiritismo marxista e o liberiano.
Embora o fenmeno na religio negro-africana, o banto,
onde se sobressai, como entidade, Calunga, com seu culto aos
mortos, tenha a mesma natureza, isto , o princpio da reencar-
nao e a manifestao do esprito dos mortos entre os vivos, a
no se passa pela sistematizao de idias que trouxe o sculo
XIX. H, isso sim, uma mentalidade religiosa que envolve a questo
da permanncia, portanto, do culto afro, mas, ainda, na fase
pr-racional.
A natureza extravagantemente fantstica da mitologia pri-
mitiva e o seu idealismo espontneo no excluem, entretanto, o
significado cognitivo das classificaes mitolgicas e o papel
ordenador dos mitos na vida social da tribo. Na prpria gera-
o e no funcionamento dos mitos, as necessidades e fins prti-
cos predominam incontestavelmente sobre os especulativos, en-
quanto a mitologia consolida a unidade sincrtica ainda pouco
diferenada da criao potico-inconsciente, da religio primi-
# $
tiva e das concepes pr-cientficas embrionrias do mundo
circundante. (Mielietinski, 1987: 189)
Por outro lado, sua representao apresenta-se como
fenomnica e no ilusria. Isso faz com que o pensamento mtico
distinga apenas precariamente a realidade imediata e o significa-
do mediatizador. Vida e morte no se delimitam entre si. Nasci-
mento retorno da morte. Assim, o pensamento mtico conside-
ra-as, a vida e a morte, partes homogneas da existncia.
Para Cassirer, por exemplo, no existe possibilidade de
anlise lgica do pensamento mitolgico, ressaltando a particu-
laridade da fantasia mtica de combinar a espiritualizao do cos-
mo com a materializao dos contedos espirituais.
Mas h, ainda, em Amarlis, a possibilidade de reviso da
realidade externa pelo fantstico, levando descoberta de verda-
des fundamentais atravs de experincias cotidianas. o caso
de Maira da Luz, de A casa dos mastros, kafkaniamente
esmagada, feito inseto, pelo meio scio-histrico.
Dessa forma, corrobora-se a idia de que o pensamento
mitolgico , por princpio, metafrico. O contedo dos mitos
no religioso, apenas se torna, em Lusa, filha de Nica, por
exemplo, quando o mito serve para explicar e demonstrar o rito
estamos, aqui, falando em mitos culturais, mas tambm de
uma sociedade arcaica onde o mito a alma da cultura
homogeneamente representada, pela magia e pelo rito, como for-
ma de manter a ordem natural e o controle social. Ou seja: a
mitologia tambm social e ideolgica, e Maira da Luz pode
bem ser paradigma dessa afirmao.
por esse caminho que Orlanda Amarlis encontra na
prosa de fico um territrio fecundo para revalorizar o cau-
dal mtico simultaneamente caboverdiano e africano, onde os
mitos so traduzidos por um iderio comum e lentamente ela-
borados pela prpria evoluo das sociedades em que surgi-
ram. A isso se acrescentou uma identidade na utilizao de
# %
recursos imagticos voltados para o local, uma histria em
curso, mergulhada nas crenas de uma religiosidade peculiar
ao comportamento arcaico, na medida mesmo em que o pen-
samento folclrico-mitolgico , no arquiplago, sua prpria
realidade histrica.
Em Ldia Jorge, ao contrrio, aflora um realismo fantsti-
co, alegrico. Da seu encaminhamento para uma espcie de
realismo simblico, evidenciando a inveno e um perfil popular
em que a dialtica estabelecida entre o racional e o mtico instau-
ra um mundo novo, dirigido para a re-avaliao do real em deter-
minado momento histrico-social para, a partir dele, resgatar a
identidade nacional.
O texto de Ldia Jorge ultrapassa os seus limites ficcionais
para a colocao de teses histricas, dialeticamente pensadas.
A autora procura, a partir da verdade histrica, elaborar,
na fico, o mito que sintetize o perodo ps-revolucionrio por-
tugus, enquanto Cabo Verde e seus mitos se pertencem e se
caracterizam mutuamente.
1.3 A sucrulizu5o o u dossucrulizu5o do vis5os
Nos sistemas totalitrios, o indivduo reduzido impo-
tncia diante do aparelho do poder, e este o retrato de um
Portugal salazarista; o Estado se aliena do cidado, girando em
torno de imagens idealizantes de si mesmo, e a excluso torna-
se norma de comportamento social.
Essa alienao realiza-se pela bipolaridade: concentrao
de poder para poucos e perda de democracia e liberdade para
muitos.
No momento, entretanto, em que oferecido s minorias
o espao da cidadania, em que renasce a importncia da socieda-
de civil e do pluralismo democrtico, os mitos da poca so
derrubados, inclusive porque a ciso com o passado representa
# &
a dessacralizao de certas vises.
onde se situa Ldia Jorge. Diante de uma sociedade
complexa, marcada por contradies sociais fortemente eviden-
tes, busca simplificar essa realidade complexa reduzindo-a ao
essencial, levando-a procura de seus prprios mitos, os que
tm valor de realidade intrnseca.
esse, tambm, o valor do mito em Orlanda Amarlis.
Observe-se que, aliado a toda a singularidade da formao do
povo caboverdiano, o colonialismo teve como procedimento a
superposio de uma cultura sobre a outra, a exportada (me-
trpole) sobre a local (colnia), e isso por meio da violncia ou
da catequese (forma sutil de violncia), utilizando como instru-
mento de converso ideolgica a lngua em sua forma oral e no
escrita. Isso impediu, como quer E. Said (1995:13), que se for-
massem ou surgissem outras narrativas, o que, para o mesmo
autor, muito importante para a cultura e o imperialismo, e
constitui uma das principais conexes entre ambos. Mais
importante,as grandiosas narrativas de emancipao e esclareci-
mento mobilizaram povos do mundo colonial para que se er-
guessem e acabassem com a sujeio nacional. Portugal imps,
artificialmente, uma histria sobre a outra.
Ainda assim, no conjunto, a colonizao caboverdiana tem
feio prpria e particular em relao s demais colnias. A pos-
se de terra e os postos de administrao foram, gradativamente,
para as mos de uma burguesia caboverdiana. A prpria socie-
dade encarregou-se de produzir, naturalmente, a cultura e as di-
ferenas e, em contrapartida, procura apag-las por meio de v-
rios mecanismos, entre eles a crena nos quebrantos e a
ritualizao da vida. De qualquer forma, isso altera, como bem
observa Manuel Ferreira (1977: 23), tambm de forma gradual,
a prpria natureza da oposio, que deixa de ter sua nfase sobre
a relao estabelecida entre o colonizado e o colonizador para,
como acontece nas sociedades capitalistas, transformar-se numa
oposio gerada pela explorao, resguardada a caracterstica
# '
colonial, sobretudo no que diz respeito ao poder poltico.
H que se dizer, ainda, que a se estrutura toda uma cultu-
ra baseada na fuso de valores africanos e europeus, em uma
espcie de harmonia racial onde a negritude, por exemplo, no
tem eco de expresso, pelo menos dentro do conceito cunhado
por Aim Csaire, em 39, ou como movimento desencadeado
pelo martinicano e pelo senegals L. S. Senghor, dentro da pers-
pectiva de movimento agregacionista e nacionalista originrio do
Pan-Negrismo do sculo XIX.
Trata-se, portanto, de uma realidade particular dentro do
contexto luso-africano. De qualquer forma, a tradio oral afri-
cana persiste, inclusive no preenchimento de lacunas imaginri-
as com suas significaes transitrias. Da a necessidade de cons-
truir um comeo.
Afirma Hermann Broch a respeito do mito:
a navet do comeo, a linguagem das primeiras
palavras, dos smbolos originais, que cada poca precisa
redescobrir por si mesma. o irracional, a viso direta do
mundo; a imagem sbita que se v pela primeira vez e jamais
se esquece... (Apud Fischer, 1963: 112)
Aplicando-se tal definio a Orlanda Amarlis, atravs
do mito assim concebido que a escritora caboverdiana vai ao
encontro da essencialidade caboverdiana. Com isso, prope a
ruptura com a alienao de colonizado, a aculturao e a condi-
o inferiorizante para desencadear a valorizao da cultura local
e, com ela, o despertar da conscincia nacional.
Cabo Verde, hoje, uma repblica independente desde 5
de julho de 1975. Tem uma outra realidade poltica e histrica
diferente do perodo de colonizao, uma realidade que traz no
seu bojo todo um longo trajeto, a partir da prpria origem, pas-
sando pelas questes tnicas e geogrficas, pela Claridade (1936),
pela Certeza (1944), pelo P.A.I.G.C. (1956), Partido Africano da
$
Independncia da Guin e Cabo Verde, pelas teses do pensador
membro da minoria caboverdiana na Guin, Amlcar Cabral
Cultura sinal de libertao? Libertao sinal de cultura. Tudo
isso representa um sofrido processo de conscientizao cultural
e nacional, at porque as independncias polticas e econmicas
normalmente precedem independncia cultural que instaura,
em ltima anlise, a prpria busca da identidade nacional.
importante assinalar, aqui, que a histria da libertao
da Guin-Bissau e de Cabo Verde se confunde porque os
povoadores iniciais do arquiplago eram oriundos daquela ex-
colnia e a transformao da luta anti-colonialista em luta oficial
e armada, em 1956, atravs do P.A.I.G.C., estreitou ainda mais
esses laos, a ponto de Lus Cabral comentar que:
A Repblica de Cabo Verde e a Repblica da Guin-Bissau
so duas flores nascidas do esforo e de sacrifcios comuns nos
filhos da Guin e Cabo Verde, unidos num mesmo combate. O
dia no vem longe em que as duas naes irms, associadas
numa unio fraterna dois corpos e um s corao construi-
ro a bela realidade que o melhor filho do nosso povo, Amlcar
Cabral, sonhou e fez consagrar. (Apud Fonseca, 1986: 4)
Cabe aqui o dado histrico-cultural. A dcada de 30
uma determinante dentro de todo esse processo. H uma forte
influncia da literatura brasileira: Jos Lins do Rego, Jorge Ama-
do, Armando Fontes, Marques Rebelo, Manuel Bandeira, rico
Verssimo e, sobretudo, Gilberto Freyre at pela proximidade
com o drama do Nordeste brasileiro , e tambm da Presena
portuguesa, notadamente no que propunha em termos de liberta-
o da linguagem, de busca de uma tomada de conscincia defi-
nitiva para o arquiplago, considerando-se as questes polticas,
sociais, histricas e literrias.
Rompe-se com as razes europias e passa-se a valorizar
os elementos de raiz caboverdiana. No , ainda, nesse momen-
$
to, uma proposta anticolonial ou uma luta pela independncia
nacional. A proposta, entretanto, est implcita numa outra mais
ampla: a de descoberta do que efetivamente Cabo Verde na sua
insularidade, na sua fome, na sua misria, na sua evaso, no seu
mar visto como caminho mtico. Estamos, portanto, no iderio
de Claridade.
A ela sucede Certeza, que traz consigo a viso neo-
realista e marxista, abandonando as ligaes com o passado,
para assumir, no arquiplago, o drama coletivo da Segunda
Grande Guerra. H, sem deixar de lado o conhecimento da
terra pelo prisma da Claridade, o alargamento da viso
caboverdi ana e a posi o de resi gnao, apesar da
amorabilidade, substituda pela posio de luta, de trans-
formao da realidade. O conceito regional amplia-se para
nacional e Cabo Verde passa a ter um destino histrico forte-
mente ligado ao contexto africano. Pode-se, ainda, falar do
Suplemento Cultural (1958), do Cabo Oficial (1949), do Sel
(1962), do Razes (1977) e, mais atual, do Ponto e Vrgula
(1983), no processo de desenvolvimento cultural, mas eles
vm, ainda, no iderio daqueles dois movimentos. O que, se-
gundo Manuel Ferreira, no invalida que, para alm das even-
tuais ou possveis subdivises, no venha a considerar-se a
literatura caboverdiana em duas grandes fases: antes e depois
da Claridade (1977: 28).
Orlanda Amarlis pertenceu gerao da Certeza. A
esto suas histrias tecidas com a experincia caboverdiana,
de carncias, de encontro com as razes mticas a revelar a
prpria essencialidade do arquiplago. Por outro lado, perten-
cendo tambm dispora ou disperso, ainda que presa
reiterao da temtica social da terra, consegue contrast-la
com a cultura portuguesa, sob a forma de um olhar distante e
de um olhar estranho, respectivamente. Cria uma narrativa
que medeia ambos os espaos, buscando relacionar a psico-
logia e o meio social em que suas pessoas de fico se inse-
rem, sem deixar de abrir-se para a originalidade de diferentes
$
recursos estilsticos.
Em O dia dos prodgios, Vilamaninhos corresponde a um
estado social puro, em que permanecem intactas as lendas, as
supersties populares, os fragmentos de passado. E que me-
lhor ambiente do que esse para a restaurao, a destruio e a
criao de mitos?
O cotidiano da aldeia, com seus costumes, suas leis pr-
prias, suas verdades vitais, um cotidiano lrico, carregado de
dramas de seres primitivos,
[...] pessoas, certas de terem assistido ao grande prodgio
dos tempos modernos.Porque um bicho rptil voar de vceras
de fora, s deveria ter acontecido nos tempos bblicos, muito e
muito antigos. No princpio do mundo. (Jorge,1990: 28)
A realidade rstica em que se configura a vida invocada
para que se coloque mostra o exerccio da paixo, da solido,
da luta entre valores: tudo o que a vida com suas razes firma-
das na cultura, na tradio, num realismo regional e nacional.
O corte dessa realidade banal se d com a introduo do
mgico, no plano ficcional, que s se explica pela leitura que ele
faz da realidade histrica.
A serpente marca o obscurecimento daquela racionalidade
e, subindo aos cus, o fim de um momento histrico composto
por um sistema centrado, ameaador, instaurando uma lacuna
no cotidiano por onde penetra o imaginrio, mas, tambm, a
crise de paradigmas e referenciais.
Quiseram ensinar. En si nar. Mas ningum compreendeu as
palavras tio Jos Jorge. Tambm ningum reconheceu o estan-
darte. Eles vinham de repelo. Nem prantaram seu pezinho na
terra. Foi s de vivas [...] No fim eu disse. Isto foi mangao que
aqui vieram fazer[...] Mangao? Chamas mangao a quem
arrisca os cabelos da cabea, os canos do cu e a barba da cara,
$ !
para assim andar a falar s pessoas. Bruta que tu s. A. Tio
Jos Jorge. O que havera eu de dizer e imaginar? (Idem: 191).
quando Ldia Jorge entremostra o ceticismo apreendi-
do na Histria, e o faz trabalhando, lado a lado, a ironia e o
pessimismo.
Quando Jesuna Palha disse. O que vejo, meu Deus? Vem
a um carro. Um carro celestial. Celestial. Olhem todos. Traz
os anjos e os arcanjos. Oh gente. E So Vicente por piloto.
Disse Jesuna Palha que voltava da ceifa, ainda com o avental
e o leno repletos de praganas. Todos olharam. Na verdade
surgia na curva da estrada, pelo lado poente, qualquer coisa de
to extravagante que todos os que conseguiam enxergar a man-
cha de cores, virando as cabeas, julgaram ir cair de borco
sobre o cho da rua. Embora a mancha j volumosa, avanas-
se lentamente. Ocupando no espao as trs dimenses duma
coisa visvel, slida e palpvel. Mas os homens, pondo a mo,
e fazendo muito esforo para verem claro o que avanava com
tanta majestade, disseram. Menos rpidos e mais lcidos. Va-
mos. Vamos ser visitados por seres sados dos cus e vindos de
outras esferas. Onde os sculos tm outra idade. Afastem-se,
vizinhos, que esta viso costuma fulminar. As crianas corre-
ram estrada fora, comandados pela coragem. Sentiam que o
mar ia chegar atrs dum barco de velas alvadias e soltas,
desfraldadas levssima brisa da tarde. E tambm comearam
a esbracejar, esboando gestos de natao. Mas Macrio. Ten-
do sido o ltimo a enxergar, teve a viso exacta. No momento
da surpresa ainda tinha os olhos fechados de repetir pela lti-
ma vez. A espera de ocasio.
- Isto um carro de combate. Oh vizinhos. (Idem: 179)
a total subverso dos cdigos. Ldia Jorge nos insere
no processo bakhtiniano de carnavalizao. O mtodo dialgico
se estabelece pelas estruturas ambivalentes evidenciadas. O dis-
curso tipifica-se a partir do prprio estatuto da palavra. Rom-
$ "
pe-se com o texto tradicional e a ambigidade se instaura pela
associao metafrica. A carnavalizao instala o dialogismo
com aquele texto a passagem bblica de Ezequiel como
marca de um discurso intertextual, quer pelo tom, quer pelos
contrastes.
A carnavalizao traz consigo o riso reduzido da ironia,
da pardia, por meio da refrao crtica que nega e afirma, revo-
gando todas as formas de reverncia e devoo, deformando a
verdade tradicional, provocando, assim, a desmitificao.
Afirma Julia Kristeva que:
O riso do carnaval no simplesmente parodstico; no
mais cmico do que trgico; os dois ao mesmo tempo; , se
quisermos, srio, e s assim que a cena no nem da lei, nem
a da pardia, mas sua outra perante a qual o riso se cala,
pois ela no pardia, mas morte e revoluo. (1974: 79)
A viso dos moradores de Vilamaninhos remete, por as-
sociao, viso de Ezequiel do resplendor do carro divino car-
regado por querubins, a nuvem, o fogo, o electro, o aspecto das
rodas que era tambm como uma vista do mar.
Os habitantes da aldeia tm a mesma sensao de cair
com o rosto na terra, como aconteceu ao profeta, diante de tal
viso.
Como o povo de Vilamaninhos, assistente do grande pro-
dgio dos tempos modernos (Jorge,1990: 28), Ezequiel o es-
colhido por Deus para a sustentao da f. aquele cuja doutri-
na fundamenta-se na importncia colocada sobre a responsabili-
dade individual em oposio coletiva e cuja profecia termina
com a predio da restaurao de Israel, por meio de um povo
que tornou mstica a mitologia da vontade criadora.
Mas no h Ezequiel, h a gente de Vilamaninhos. E no
h o carro celestial com So Vicente, filho de camponeses, como
$ #
piloto; h o carro de combate dos soldados que fizeram a revo-
luo.
, portanto, a dessacralizao de valores religiosos e da
esperana messinica de que a salvao, que aqui se confunde
com decifrao dos sinais, vir dos cus. Revolvendo as vises
mticas, imagens espontneas portadoras de um carter reflexo,
Ldia Jorge cria sua prpria mitologia a partir de materiais hist-
ricos.
A, todo um quadro caricatural na forma de um rito
contemplativo traz tona os signos criadores e a revitalizao
da memria coletiva sob o encantamento e o medo, mas, so-
bretudo, coloca mostra a impotncia dos significados exter-
nos: a esperana no carro de combate, nos soldados, no a
mesma da viso primeira. No encontra eco. apenas um car-
ro de combate e, como tal, traz a certeza de que incerteza, o
entendimento do desentendimento e a dessacralizao, repor-
tando-nos afirmao de Eduardo Loureno em Literatura e
Revoluo (1984: 7):
Durante um ano pois mais no durou o perodo revoluci-
onrio , o Pas viveu em estado onrico. Importam pouco as
leituras opostas dessa vivncia coletiva, ao lado da sua intensa
irrealidade. Surgida como um milagre, como um milagre se
prolongou, at passar, quase sem transio, palindia inter-
minvel do seu xtase, deplorvel para uns, exaltante e exalta-
do por outros.
Ora, se at a Idade Mdia e o Renascimento a cultura do
carnaval, segundo Mikhail Bakhtin, ope-se, por formas humo-
rsticas, cultura oficial do domnio eclesistico e feudal, certo
que tais manifestaes vinculam-se aos momentos histricos
de crise, caracterizando-se pela revelao de um mundo incluso
em outro, onde, de acordo com Tatiana Bubnova, la lgica que
domina las conductas y actos (...) es la del mundo al revs
$ $
(1987: 4-5). Se a cultura do carnaval deixa de existir na Idade
Mdia, permanece como uma atitude frente realidade, e, a, a
ideologia e a contra-ideologia entrecruzam-se em estruturas nas
quais o signo reflete e refrata a realidade em transformao.
A refrao, nesse sentido, a prpria viso crtica em que
a ambigidade intersecciona a negao e a afirmao, como ob-
serva Bakhtin. As leis, as proibies e restries da vida comum,
o sistema hierrquico, o medo, a reverncia e a devoo ficam,
ento, revogados, deformando a verdade oficial estabelecida pela
ideologia dominante.
O esprito do carnaval (...) permite olhar o universo com
novos olhos, compreender at que ponto relativo tudo o que
existe, e portanto permite compreender a possibilidade de or-
dem totalmente diferente do mundo. (BAKHTIN,1993: 30)
Nos contos de Orlanda Amarlis, o caminho inverso,
no o da dessacralizao, mas o da sacralizao que serve de
susbstrato ao prprio dilema caboverdiano: o ter de ficar, que-
rendo partir, ou o ter de partir, querendo ficar. a sensao de
exlio e de estranhamento na outra terra, acentuando o drama
que Gilberto Freyre caracterizou como o de um arquiplago
pirandellianamente em busca de seu sentido e seu destino, ou
onde Yannick Tarrieu apontou une tension extrme entre deux
ples dacttraction de mme parent, lle, petite mais immdiate
et prcise, et la patrie, situe dans un ailleurs mythique (apud
Rivas, 1985: 292), o que, em ltima anlise, envolve a prpria
questo da identidade.
Se o retorno portador da memria do exlio, o exlio
fracassa como desenraizamento, porque ele o arraigamento da
conscincia identitria que se busca a si mesma.
As personagens que perambulam por Lisboa no se
desvinculam da terra natal. Ilhu dos pssaros todo ele
uma tentativa de retorno. o caso de Luna Cohen, que se
$ %
diz judia, mas mentalmente caboverdiana. o caso de
Xanda ou de quaisquer das personagens simples que povo-
am suas histrias curtas, seja pelo reconhecimento de que
emi grant e l i xo [. . . ], emi grant e no mai s nada
(Amarlis, 1983: 25), seja pela conscincia de que Euro-
pa e o imperialismo ficavam alm daquela porta. Deste lado
era a explorao (Idem: 62), mas sobretudo porque, apesar
dos nove ano sem chuva e comida? Deixa-me rir. Po com
rebuado, um caneca de qualquer ch, aperta cinto, carinha
contente (Idem: 83), estrangeiro estrangeiro, e Soncente
Soncente (Idem: 10). a nostalgia que se apossa de suas
personagens:
Abriu a porta e ps-se num rufo na rua. Queria estar sozi-
nho. No falar com ningum at esquecer a conversa desta
tarde. Oh gente, se eu pudesse estar entre a terra e o mar e s
sentir o cu por cima de mim! Se eu pudesse estar agora no
Ilhu dos Pssaros! (Idem: 119)
E no meio desse sentimento, cujas razes passam por um
conceito e um sentimento de identidade nacional, a aculturao
adquire uma conotao ilusria, sem deixar de ser, entretanto,
uma escolha:
Encruzilhada pela qual se tem de escolher. Sempre a fugir
de andar com os patrcios de cor para no a confundirem e
afinal um branco que lhe vem lembrar a sua condio de
mestia. (Amarlis, 1974: 45)
Trata-se, em ltima anlise, de uma escolha de transfor-
mar seus adeptos em ciganos errantes, sem amigos, sem afei-
es, desgarrados entre tanta cara conhecida (Idem:45). Nada
alm de um outro entre mesmos e um estranho de si. A
insularidade geogrfica assume-se como insularidade existencial
e idiossincrasia caboverdiana.
$ &
IMAGENS INSULARES
Ao definir a imagem, Daniel-Henri Pageaux e lva-
ro Manuel Machado apontam-na como resultado de uma distn-
cia significativa entre duas realidades culturais. A imagem a
representao de uma realidade cultural estrangeira atravs da
qual o indivduo ou o grupo que a elaboraram (ou que a parti-
lham ou que a propagam) revelam e traduzem o espao ideolgi-
co no qual se situam (1981: 43).
Assim, a alteridade e a identidade cultural esto, entre si,
associadas, da mesma forma que se vinculam, intimamente, s trans-
formaes scio-polticas que carregam no seu bojo. Quer dizer, a
relao entre culturas expe a binaridade superior/inferior, condu-
zindo reflexo acerca da prpria identidade, na medida mesmo em
que atua como detectora dos problemas inerentes cultura receptora
ou importadora, de um lado, e, de outro, nenhum estrangeiro v
jamais um pas como os autctones gostariam que fosse visto
(Brunel et alii, 1990: 53). A imagem da alteridade, no interior de
determinada sociedade ou grupo social, ao interferir na cultura,
modifica o seu tecido, investindo-se de uma funo de representa-
o simblica contnua, de carter crtico-revelador.
Pode-se distinguir, segundo Daniel-Henri Pageaux e l-
varo Manuel Machado, diferentes atitudes em relao apreen-
so do Outro, o que, evidentemente, vai assumir significaes
sociais e culturais tambm diferenciadas:
A
2
$ '
a. a realidade cultural estrangeira tida como superior
cultura nacional de origem;
b. a realidade cultural estrangeira tida por inferior ou
negativa em relao cultura nacional de origem;
c.a realidade cultural estrangeira tida por positiva no
interior de uma cultura positiva;
d. h a absteno, pelo menos de forma imediata, de um
juzo de valor sobre essa relao.
No primeiro caso, o Outro surge para suprir, atravs de
um processo crtico, as lacunas da cultura de origem. Como
comenta Maria Monsueto Campos (1993:47), ao retomar Ma-
chado e Pageaux, elabora-se, para tanto, freqentemente, uma
miragem que corporifique/consubstancie a mania nacional pela
outra cultura, em ltima anlise, seu culto excessivo. O segun-
do, por sua vez, traz consigo o procedimento inverso. cultura
nacional de origem, a supervalorizao, cultura estrangeira, a
fobia, ou seja, o desprezo pelo Outro em nome da superioridade
do Eu que olha. O terceiro representa a conciliao e a coopera-
o baseadas na admirao mtua. o que Machado e Pageaux
denominam philia, onde se reconhece a alteridade apenas como
diferena. A quarta possibilidade, entretanto, aquela dos extre-
mos, na medida em que esta ausncia proclamada de juzo rela-
tivamente ao estrangeiro em si, como personalidade concreta,
compensada noutro plano por uma hierarquia ativa (MACHA-
DO & PAGEAUX, 1981: 55). Pode levar extrema fobia ou
extrema mania.
Examinemos essa relao, esse estabelecimento de con-
tato, a presena do estrangeiro enfim, ou a dimenso estrangei-
ra na composio do texto de Orlanda Amarlis e de Ldia Jor-
ge, considerando, sempre, o texto literrio como manifestao
de determinado momento histrico-cultural e realizao concre-
ta do imaginrio social. Ou, como quer Pageaux, (1993: 21),
como uma expresso simblica, produto da cultura e da hist-
ria, mas tambm reinterveniente na histria e na cultura(...)
%
2.1 pusso o u sonhu
Proveniente da Certeza, como j referido, sob a influncia
direta do Neo-Realismo portugus e do Marxismo, e pertencente
dispora, Orlanda Amarlis no transige em questes da iden-
tidade nacional e de orientaes culturais prprias, o que se acen-
tua nas imagens estabelecidas no espao estrangeiro e do estran-
geiro no arquiplago.
Evoquemos o conceito de imagem aludido por Machado
e Pageaux em Literatura Portuguesa Literatura Comparada Te-
oria da Literatura:
Incontestavelmente a imagem , at certo ponto, linguagem,
linguagem sobre o Outro; neste sentido ela retoma necessaria-
mente uma realidade que designa e significa. (1981: 43)
Essa designao e essa significao, delineadas por meio
da representao composta de elementos objetivos e subjetivos
que se inter-relacionam, complementam e amalgamam, termi-
nam inscrevendo-se na cultura, na Histria e na prpria evolu-
o de determinada sociedade.
Com relao a Cabo Verde, na obra de Orlanda Amarlis
publicada no ps-independncia, Ilhu dos Pssaros (1983) e A
casa dos mastros (1989), podemos formular algumas questes
hipotticas:
a. O deslocamento do indivduo no espao geogrfico sig-
nifica deslocamento da ordem social e cultural efetivos. Mas tais
deslocamentos refratam a cultura nacional de origem?
b. A transformao do desconhecido em conhecido
corresponde adequao?
c. A tendncia ao fechamento como forma de preserva-
o da identidade cultural e do sentimento nacionalista revela a
supremacia da alteridade?
%
d. Em que medida a soma das tradies estrangeiras com
a tradio nacional implica perda para a cultura receptora?
Passemos a examin-las sem abdicarmos das noes de
que o discurso sobre o estrangeiro, ainda que crtico, traz con-
sigo um carter marcadamente simblico, e de que o estudo da
imagem leva determinao das linhas de fora que regem a
cultura( Machado & Pageaux, 1981:43).
Complementando o iderio do Movimento Claridoso, de
valorizao da cultura nacional, a Certeza prope, apontando para
o Realismo Socialista, o anti-evasionismo como forma de solu-
o para o dilema caboverdiano diante do drama da fome e da
seca e as ofertas do mar como caminho mtico. Paradigma de tal
afirmao o poema de Ovdio Martins (Anti-Evaso, Cami-
nhada, 1962) a recusar Pasrgada, numa aluso ao poema
evasionista do brasileiro Manuel Bandeira, Vou-me embora pra
Pasrgada: Pedirei/ Suplicarei/ Chorarei/ No vou para
Pasrgada/ Atirar-me-ei ao cho/ e prenderei nas mos convul-
sas/ ervas e pedras de sangue/ No vou para Pasrgada/ Grita-
rei/ Berrarei/ Matarei/ No vou para Pasrgada (1977:48), afir-
ma o poeta da Certeza.
Importa que Pasrgada, universo utpico, tambm canta-
do por Baltasar Lopes Em Pasrgada eu saberia/ Onde Deus
tinha depositado/ o meu destino est incorporada ao nvel mental
do arquiplago e que, no dilema, Pasrgada configura-se como o
estrangeiro.
A imagem do arquiplago, visto de si, nos contos de
Orlanda Amarlis, a mesma denunciada pelo Movimento
Claridoso, quando se desloca, na literatura, a viso do continen-
te europeu para as ilhas: marcada pelo drama da chuva, to bem
retratado na poesia barbosiana. como aparece em Thonon-
les-Bains: Sabe comadre, a vida aqui j no podia continuar
como era. Sete anos sem chuva muito. Eu no tenho nem uma
migalha de reforma de Deus-Haja. (1983: 14). Ou, ainda, em
Prima Bibinha:
%
Papiar de nada papiar na vida de gente na novidade de dji
de Sal, naqueles avio na camim de Angola, na camim de terras
deste mundo. Nunca falavam da falta de chuva. P qu? Nove
ano sem chuva p qu falar mais em chuva? Comida? Deixa-
me rir. Po com rebuado, um caneca de qualquer ch, aperta
o cinto, carinha contente. Carinha contente ou ento ir p cria-
da p casa de gente-branco.
1
(Idem: 83)
E a evaso, em busca de algo melhor, da Pasrgada, como
soluo de vida retrata-se, ainda, em Thonon-les-Bains : Como
comadre, medo de qu? Medo de nada. Gabriel explicou tudo
muito bem explicado. Piedade vai agora, depois, daqui a uns
dois anos vai o Juquinha, depois Maria Antonieta e depois vou
eu mais o Chiquinho (Idem:13).
A imagem original, entretanto, tende a ser substituda por
uma outra, em que predomina a subjetividade e a afetividade,
quando h o deslocamento para o espao geogrfico exterior,
onde a Pasrgada sofre o processo de apagamento, adquirindo
sua real dimenso: a do imaginrio.
Qual o estrangeiro registrado na obra de Orlanda Amarlis?
Thonon-les-Bains, na Frana, Londres e Lisboa.
Aqui, na definio essencial do espao exterior, instaura-
se o problema da hierarquia cultural, estabelecendo-se as dife-
renas entre o Eu (caboverdiano) e o Outro. o registro de que
o parecer alteridade, por meio do processo de assimilao,
adquire a conotao de ascenso e prestgio, tal como aparece
em Thonon-les-Bains :
A sua filha ia casar com um francs, assim iam ter os seus
filhos de cabelo fino e olho azul ou verde. Teodoro, quem era
Teodoro, para pensar em casar com a sua fidja-fmea? Sober-
1
A expresso gente-branco no se liga raa, mas ao fato de o indivduo ser
bem sucedido economica e socialmente.
% !
ba de fora, (batia palmadinhas de cada lado da cara) soberba
de fora mas nha fidja-fmea vai casar e bem. (Idem: 18)
Logo, no espao estrangeiro, por meio de um realismo
social que fotografa a realidade, apontando a viso crtica con-
tundente de uma sociedade que discrimina, exclui e marginaliza,
a utopia se desfaz. H, em Thonon, a possibilidade de trabalho:
O seu trabalho no torno numa fbrica de esquis agradava-
lhe sobremaneira. Descrevia em pormenor como apertava os
parafusos, dava a volta aqueles paus informes, aparava-os,
alindava-os fora de mquinas, desapertava os parafusos de
novo e l iam eles para outras mos fortes para polirem, depois
outras para lhes colocarem os ferros e assim por diante. A
irm estava no servio de colar as etiquetas e dar uma limpeza
final a cada esqui.
No fiques apoquentada com esta conversa sobre o frio de
Thonon, mame, porque mana tambm faz limpeza no hotel de
manhzinha muito cedo e o patro deixa-nos dormir no caveau
da escada no corredor onde tem um calorzinho sabe dia e noite.
(Idem: 19)
No h, porm, a possibilidade de ser um igual ao Outro,
at porque faz-se a descoberta de ser emigrante, o que significa,
naquele contexto cultural, a descoberta de que: Emigrante
lixo (...) emigrante no mais nada (Idem: 25).
Em Londres, no conto Requiem, por sua vez, o proble-
ma que emerge a questo do racismo, trazendo tona a j to
discutida questo da mestiagem caboverdiana, apontada pelos
socilogos como fator que contribui para o sentimento de
estranhamento e inferioridade. O preconceito traado em ambi-
ente londrino, onde se cria a atmosfera africana, proveniente
do elemento negro:
% "
Por falar em Londres, ali aprendeu a viver. Metia o nariz
em tudo ia a todo o lado. De uma vez os da Nigria, dos
Barbados, da Jamaica, quiseram o espao debaixo da ponte
para mercado. Foi quando se viu envolvida num comcio de
cerca de trs mil pessoas. Trs mil negros desfilando, danan-
do desde Nottingham Hill Gate passando por Porto Bello Road
at a ponte. Na camioneta os lderes tocavam com ferrinhos em
garrafas e em grandes bidons pintados de branco. Os polcias
de azul escuro fizeram uma corrente atrs e frente do cortejo.
Houve uma paragem debaixo da ponte. Houve comcio e houve
dana. Dana at a noite, Bina a rebolar-se a rebolar-se. Em
dado momento teve de se safar. Get out of here. Tu no s da
nossa raa, tu s cruzada, s da raa dos traidores. Get out of
here. (Idem: 130)
Lisboa o mar (Amarlis, 1989: 18) e, nesse mar de Lis-
boa, a tentativa de reterritorializao se faz em Campo de Ourique
e na Calada da Estrela:
Campo de Ourique deve ser bom. campo. Leiras de
favonas a trepar milheral acima. Mangueiras de sombra den-
gosa a tapar nossos beijos de fugida no pescoo das cretcheu,
canas chupadas perto do trapiche, grogue escarrapichado de
canecas de folha. E vai da, caram todos em Campo de Ourique.
Era campo. O nome dizia-o. E sobre a Calada da Estrela foi
uma coisa semelhante. calada, divagavam. Utopias de quem
vai para longe. Calada como as nossas da Morada. Polir a
calada procura de descobrir um overtime qualquer, dar com
o p na calada caada de noitadas em casa de nh Camila de
nh Man Cantante, que Deus-haja os dois, desafronta com
estrangeiros de bordo-de-vapor por causa das nossas
tchutchinhas, brigas com garrafas de gargalo partido quando
qualquer um nos tira em despique. Calada de Estrela deve ser
isso mesmo.
Mornar, brigar, apanhar uma fusquinha para esquecer esta
vida triste de emigrante. Ao menos calada, calada como na
% #
Morada. (...) como toda a gente da Morada l de Soncente. E
pronto, conclua ele, vieram todos c parar. (Idem: 31)
Apesar do esforo da relocao espacial e dos conseqen-
tes sentidos produzidos como forma de preservao da cultura
de origem com seus mitos, lembranas, expectativas e interes-
ses comuns, o Eu termina por descobrir as diferenas na relao
com o Outro. E, a, por meio de experincias nicas e intensas,
que se agudizam a viso e o esprito crticos e se agranda o
sentimento de saudade.
A transformao do desconhecido em conhecido no sig-
nifica a possibilidade de domnio, de liberdade, de plenitude de
ser. O Eu torna-se paciente e testemunho histrico e a imagem
, portanto, o resultado de uma distncia significativa entre duas
realidades culturais (Machado & Pageaux, 1981: 36), ou, em
outras palavras, a representao de um espao ideolgico con-
frontado com o espao de origem e, porque se reconhece a
hegemonia do Outro, a cultura de origem sempre receptora.
Assim, o estrangeiro torna-se expositor dos problemas
inerentes quela e sua condio perante o Outro.
Na inscrio histrica, o conto Luna Cohen, de Ilhu
dos Pssaros (Amarlis: 1983), alude Revoluo Portuguesa,
ao 11 de Maro, ao 25 de Novembro:
Arrependeu-se de no se ter referido reforma agrria ou
s nacionalizaes. Sobretudo s nacionalizaes porque vive-
ra esses dias em Lisboa. Os cartazes, os panos atravessados
no alto das ruas e casas da Baixa, o apoio da cidade, do povo
quando se soltavam slogans alegres e livres durante os desfi-
les, as canes a transbordarem das bocas das mulheres, estas
segurando estandartes de esperana. (Idem: 59)
Mas, a despeito das nacionalizaes, constata-se que A
% $
Europa e o imperialismo ficavam para alm daquela porta. Deste
lado era a explorao (Idem: 62).
Se a afirmao da identidade est incorporada ao territ-
rio, imagem primeira do arquiplago sobrepe-se uma outra,
traada apenas pela geografia humana onde, mais alto, fala a
amorabilidade caboverdiana. Ilhu dos Pssaros todo um can-
to de saudade e A casa dos mastros, no conto de mesmo ttulo,
define: Caminho de emigrantes, caminho da procura, caminho
de ir e voltar (1989: 48).
Agora, no h Pasrgada. Pasrgada revela-se como
exlio, no seu sentido mais amplo. H, agora, o arquiplago e
h o estrangeiro e a noo descendente do iderio da Certe-
za de que estrangeiro estrangeiro e Soncente Soncente
(Amarlis, 1983: 111). Ou o estrangeiro estrangeiro e Cabo
Verde Cabo Verde. E, ento, estabelece-se a ciso e a tenta-
tiva de fechamento:
E ns, riu com sabura e as mos falavam por ela,ns
estamos aqui em Soncente. Ns no precisamos de nenhuma
moda de estrangeiro li na Soncente. J sei, vais dizer-me nos-
sos patrcios mandam dinheiro de estrangeiro. J sei tudo isso.
Mas dinheiro de estrangeiro uma coisa e modas de estrangei-
ro outra, b ouvi? (Idem: 111)
No fechamento em torno de si, h o enraizamento na pr-
pria insularidade, que se assume como insularidade existencial e
idiossincrasia caboverdiana, numa espcie de fuso telrica e
maternal, num revolver de razes e mitos que, por meio do Rea-
lismo Mgico, como expresso da relao de uma cultura mtica
com a sociedade que a produz, trazem consigo a revelao da
prpria essencialidade do arquiplago.
A prtica discursiva de Orlanda Amarlis rompe com o
pacto realista desdobrando-se na tradio mtica, onde as parti-
cularidades configuram um carter coletivo.
% %
Chamamos mito, como o concebem Brunel, Pichois e
Rousseau, a um conjunto narrativo consagrado pela tradio e
que manifestou, pelo menos na origem, a irrupo do sagrado,
ou do sobrenatural no mundo (1990: 115).
Esse o espao que sobressai em A casa dos mastros, o
espao mtico, fechado em si mesmo, circular, como circular
o seu prprio tempo, o espao da ventona, do transe, que desor-
ganiza a realidade e o espao externos por ter uma organizao
prpria, na esfera dos espritos do culto afro, da fase pr-racio-
nal. Os limites entre o real objetivo e o real imaginrio so tnu-
es, porque na impossibilidade de estabelec-los que se insere a
tradio, e a tradio o empenho na busca da identidade.
Este o espao no maculado pelo estrangeiro. , ainda,
puro. Da a sua descrio em Lusa filha de Nica, de Ilhu dos
Pssaros, como diferente do j invadido:
J no era Mindelo a sua terra. J no eram as ruas da
morada, de meninas a saracotearem com samat de pele de
cobra da Guin e vestidos de cetim da casa dos indianos. Dond
mocinhos a venderem contrabando, cigarros de Gold Flake,
bandejas de alumnio, chocolates de bordo de vapor, margari-
na da Argentina, carne do Norte to sabe e tambm colches
furtados a bordo dum noruega, dum sueca. Dond latas de jam
e queijos da Holanda? (1983: 38)
quando texto e contexto cultural se fundem na constru-
o da identidade.
O estrangeiro sempre deixa marcas no arquiplago, seja
pelo processo de aculturao que instaura, renovando, na cultu-
ra receptora, as questes da hegemonia da alteridade, seja pelo
papel histrico representado. Nos dois casos, termina pondo
mostra os pontos frgeis da cultura original. Veja-se a estada dos
alemes:
% &
Praia falsa, muito poucas pessoas gostavam de ir praia
de Joo dvora. Haveria ainda nos penedos sobre o mar
sinais das marcas deixadas pelos alemes antes da ltima guer-
ra?
Os alemes tinham chegado num grande vapor de guerra e
marcharam para Joo dvora. Voltaram tarde, encheram
as ruas com os seus passos de ganso e o povo foi atrs deles
aos pulos. Nos outros dias espalharam-se pela cidade e visita-
ram as famlias da morada na companhia dos alunos do liceu.
Tocaram marchas no piano da Mam e prometeram chocolates
para o dia seguinte.
Quando correu a nova das marcas de tinta branca nos
penedos da praia de Joo vora, gente de Soncente estremeceu,
Povo receou. Aqueles riscos todos ainda podiam trazer azar.
Foram falar com o administrador, mas ele encolheu os om-
bros, meteu as mos nos bolsos das calas e entrou no seu
gabinete. Cambada de ignorantes. Raios!
Raios?! Mas alemo tinha marcado os montes de alto a
baixo com esmalte branco. Para qu ento aqueles riscos e
letras? Para qu? Administrador no queria ralar-se, queria
era boa vida, vida de Grmio, Whisky tardinha, gin e tonic
antes do almoo, farras.
Povo a passar fome, meninas a dar seu corpo ao manifesto,
marinheiros e alemes a emporcalharem com tinta suas ro-
chas, seus morros de ourela de mar. Era demais! Raios, senhor
administrador, raios porqu? (Amarlis, 1983: 112)
Quer dizer, no a questo ideolgica da guerra e da ocu-
pao o que efetivamente preocupa os caboverdianos, o que pre-
ocupa , sim, a interferncia na cultura.
Tambm os ingleses, por meio do Senhor William, por-
que j no havia minas, a guerra tinha acabado, a tropa comea-
ra a desertar e Soncente j no era Soncente (Amarlis, 1989:
60).
% '
Que So Vicente era esse? O da memria que, por defini-
o, organiza o passado para faz-lo agente de valorao e cons-
trutor da conscincia cultural.
(...) antigo Mindelo a desvanecer-se com a revoada dos
tempos.(...) Do Mindelo onde houve o Itacable, o Western
Telegraph, a exportadora de laranjas do senhor branco.
Quem em toda a cidade no teria trauteado ou assobiado
Quem tem s fidja descascal na laranja? J todos a teriam
esquecido, a morna das menininhas de fora da Morada a irem
para a fbrica, como iria ser esquecido o entreposto de carvo
e leo para paquetes ancorados ao largo do Porto Grande.
Ah!, os paquetes a demandarem outros portos outras gentes
outros mundos, em devaneios alcanados no folhear de revis-
tas americanas e da Argentina.
Comparsita em requebros, rumba negra coleante, charu-
tos de Havana e fio de ouro a prender o relgio no colete dos
big bosses.
De Mindelo recebendo de braos abertos judeus germnicos
em plena guerra de trinta e nove/quarenta e cinco. Esquecidos
glaucomas, diarrias e astenias dos soldados, pondo um pouco
de lado a febre tifide endmica da terra, comeou-se a falar do
Tarrafal, sempre se falou, mas acarinhando presos e deporta-
dos polticos, casando-os com as suas menininhas e enterran-
do-os com o mesmo corao partido como faria a um patrcio.
Mindelo de bailes de mocratas, de meninas lanadas no meio
do mundo. (Idem: 60,61)
A presena portuguesa, por sua vez, como colonizao,
se faz presente pela nominao: Administrao: Respeito, fun-
cionrios, priso, juzo, lgica, ordem, ptria, Portugal conti-
nental, Portugal ultramarino, cadeia, cadeia, cadeia
(Amarlis,1983: 113), para, no ps-independncia, colocar-se
apenas que: Independentes, o povo parecia estar contente(...)
(Amarlis, 1989: 62).
&
Na verdade, a histria caboverdiana peculiar desde a sua
mais remota essncia, da mesma forma que o foi o processo de
colonizao, que Manuel Ferreira sintetiza da seguinte forma:
A colonizao, a partir da segunda metade do sculo XIX,
havia j adquirido no Arquiplago uma feio prpria. Pelo
visto, a posse da terra e postos da Administrao, a pouco e
pouco transitavam para as mos de uma burguesia
caboverdiana, mestia, branca ou negra.Isto, que no
condiciona a explorao, pode condicionar as relaes da
explorao e alterar assim a natureza da oposio: em vez de
colonizado/colonizador, flectiria, em grande parte, para ex-
plorador/explorado, tal como sucede nas sociedades de tipo
capitalista, salvaguardando, claro, e sempre, os aspectos de
uma situao especificamente colonial, notadamente nas rela-
es entre o poder poltico e as populaes. (Ferreira,1977:
23)
Assim, pela prpria especificidade local, a independncia
precisa ser, ela mesma, aprendida:
Camarada Barreto varreu o grupo com os olhos e esperou.
Viu-se na obrigao de avanar com algumas considera-
es. Falou da independncia, da luta do dia-a-dia. Era preciso
levar o barco a bom porto, mas com a ajuda de todos. Falou da
calma do mar quando os navios no conseguem ir nem para
diante nem para trs e toda a gente fica enjoada a bordo. Ou de
quando sopra a brisa de madrugada e os mastros se partem
mesmo em mos de muito bons marinheiros. (Amarlis, 1989:
64)
Ora, sabido que, historicamente, as independncias po-
ltica e econmica antecedem a independncia cultural que ins-
taura, em ltima anlise, a busca da identidade cultural. Estamos,
&
portanto, diante de uma independncia em curso, e Orlanda
Amarlis, por meio da imagem, em seus contos publicados aps
1975, traz narrativa os fatores formadores da conscincia na-
cional: o conhecimento da realidade da cultura local, a valoriza-
o desta cultura, o sentimento de caboverdianidade e, tambm,
a incorporao dos padres europeus, onde o bilingismo uma
realidade. O reconhecimento nacional se d pela redescoberta
espao-temporal. Perde-se a identidade que s recuperada na
terra de origem. como sua produo literria se inscreve na
cultura, na Histria e na evoluo social de um Arquiplago que
escraviza e de um estrangeiro que interfere e marginaliza. Entre
os dois, caboverdianamente, se prioriza o Arquiplago, at por-
que, pensa Luna Cohen, em Ilhu dos Pssaros:
Rodeada pelo mar de pedras de S. Pedro haveria de
descortinar l longe o ilhu dos Pssaros. Ou no? No impor-
ta. O ilhu era a sentinela entre S. Vicente e Santo Anto. Mas
ela nada receava.Tinha o passe e a senha. ( Amarlis, 1983: 64)
2.2 riso o o ospolho
Retomemos Bakhtin e a perspectiva de situar a obra no
interior de uma tipologia dos sistemas significantes na histria.
O que faz Bakhtin, analisando a potica de Dostoievski,
por exemplo, resgatar a perspectiva diacrnica e Tania Fran-
co Carvalhal aguda nessa anlise em Literatura Comparada
(1986:48) relevada pelos formalistas, anti-historicistas, para
restabelecer os laos entre o texto ficcional e a histria, cujas
vozes, agora, confrontam-se.
Da a importncia da contribuio bakhtiniana:
A compreenso de Bakhtin do texto literrio como um mo-
saico, construo caleidoscpica e polifnica, estimulou a re-
&
flexo sobre a produo do texto, como ele se constri, como
absorve o que escuta.
Levou-nos, enfim, a novas maneiras de ler o texto literrio.
(Idem: 48,49)
atravs de Tynianov e de Bakhtin que Kristeva labora
sobre a intertextualidade: a linguagem potica assume-se, em suas
trs dimenses, emisso/ recepo/contexto, como conjunto
dialgico; e o texto, a dialtica entre estruturas textuais e
extratextuais. Como salienta Carvalhal, o espao de conflito,
o que equivale a dizer, um evidenciador, em si, mltiplo de uma
mesma realidade.
A carnavalizao, pelo tom, a menipia, com seus con-
trastes, e a polifonia, por meio da voz, so responsveis pela
instaurao do discurso intertextual e dialgico.
Interessa-nos, neste momento, a carnavalizao e o
entrecruzamento que a se d entre a ideologia e a contra-ideolo-
gia promovendo-se, por conseqncia, a refrao, a reviso cr-
tica, na combinao entre o que se nega e o que se afirma, a
desmitificao e a dessacralizao. o que Kristeva afirma como
cmico e trgico, morte e revoluo (1974: 79).
Ao tratar da cultura popular na Idade Mdia e no
Renascimento (1993(B)), Mikhail Bakhtin apresenta, entre as
fontes essenciais do carnaval, o folclore local com suas imagens
e com o ritual cmico e popular da festa.
onde, tambm, Ldia Jorge tem as fontes do seu O cais
das merendas, quando, por meio dos elementos tradicionais da
festa, e resguardando-os na prpria subverso: riso, brincadei-
ras, vida material e corporal, revisa valores, conceitos e mitos
relativos prpria identidade nacional.
Na verdade, Ldia Jorge subverte a tradio, embora man-
tendo os elementos da festa. Subverte a cultura popular, trans-
formando a merenda em party. Possibilita a viso do alheio no
& !
prprio e do prprio de si, quando a identidade se coloca como
crise e como riso ou como o trgico e o cmico, segundo
Kristeva. a instaurao da cultura carnavalesca, quando, se-
guindo o raciocnio bakhtiniano, constri-se, ao lado do mundo
oficial, um segundo mundo e uma segunda vida, onde a vida se
representa num tempo e num espao prprios.
As festividades, comenta Bakhtin, em todas as suas
fases histricas, ligaram-se a perodos de crise, de transtorno,
na vida da natureza, da sociedade e do homem (Bakhtin, 1993:
8 (B)), trazendo, portanto, em sua segunda vida, temporaria-
mente, na utopia da universalidade, os princpios fundamentais
de liberdade, igualdade e abundncia.
Por outro lado, se como quer Bakhtin, o tema do nasci-
mento, do novo, da renovao est associado ao da morte do
antigo, em Ldia Jorge o riso est profundamente arraigado
idia de renascimento que, por sua vez, vincula-se intimamente
questo da busca de uma identidade.
Aconteceu quando se chegou concluso de que aquele
encontro no poderia continuar a ser merenda. Porque meren-
da, como se disse, sempre lembraria o tempo das ceifas, por
exemplo, quando a dor de macaco tanto apertava o rim, que
apetecia uma pessoa morder as espigas que segava (...) Lem-
brava a era do trabalho sem hora, de sol a sol, o calor a dar
nas abas do chapu de uma pessoa como uma bofetada de luz.
Praganas, carrapichos, sementes traioeiras, munidas de um
bico de agulha ou de patinhas mordentes que se enfiavam nas
roupas procura da pele, para a depositarem seu veneno e
raivinha de erva. Quem no guardava a memria viva dessa
comicho (...)? Cinco horas vamos merenda. Ento o corpo
atirava-se por terra como para cima de colcho de pena fofa,
cho duro e restolho espetado, o assento a posto como tomba-
do, e comeava-se um remordo de figuinho limpo, seco e duro,
s voltas com a lngua, um grande calor de sede na paisagem,
e a bola mal salivada a conversar l dentro com as mucosas
& "
que tnhamos como se quisesse regressar fora, num desprendi-
mento de sabor a grainha, at o pr do sol. (...) Era isso a
merenda. (...) No meio desses despojos de colheita, as meren-
das eram to parcas, to frugaizinhas, como se se estivesse
permanentemente em tempo de guerra, acontecendo longe, mas
impedindo a fartura. Era preciso esquecer tudo isso. (Jorge,
1989: 17)
Se o esquecimento inaugura a morte de um tempo a que
se refere Bakhtin, a fartura surge como essencial na utopia de
um tempo novo, o princpio de uma nova era (Idem:187).
Os parties? Eram festas que todos sabiam acontecer s
vezes no meio dos bosques por onde passassem rios. Os inven-
tores desse tipo de funes escolhiam os locais com o rigor dos
estrategos de combate, e procuravam stios onde as rvores
fossem tamanhas que escondessem cervos. Que cervos? Por
isso os bosques deviam ser to frondosos que lembrassem os
contos do toiro azul, para que as folhas ora virassem prata,
ora virassem oiro, conforme se batia com um jarro numa pare-
de ou numa rocha. (Idem:18)
Da o fato de a dcima nona no ter sido anunciada como
merenda, coisa que lembraria figos, mas j como party, ajunta-
mento que falava festa, doces gestos... (Idem: 15).
As festas chamadas desse modo no deveriam comear
pelo comer, mas pelos jogos e pelos risos, brinquezas que entre-
tinham o convvio, provocavam a alegria e chamavam o apetite
(...) (Idem:19). (...) os parties deviam comear mas era por
toda a gente sentar e falar de vizinho para vizinho, conforme o
gozo e a vontade (...) (Idem: 20), desfrutando da condio, que
o carnaval propicia, de ser um igual, do contato livre e familiar
entre os indivduos.
& #
Contra o colo uns dos outros, e os outros sobre almofadas
de sumama, formando um grande crculo, um anel de muita
inocncia e fraternidade.(Jorge, 1989: 171)
Era isso, meus amigos. Se todos quisessem colocar testa
com coxa e cabea com brao, como salvaramos o mundo da
tristeza, do dio, da guerra, e da inveja. Do remorso tambm.
Tudo bichinhos roedores da vida humana.(Idem: 172)
H a absoro do individual pelo coletivo, do alheio pelo
prprio e a merenda, cerceadora do gesto livre, transforma-se
em party como libertao dos condicionamentos culturais.
A narrativa de Ldia Jorge , ainda, um problema de arte
na busca de representar a totalidade.
O foco narrativo mltiplo, transita entre personagens,
sem que haja marcas definidas de caracterizao, e confere ao
texto o tom da oralidade como se os diferentes indivduos vives-
sem e escrevessem simultaneamente recorrendo memria ou
no, dando vaso expresso coletiva. E as personagens adqui-
rem a transindividualidade na medida mesmo em que suas aspi-
raes so as mesmas.
Ldia Jorge preocupa-se com o nvel morfolgico da lin-
guagem, buscando expresses mais dinmicas. a linguagem
popular, viva, liberta, plena de frases insignificantes, de repeti-
es e de vocbulos e expresses grotescas, e s vezes permeada
pelo lirismo. um suporte de imagens literrias e visuais na
criao de realidades, criaturas e sociedade, objetivando a
evidenciao de seus traos significativos.
O princpio do carnaval pertence esfera particular da
vida cotidiana, afirma Bakhtin (1993: 6(B)). O que a se repre-
senta, com os elementos prprios da representao, a vida, e
a representao se d como espetculo teatral, num estilo em
que s falam imagens e dilogos. No entanto, ignora-se a dife-
rena entre atores e espectadores, estes, avocados a todo o
momento, porque tambm vivem o carnaval. Tudo aquilo
& $
vivido por dentro como artistas da nossa prpria cena (...)
(Jorge,1989: 40).
Ignora-se, do mesmo modo, o palco. Apenas se desloca
o espao da tradicional Redonda para o Alguergue. Foi escolhi-
do Alguergue porque o som do corpo da palavra era capaz de
lembrar a um rei vizir de lbio muito grosso e virilidade muito
tesa (Idem: 49).
Durante certo tempo o da transformao da merenda
em party , a representao transforma-se em vida real e, na
representao, h a apropriao do discurso do Outro, da lngua
do Outro, principalmente o ingls, onde o filme constitui o prin-
cipal fator a ditar comportamentos, deteriorando o processo
identitrio. Vem do filme a inspirao para o party, para o
barbecue. Da mesma forma, vm do filme as normas de ao e
o previsvel final feliz. Da a pergunta, quando Simo Rosendo
perde o anel e fica desolado: Era caso para perguntar. Algum
tinha notcia de um party terminar assim? (...) As amigas olha-
ram umas para as outras e realmente ningum tinha idia, por
mais que puxasse pela memria dos filmes, os olhos perdidos no
fim do mar(Idem: 41).
Ocorre que o estrangeiro, ou a cultura do Outro, termina
sendo, ela prpria, envolvida num processo de mitificao, por
meio do qual se delega a funo, pela da representao, de ser o
eixo irradiador da vida cotidiana e coletiva do Alguergue.
Essa imagem cultural, trazida narrativa por um discurso
simblico e mitificante, ao irradiar a nova vida modifica a pr-
pria organizao grupal.
afirmativa de que a conscincia dos dbitos comea
pelo uso das palavras (Idem: 16), o que caracteriza, no texto,
uma autoviso de inferioridade diante do Outro, sucede a certe-
za de que bastaria o novo nome dado coisa para a coisa se
transformar (Idem: 55). E a transformao significa a tentativa
de aproximao, pela imitao, do alheio, como se aquele mundo
se pudesse transformar no mundo do Outro.
& %
O peixe que aqui servamos era to feio s postas e as
postas to perfeitas, partidas com ferramentas to adagas, que
no provinham de certo nem daquela costa nem de nenhuma de
Portugal. Os peixes corvina postos ao lume eram to cheiro-
sos, que tambm no poderiam nascer nem crescer nas redon-
dezas daquele mar. E se assim no fosse, ningum nos disse o
contrrio, porque gostvamos de manter essa agradvel sen-
sao de estarmos rodeados de coisas de viajantes.(Idem: 44)
Ocorre que Ldia Jorge retoma o movimento que
tem marcado a histria e a literatura portuguesa, na alternncia
entre os sentimentos de decadncia, a decadncia latente, desde
os fumos da ndia e das pessimistas lamentaes de S de
Miranda e da apagada e vil tristeza de Cames, e de regenera-
o, como o Vintista, o Cartista, o Setembrista, o Positivista, o
Renascentista, o Searista, o Estadonovista. H, em O cais das
merendas, uma tentativa de apagamento daquele para a instaura-
o do novo: J no falando do imprio que tnhamos perdido
alm-mar? (Idem: 142). Estamos circunscritos pelo desejo de
vir a ser. (Idem: 143). E a regenerao est intimamente vincu-
lada festa.
Afinal valia a pena ter esperana na regenerao de todos
ns que somos capazes de acompanhar em p os bufetes. a-
mos pensando cheios de palavras nesse idioma, e o vinho saa
pelos gargalos fazendo espuma aos olhos, e produzindo do alto
o verdadeiro som das cascatas de frescura.(Idem: 167)
Somos felizes, amigos, to felizes que ainda nos parece
mentira. Ah sim. Parecia mentira terem vivido num tempo em
que era impossvel fazer parties, evenings, barbecues. Um tem-
po em que os morgados se cobriam de simples acar, my god,
e diziam.( Idem: 170)
O presente traz, ainda, as marcas de um povo habituado a
& &
desconfiar da esperana (Idem: 95), mas , tambm, o marco
da ruptura: E a se pressentiu que a saga do tempo velho ia ter
um fim to prximo, to prximo, que estava j a acontecer
diante de todos (Idem: 104). Importa o futuro e a sua utopia,
uma grande casa de janelas transparentes, toda iluminada (Idem:
186), reforada nos ritos e imagens do riso popular que integra a
festa.
no pice do banquete, o barbecue, que o realismo gro-
tesco se instaura de forma aberta.
Segundo Bakhtin (1993: 30 (B)), o grotesco carnavalesco
permite a ousadia no ato criador tanto pela associao entre ele-
mentos diversos entre si quanto pela aproximao do que est
distante; libera, portanto, do convencional, do comumente acei-
to, do consenso, inaugurando uma nova realidade, instaurando
um novo olhar sobre o mundo, permitindo a compreenso da
possibilidade de uma nova ordem.
No realismo grotesco (isto , no sistema de imagens da
cultura cmica popular), o princpio material e corporal apa-
rece sob a forma universal, festiva e utpica. O csmico, o
social e o corporal esto ligados indissoluvelmente numa tota-
lidade viva e indivisvel. um conjunto alegre e
benfazejo.(Bakhtin, 1993: 17(B))
O mundo grotesco est impregnado da alegria e das trans-
formaes.
De acordo com Bakhtin:
No sculo XX, assistimos a um novo e poderoso
renascimento do grotesco, se bem que o termo de
renascimento seja dificilmente aplicvel a certas formas do
grotesco ultramoderno.
A linha de sua evoluo bastante complicada e contradi-
& '
tria. No entanto, em geral, podem-se distinguir duas linhas
principais. A primeira o grotesco modernista.(...) Esse gro-
tesco retoma (em graus diferentes) as tradies do grotesco
romntico; atualmente se desenvolve sob a influncia das di-
versas correntes existencialistas. A segunda linha o grotesco
realista (...) que retoma as tradies do realismo grotesco e da
cultura popular e s vezes reflete tambm a influncia direta
das formas carnavalescas. (Bakhtin, 1993: 40(B))
nessa ltima que se alinha Ldia Jorge em O cais das
merendas. E o grotesco se faz presente no vocabulrio popu-
lar baixo; nas expresses populares, Apetecia cair de cu com
a singeleza (Idem: 218); no riso, Na praia a claridade era
to intensa e tudo to despido que qualquer santo quereria ser
violado depois da canonizao (Idem: 147); nas metforas e
comparaes que instrumentalizam as descries de partes
do corpo:
Que reparassem como a testa era alta, como o rosto lem-
brava um equdeo pela lonjura do cabelo e pela argola leve da
venta, fina e mvel como se estivesse sempre em vspera de
disparar um espirro. Equdeo? Os dentes to afinadinhos, to
regulares, o riso to polpudo como de mulher sensitiva, mas
rodeado de penugem cor de mel, o lbio vermelho sem ser
pintado. E porque a barba parecia espontnea e clara, (...)
havia no seu semblante um ar de doura adolescente que lem-
brava um artista pronto a desempenhar o papel de jovem conde
enamorado.(...) Tambm deixava a descoberto o peito, esse
no penujado sequer, antes brilhante como de cetceo recm-
nascido. Cetceo? Parece que se untou com margarina, meus
amigos.(...) Que tara, my goodness. (Idem:150)
Nas cenas do Folhas, homossexual, na praia, com os seus
amigos:
Venham, venham ver que vale a pena. (...) Attention.(...)
'
Tout le monde par terre. Os espreitadores de barriga para
baixo assestavam o olho e o ouvido. Ai nunca, nunca nos rimos
tanto como nesse ms de abril. O jovem loiro despia-se, vestia-
se, caa e andava a passo. Galgava, saltava, dava voltas com
o p, gastando horas a fazer de jogador atrs de uma pla
invisvel. Modelo de nu e esttua pedestre, s vezes como se
eqestre, e segurasse entre as mos as rdeas de um ginete
veloz. (...) Porra que vimos muita coisa nas casernas e nos
pores dos barcos, mas tudo tinha um fim que naturalmente
era um acto. (...) S que tambm era interessante assistir
despedida dos gajos. (Idem: 153)
Na presena das vomitadoras, diante do exagero e da far-
tura:
Cada um manifestava a alegria e a felicidade como sa-
bia.(...) As vomitadoras no vinham como se estivessem a com-
binar qualquer revolta encabeada pelo mar, adiante, os olhos
postos nele. No gostvamos. (...) S que comeavam a regres-
sar as mulheres amarelecidas dos arrancos feitos para as
guas, as mos nos estmagos, como ulceradas por coisas
salmoiras e crustceos.(...) E atentou bem na palidez dos seus
rostos. Ah porra. Voil les enceintes, meninas, verdadeiras
paridas. Zulmira Santos, a primeira a ter dado sinal de nusea,
indo fazer o seu ruidoso vmito sobre as escarpas, respondeu.
(...) Limpem as bocas, meninas, do azedo desse vomitado. (...)
No se faam esquivas, ovelhas. Sunos. Disseram elas. (...)Em
cima de mim ningum pula e ningum pular. (Idem: 185,186)
No prprio fato de o anel perdido por Simo Rosendo,
cuja perda simbolizara uma espcie de tragdia, pelo
envolvimento com a prpria identidade, um sinal de viagem e
de estadia (Idem: 43), com o pressentir do azar, ter sido, afinal,
engolido por Valentina Palas:
'
Porque no contaste que eu teria ido procurar com um
pauzinho at encontrar, se eu tivesse sabido disso? Aposto que
foi metido na mousse, caiu-te do dedo, homem, e eu no dei por
nada. (...) Lembra-se, senhora Valentina, onde deu de corpo no
dia seguinte? No, no se lembrava, ningum apontava coisas
dessas no calendrio. (...) Simo no tinha nem um bocadinho
de esperana, e sentia-se duplamente frustrado ao pensar no
trajecto da sua jia, possivelmente desde a boca da senhora
Valentina at ao esgoto do mar. (Idem: 236,237);
E, ainda, em uma das verses sobre a morte/ suicdio de
Rosria, a de Rui Seladinha, a melhor testemunha do acontecido,
quando a morte se confunde com o banquete:
No se lhe via a cara, mas saa-lha por aquela pedra afora,
feita almofada, um vinho tinto como poort wine. Verdadeiro e
velho, do que no escuma de doce, tem fundalho e enche a vista
de idias rubras. J perto do xarope. A escorrer dos ouvidos
pelas risquinhas da pedra abaixo. Ou melhor. Da cor da ferru-
gem feita licor. Eram ento como minhocas vivas a caminho da
terra que procuravam o mesmo lugar da inclinao. O cami-
nho escoante, escoante. E das fracturas da cabea, aberta como
uma rom escarchada de madura, uns spaghettis brancos e
cinzentos como prurido do pensamento, p. Isso lhe saa do
que tinha sido cabea, p, e o Folhas a olhar e a querer enxotar
os nacionais que vinham ver como a moa se fizera salada de
uma fruta s, p. No verdade, Sebastianito? E afinal, p,
debaixo do molho de roupas, via-se-lhe uma anca bem feita que
nunca ningum lhe vira, embora em ponto ainda mido. Nunca
ningum lhe vira, p, mas naquele momento todos compreen-
demos que era um verdadeiro osso buco italiana que se ofere-
cia de graa aos olhos da tarde, mas tambm sabamos que
ningum a tinha mandado atirar-se, e quando o Folhas lhe
virou a cabea, p, portanto, eu fugi, p. Aqui del-rei. Aqui
del-rei, disse eu, p, porque tive o pressentimento de ir ver
uma pizza ensopada de molho e de recheio primavera de flores.
'
Tomate, talvez.Um ketchup de fresco, amigos,feito com a carne
e o sangue vermelho de Rosria. P. O cheiro que se despren-
deu era doce, de carne passada, p,pedindo alho e cominho
para ser temperada e servida, p. Tive tanta sorte, p, que no
s fiquei dispensado da guerra por um triz,como vi um morto
desde o princpio at o fim. Fiquem todos calados, que no sei
se ainda estamos bbados. Ou ser da digesto? (Idem:
182,183)
Evidentemente que o realismo grotesco marcado por
imagens hipertrofiadas, exageradas. Isso porque tambm o o
princpio da vida material e corporal em suas imagens do corpo,
da bebida, da comida, da satisfao de necessidades naturais. E
a lgica interna a nortear esses exageros no outra seno, ain-
da, a da superabundncia. No h, portanto, o intento do ridcu-
lo pelo ridculo, mas o da apreenso da totalidade do processo
vital, em que a festa, a fartura, a utopia, o riso, enfim, adquirem
um carter de confronto de tempos e ideologias e, do confronto,
a ruptura. Entra-se na organizao de um mundo no-oficial que
possibilita a avaliao daquele, no qual por exemplo, a Igreja ter-
mina sendo criticada pela interminvel repetio dos ritos, pelo
anacronismo e pela estagnao.
O mundo comunica-se nas lnguas da revelao. O hebraico,
o aramaico e o latim.Vers,minha filha, que em breve vo
aportar s praias gentes vindas do pas do lcio. Por isso se
canta com tanto fervor. Adeste fidelis. Venham todos depressa,
fiis. (...) Contra a soberba? Humildade, meu padrinho. E con-
tra a luxria? Castidade. Est bem dito. E contra a
ira?Pacincia. Contra a gula?Temperana. Contra a avareza?
Liberalidade, meu padrinho. Contra a inveja? Caridade. Est
bem dito. E contra a preguia, contra a preguia, minha afilha-
da? Contra a preguia, diligncia, senhor padre. Diligncia,
sim senhor. Vai-te embora, rapariga. A torre da igrejinha como
um mostrador de lentido parado. (Idem: 148)
' !
O universalismo e a liberdade do riso vinculam-se com a
verdade popular no-oficial, diferentemente da posio da igreja.
Da a afirmao bakhtiniana de que o riso no impe nenhuma
interdio, nenhuma restrio.
Ele a revelao nova de um mundo novo, mais lcido na
medida em que marca o reconhecimento externo de direitos in-
teriores anteriormente massacrados pelas convenes e dogmas
oficiais. Ainda que, em O cais das merendas, se mantenha o
receio do vcio, como condiz a uma festa, ele no elimina a pre-
sena do jogo. E a festa mas comer e beber (Idem:165).
o banquete, a fartura.
(...) todo o pessoal tinha estado em volta de um grande novilho
a assar-se sobre uma chama de lenha ateada por aquele ventinho.
Todos sabiam como era. Costumavam erguer um espeto suspenso,
gente, dando manivela, para o bicho se tostar daqui e dali. Ah
caramba,(...) o milagre do calor sobre a gordura de um bicho mor-
to. (Idem: 164)
Convm abrir ao meio (a sardinha), amigos, puxando esta
ripinha como a da fava e do feijo verde. Basta apanhar aqui o
fiozinho no stio exacto. Que assim se podia comer doze e mais
doze e mais doze, se houvesse desejo de tanto. Todos em volta
de naco de po verdadeiro como no tempo em que se cozia no
nosso forno da Redonda. Podem com-las, que nem ao fgado,
nem ao bao, nem ao intestino, essa carne de peixe assim trata-
da poderia fazer mal a algum. (Idem: 165)
Havia ainda um segundo cesto. A eram os frangos. Aber-
tas ao meio as aves, estavam esventradas de qualquer conte-
do, as coxas afastadas como para uma ltima oferta do corpo.
Os pescoos decepados e rentes que a imagem das cabeas
para nada servia seno para lembrar a degola. Antigamente
at a crista, meus amigos, at a crista se comia com arroz.
Dizia Leonardo. S se deitava fora o bico e era com pena, as
unhas recurvadas e o fel azul. De resto era tudo. Alm da
buchada. Credo, no me lembre coisas tristes. (Idem: 166)
' "
a abundncia que determina o carter festivo. Era como
se fssemos aniversariantes de dezoito anos, meus amigos, e
por conjugao do calendrio, todos estivssemos a festejar o
mesmo dia(Idem: 164). E, na festa, a igualdade, o carter
familiar entre indivduos normalmente separados no outro mun-
do por barreiras da sua prpria condio, do interesse idade
ou, ainda, situao financeira ou ideolgica.
Passa ao Quinas, passa ao Rui, passa ao Edmundo, passa
Catrinita Mendes que me fez de noiva no party passado,
passa ao Bengango, passa ao Sebastio Guerreiro, thank you,
vai passando, vai passando. Os garrafes sobre a pedra.
(Idem:167)
E porque todos so iguais, num dia de inaugurao para
qu manter ressentimentos com as crianas? (Idem: 169), os
Joanos.
Por que o ressentimento? Porque Joo e Joana represen-
tam a fissura nessa segunda vida. Trazem consigo as marcas da
outra, a que se antagoniza com esta. Netos de Cipriano, mendi-
gos, so a anttese da fartura e, mais do que isso, so seres
estigmatizados.
Mesmo que a merenda se tenha transformado em party, a
questo da moral persiste tanto quanto o receio do vcio. E os
Joanos, no party, onde ainda procuram sempre enterrar a repu-
tao das mes (Idem: 67), so filhos de uma da categoria a
que, ali, se conhece, como na Frana, como les putains (Idem:
69). A filha de Cipriano havia deixado o marido, um pescador de
bacalhau, para fugir com um algeriano e aquele se suicidara.
Assim, as crianas so o oposto da fartura e da festa.
Apenas Rosria, a grande presena ausente de O cais das
merendas, que fazia parte dos que iam e vinham, e por isso se
chamavam eventuais, apenas Rosria os aceitava:
' #
Rosria gostava agora de tudo,mas queria voltar a vender
bolas na praia para poder pisar na areia e falar vontade com
os Joanos, dar-lhes as duas ltimas do cesto, ver os peixes de
escama cor de rosa que o Cipriano trazia s vezes no fundo do
barco(...) Os Joanos eram to amigos, e tinham tanta vontade
de rir desmanchando-se todos, mas na areia que era bom,
perdidinhos na festa. (Idem: 201)
Entretanto, porque tempo de festa, a que marca a se-
gunda vida, o mundo no-oficial, Sebastio pensa sobre a possi-
bilidade do fim dos ressentimentos, e o fim dos ressentimentos
significa a aproximao, mas no a igualdade, essa irrecupervel,
como o prprio estatuto de gente:
O Cipriano descia ao barco com os Joanos. Tinham crescido
e vinham quase nus, as cabeleiras eram to eriadas e frondosas
que pareciam floridos chapus de palha a sair da testa.Ainda um
dia Sebastianito haveria de trazer duas bolas embrulhadas em
papel vegetal, coalhadas de lnguas amarelas, doces e deslizantes,
polvilhadas de acar granulado e branco,e se deitaria na areia
para dizer como a gatos tresmonteados. Bichaninhos,
bichaninhos. Desembrulhando. A princpio fugiriam, mas de-
pois, quem sabe. (Idem: 250)
Se aqui a forma de vida fartura, festa, carnaval, futuro
configura-se como ideal, na concepo do espao que a uto-
pia se realiza em plenitude:
Apesar do vento e da paisagem deste mar bravinho,
estamos, olhem que estamos no tero do mundo. Assim se cha-
ma a parte da barriga da mulher que incuba os filhos. Vamos
mas adormecer, moas e moos, reis e rainhas (...) Parece-
mos o rei francs que disse l em marselha. Nous sommes les
rois des rois. Ns.(Idem: 122)
' $
Essa imagem do tero do mundo a prpria imagem do
renascimento. Nesse renascimento, o ar, o mar e o sol consti-
tuem um todo mas de partes bem distintas, e por isso no h
matria para crenas nem para mitos, idias estpidas (Idem:
113). Isso porque a segunda vida , em si, a vida sob a forma
ideal ressuscitada, onde, inclusive, se reconhece a integrao
com o cosmo.
Tudo isto anda unido e no damos um pontapezinho numa
pedra que os astros no cu no a sintam, assim somos impor-
tantes neste mundo.
Realmente. Realmente as conjunes so to perfeitas que
vendo bem as coisas,se a gente estivesse atento dispensava a
compra da folhinha borda-dgua. A ligao entre tudo to
perfeita, to perfeita. (Idem: 89)
Ora, a festa pressupe um tempo determinado que aquele
de ruptura com o velho, com o cotidiano oficial, para a instaura-
o do segundo mundo, da segunda vida, do riso e do futuro
utpico, mas que, por sua vez, ainda que traga consigo o
renascimento, no se converte, por ser um tempo determinado,
ele mesmo, em cotidiano.
O elemento gerador da ruptura com a utopia, em O cais
das merendas, o Outro, o mesmo Outro de quem os partici-
pantes do party se apropriam da lngua, do discurso e do com-
portamento por meio, principalmente, dos filmes, mas tambm
das revistas. , em ltima anlise, o estrangeiro, aqui represen-
tado pelo holands, o empregador do Alguergue, mas poderia
ser qualquer outro. E o motivo para o desentendimento o sui-
cdio de Rosria. Quem haveria de querer vir para um lugar em
que algum se tivesse suicidado? E a falta de turistas no local
levaria ao fechamento do Alguergue, ao desemprego e, portanto,
volta realidade primeira.
' %
Este fato, o desentendimento, coloca os participantes do
party diante do espelho, ou seja, diante de si mesmos. H o res-
gate da lngua:
seu sacana, escute a. Tudo em portugus que de ora em
diante quem tinha de fazer o esforo era ele, no ramos ns.
Acabou-se esta histria de se dizer thank you em vez de bem
haja, ou at o contrrio dessa idia que muitas vezes se queria
dizer. seu sacana. Escute a, temos c umas contas a ajustar.
(Idem: 221)
H, tambm, a redescoberta do espao:
Nada temos mas a ver com esses areais do fim do mundo.
No nosso, banhado por esse mar rasinho e atravessado de
pegadas humanas, mesmo que eles no venham, se deita um
homem e cama. Come um homem e mesa, corre um homem
e estdio. Neste areal. Joga um homem e bilhar, espreita um
homem e cinema. Alm disso, tambm bom no esquecer.
Conquista-se uma mulher e faz-se filme, no nosso areal. (...)
Por que no viro? (Idem: 227,228)
E h uma outra viso do espao do Outro:
Dizem que os mares deles so cinzenta gua das lavadu-
ras. P. E que as areias, se as tm, quando as tm, so cor de
caca desfalecida. No me canso de repetir isso porque a nos-
sa maior garantia. E o sol, o sol nem se v, sempre escondido
atrs das nuvens. Que l. Dizem. So mais escuras que aqui
quando chove e troveja. Em alguns stios os fumos e os nevoei-
ros fazem uma bruma to espessa que se corta faca e fica em
duas metades. (Idem: 229)
' &
Mas h, sobretudo, a presena do mgico, do fantstico,
do sinal que, a exemplo de O dia dos prodgios, no se sabe,
ainda, desvendar. no dia da sanha, quando houve um plano,
coletivo, de colocar algum, um algum que representasse to-
dos, no lugar do holands. Como ele no tivesse aparecido, sur-
giu a idia de uma emboscada, e as armas, para intimidar, seriam
dois pedaos de paus j secos: (...) seu sacana, temos contas
a ajustar. Tnhamos as palavras engatilhadas.(...) assim mes-
mo que a gente anuncia a porrada e no est mais para
conversas(Idem: 221).
Entretanto, naquele espao pequeno de tempo, na noite de
15 de agosto, os varapaus j no eram os mesmos:
O que isto? Puxaram a lanterna e apontaram a luz. Isto
contaram eles depois de conseguirem falar, Rosria. No que
os paus secos tinham rebentado em renovos e guias s suas
costas? Desabrochando folhas e flores? Puro pessegueiro flo-
rido, com ptalas brancas e rosadas de primavera? (...) Ainda
as luzes no tinham sido apagadas pelas nove horas da manh,
e todos no trio, sentados no cho como num acampamento
religioso espera da revelao. (...) Ficou ento combinado
que aquele no seria 16 mas 15, que ningum voltaria a falar
dos varapaus, nem se pensaria no sinal. Ou queremos dar em
doidos? E daqui para a frente, tudo bem, tudo bem. Isto s para
demonstrao. (Idem: 221,222)
Ora, no h a revelao, h o intocvel, o maravilhoso do
povo que emerge no momento de reao, de no aceitao pas-
siva, porque tal processo parte intrnseca da necessidade hu-
mana de reconstruir-se, miticamente, em sua histria para que
possa suport-la. Como quer Malinowski, o mito preenche uma
funo indispensvel: expressa, valoriza e codifica a crena; sal-
vaguarda e refora a prpria moralidade. E, ainda que no se
explique, ainda que s sinal, ainda que no se fale, recria a vida
' '
do grupo projetando, simbolicamente os seus sentimentos fun-
damentais, dando-lhe coerncia, trazendo consigo a noo de
que tudo vai mudar, at porque o passado das merendas, e tudo
o que ele significa, j , por si s, irrecupervel, apesar da ambi-
gidade do presente. Quando Valentina Palas diz que ele que
era tempo, todos riem. E j no pode voltar porque a marca do
Outro est para sempre posta. Cabe a Sebastio Guerreiro a
intermediao entre os dois tempos.
E no gratuito que seja um Sebastio, como o do mito
do sebastianismo. Ele o cagaa e deixa de s-lo. Ele o
diferente. Ele foi pensado por deus para um fim que est
(estava) por descobrir (Idem: 47). Ele o portador do Outro
que conhece por revistas e fotografias. Ele o agente do peace
and love. Ele o conhecedor do amor por miss Laura. Ele um
epaminondas, numa referncia ao militar tebano, grande
estratego e estadista. Ele o heri da estncia. Ele , enfim, o
escolhido. Um escolhido em crise, verdade, em crise de amor,
de solido e, sobretudo, de identidade. H, na crise, o processo
de remitificao e de desmitificao daquele outro Sebastio,
dentro do prprio projeto literrio de Ldia Jorge, no sentido de
despertar a conscincia nacional para um outro tempo.
ainda ele o portador da conscincia de que:
Com este esprito que a gente fazia os parties. Agora os
bocejos eram uma verdadeira respirao da noite. Aquela idia
simultaneamente vaga e precisa de que queramos passar da
misria fartura sem sermos assaltados pela dor do conheci-
mento. Talvez a maior verdade de todos. Devamos escrev-la
na testa. (Idem: 233,234)
O retorno fica descartado, fica descartado o no ter hora
para comer ou descansar ou ficar sem banho, o semear milho e
o ordenhar gado, o lavrar e o jungir bestas. Ocorre que o passa-
do um tempo em decomposio.
O presente, entretanto, mostra-se como um mundo in-
completo, em transformao pela presena e a absoro do Ou-
tro, e o futuro, por sua vez, est ainda em formao.
...j no se usa. In Portugal. Im sorry. J no? Ai que
pena. J no, lady, a vida. Pem tmulos diante de tmulos
mas ningum ressuscita,at a terra tem os bilhes de anos con-
tados para morrer, quanto mais os que j l tm a sua carcaa.
(Idem: 250)
Agora, tambm se perdeu a primitiva pureza, e Sebasti-
o quem configura a perda pela frustrao do amor dedicado a
miss Laura:
Pois muitas haveriam de trazer casacos de peles polpudas
como de urso polar (...) E com elas haveriam de cobrir os
ombros de mister Sebastian. voc o dos posters? Sou, sim
senhor. Crawl borboleta, borboleta crowl. Tudo sobre a areia.
Oh poor. Compensando-o de tudo com palavrinhas de me e
my son. Depois seria s dobrar as notas na algibeirinha de
trs, e no haveria de importar essa impresso de ser judas,
ficando o resto das noites espera que os judeus fizessem sua
arruaa, pilatos descesse rua, os galos cantassem, pedro
renegasse a cristo, e uma figueira descesse os braos com a
corda preparada. Enforca a traio beleza. (Idem: 251)
Estamos, portanto, diante do processo de desmitificao,
de um mundo incompleto, em que o passado se decompe, o
presente se transforma e o futuro , ainda, projeo, uma incg-
nita a ser desvendada como a charada proposta no ltimo par-
grafo do livro:
Depois chegamos ns por ouvir falar do caso e procurmos
algum que ainda no tivesse perdido a memria. Encontra-
mos as testemunhas, mas Aldegundes, por exemplo, j no sa-
bia como voava um pssaro. (Idem: 251)
Quer dizer, O cais das merendas ou os parties - onde o
comer coletivo e social - opem-se a um mundo organizado e
consolidado, orientado por regras convencionais e discursos imu-
tveis na tentativa de formar um outro universo. Esse, por sua
vez, busca ser uno e coeso para, na apropriao do comporta-
mento, do discurso e da lngua do Outro, respaldar-se num ca-
rter eminentemente utpico. Morre o primeiro, nasce o segun-
do.
Quem morre? Um Portugal antigo, pr-revolucionrio,
fechado em si mesmo e nas suas tradies, ilhado da Europa e
da modernidade da Amrica.
Quem nasce? Quem ainda no se sabe: um povo ainda
mergulhado nas utopias.
Ora, os sonhos de bem-aventurana so to antigos quanto
a prpria humanidade e a literatura bem o demonstra. Hrcules
busca as Ilhas felizes, Ulisses quer reencontrar taca, Enias quer
construir uma nova Tria, Vasco e os nautas portugueses en-
contram a recompensa na Ilha dos Amores. Por outro lado, es-
ses mesmos sonhos terminam sendo reforados pela proclama-
o proftica da vinda de um Messias. A esperana messinica,
popularizada pelo cristianismo, alimentou sonhos milenaristas ao
longo dos sculos, desde a Idade Mdia, afirma Donaldo Schler
em seu artigo Viso do Messianismo no Brasil (1995:03).
Ainda que sejam raros os povos que no tm a crena
fundada no regresso de uma figura imortal para conduzi-los
glria, em Portugal, que ergueu e deu ao mundo um Imprio e
que se viu ultrapassado por esse mesmo mundo, o messianismo
adquire uma dimenso prpria.
no sc. XVI que Portugal levanta o messianismo mili-
tar, com o saque de Roma pelo exrcito francs, o que vinha
contra a formao do imprio poltico-espiritual proposto pela
cria romana. O ano de 1580, entretanto, trgico para as ambi-
es messinicas e imperialistas portuguesas. Perde, inopinada-
mente, a esperana de recuperar, por meio das armas, as rique-
zas que permitira a Portugal desbravar mares nunca antes nave-
gados; a esperana de sanar as finanas detendo o declnio; a
esperana da monarquia. Dom Sebastio morto, no Marrocos,
em Alccer Quibir, batalha travada contra os espanhis, em cir-
cunstncias misteriosas, gerou frustrao nacional. Acrescente-
se a isso o pavor do povo de cair sob domnio espanhol.
Considerando-se as circunstncias scio-econmico-re-
ligiosas, o desejo de t-lo vivo transformou-se, pela projeo,
em mito, passando a traduzir a esperana no aparecimento de
um salvador qualquer. Isso terminou levando prpria explora-
o poltica do mito, de que, por exemplo, se valeram os jesutas
e Dom Joo IV, o encoberto. Nasce o sebastianismo, afirma
Donaldo Schler, variante portuguesa do messianismo. Se a
restaurao do trono no fosse obra dele, outro devolveria a so-
berania aos portugueses (1995: 03). Quer dizer, ele apareceu
como garantia sobrenatural de independncia e, portanto, de res-
taurao do reino. Vivo ou morto haveria de cumprir seu destino
providencial. Aqui, afirma Jos Antonio Saraiva (1981: 09), h
uma reminiscncia da lenda do rei Artur, conhecida em Portugal
na Idade Mdia.
Ora, a projeo do desejo est subjacente criao de
todas as utopias, como descrio de um mundo maravilhoso o
que Ldia Jorge reproduz pelo carnaval, por um segundo mun-
do, o da representao, paralelo ao primeiro, e por um segundo
Sebastio, o Guerreiro.
Se sebastianismo um sentimento que encarna o pensa-
mento coletivo na busca de superao a tudo o que de trgico
apresenta o cotidiano e se, mais ainda, quase que corporifica a
esperana na redeno pela presena miraculosa de uma fora
nacional, pode-se afirmar, conforme Antonio Saraiva (Idem: 09),
que os mitos histricos so uma espcie de conscincia
!
fantasmagrica com que um povo define a sua posio e a sua
vontade na histria do mundo.
Tambm isso acontece em O cais das merendas na traje-
tria da superao e substituio da merenda pelo party. Onde,
ento a desmitificao?
Na capacidade de Ldia Jorge de apreenso crtica do tem-
po e do espao histricos, que so os seus. No prprio tom do
carnaval, na prpria configurao do carnaval, na negao e afir-
mao do carnaval, no riso srio do carnaval e, se a questo da
identidade passa pela reflexo sobre a presena e o estatuto do
Outro, na compreenso, enfim, de que no h passagem poss-
vel, da misria fartura, sem a dor do conhecimento.
Quem nasce? Um povo perdido da memria e distancia-
do da identidade, uma vez que se circunscreve uma nova de-
pendncia cultural, dicotomizando auto-afirmao e autonomia,
voltada, essencialmente, para a valorizao do consumo ilimi-
tado.
Morte e nascimento marcados pelo exagero, pelo
hiperbolismo que trazem consigo uma outra forma de revelao.
um novo ver-se no mundo e um ver o mundo com outros
olhos: os crticos. Ocorre que o carnaval no reprodutor puro
e simples de arqutipos dos mitos e rituais da sociedade primiti-
va. Bakhtin esclarece que a perda da funo mgica elemento
do rito agrrio antigo contribuiu para o aprofundamento do
aspecto ideolgico na cultura carnavalesca.
A afirmativa anterior de que Ldia Jorge est inserida no
seu tempo, na fico ps-74 e na temtica da Revoluo, no se
invalida por essa outra revoluo instaurada no cais, num outro
nvel da histria, o que a fico permite.
Eduardo Loureno quem faz a sntese:
Fracassadas ou vitoriosas, as revolues so grandes con-
sumidoras de imaginrio activo.(...) Surge assim uma espcie
"
de contradio entre a vertigem secreta do imaginrio e o ful-
gor da sua urgncia histrica. O nosso momento revolucion-
rio teve, contudo, uma singularidade: a de ter convocado, ao
mesmo tempo, as duas formas do imaginrio. Mais que revolu-
o vivida, a nossa foi logo, desde o incio, revoluo sonhada.
Durante um ano pois mais no durou o momento revolucio-
nrio , o Pas viveu em estado onrico.(...) Surgida como um
milagre, como um milagre se prolongou (...) (1984: 7)
Pois a Revoluo vivida e sonhada portuguesa foi,
apenas no desejo e na imaginao, uma transformao mais fun-
da; na prtica, precipitou a metamorfose de um povo saindo da
realidade regional e provinciana para a descoberta de uma civili-
zao voltada para o consumo e o multiculturalismo, na tentativa
de superao das dualidades: cultura superior/inferior, centro/
periferia. Na conscincia profunda do povo portugus, co-
menta Antonio Saraiva, o progresso foi visto como uma reali-
dade prpria dos pases adiantados (...) mas no como coisa
prpria sua. (1981:10). o que O cais das merendas vem dizer,
garantindo, inclusive, sua atualidade no panorama portugus
contemporneo. Por trs das mais fantsticas imagens de Ldia
Jorge do material fotogrfico, pois que ele compe seu texto,
e do material verbal , alimentadas pelo tom do carnaval e da
ironia e pelas imagens compradas dos mitos de Hollywood, h
apenas o mundo real a demandar novas mitologias. Rompe com
as que considera estreis em favor das que possam carregar
consigo a instabilidade e a crise dos tempos, recusando as utopi-
as, voltadas para a construo de uma identidade portuguesa.
2.3 As imugons crozudus
Ainda que se detecte sua necessidade como forma de su-
perao da insularidade, o Outro, para a cultura caboverdiana,
essencialmente mtica, significa risco e isso se coloca acima do
#
plano ideolgico, tal como se demonstra nos contos de Orlanda
Amarlis; para a cultura portuguesa, simbolicamente representa-
da em O cais das merendas, o processo inverso.
O caboverdiano, na obra de Orlanda Amarlis, teme a
aculturao, sob pena de tornar-se um estranho para si mesmo,
o cigano errante. O portugus jorgiano, ao contrrio, envolve-
se, na obra em estudo, num processo em que se apropria simbo-
licamente da identidade do estrangeiro na tentativa, inclusive,
pelo grau de apropriao lngua, discurso, comportamento ,
de fazer com que desaparea a diferena, voltando-se, assim,
para o esteretipo. Pelo carnaval, h a cenarizao do espao e,
nesse espao, a representao. H, aqui, uma indicao muito
clara de que a diferena corresponde a distintos estgios de con-
solidao (construo) e de afirmao identitrias. Na primeira,
recusa-se o estrangeiro, na segunda, nutre-se dele.
Em ambos os casos, tanto na obra de Orlanda Amarlis
quanto na de Ldia Jorge, o estrangeiro figura como superior
cultura nacional e sua importao significa, em ltima anlise,
esse reconhecimento, uma vez que tal processo configura o pr-
prio espelhamento: olhar o Outro e construir sua imagem signifi-
ca revelar a imagem que o Mesmo tem de si.
Ora, no h, portanto, como desvincular a presena e o
estatuto do Outro em um espao heterogneo da questo da iden-
tidade.
Na literatura caboverdiana, h a luta pela sua preservao
e isso se explica pela prpria histria de ex-colnia que teve uma
outra histria e um outro passado superpostos sua prpria his-
tria e ao seu prprio passado mediante o procedimento
colonialista tirnico, racista, desumano e absolutamente
paternalista, no sentido de obstruir a autogesto de sobreposio
cultural, tomando como instrumento de converso ideolgica a
lngua.
2
Expresso usada por Benjamin Abdala Jnior
$
Como as independncias poltica e econmica, via de re-
gra, antecedem a independncia cultural, intimamente vinculada
questo da identidade, e como, em termos histricos, duas
dcadas um espao de tempo pequeno, as ex-colnias defron-
tam-se com a contestao da cultura colonizadora, de um lado,
e, de outro, com a auto-afirmao, o que significa autonomia e
identidade.
O que Ldia Jorge nos traz, entretanto, dentro daquele
mesmo perodo de tempo, a ruptura de um Portugal regional:
Sabemos que esse pas sempre se voltou para o mar, para
as ex-colnias. Mais para atividades fora do continente euro-
peu do que para as relaes internas com os demais pases da
Europa, onde aparecia em situao de inferioridade. (Abdala,
1993: 40)
O que, ento, se busca a ruptura com essa potncia de
segunda ordem
2
, com o Portugal provinciano, com seus prprios
mitos, para abrir-se ao multiculturalismo, provocando, uma crise
de identidade. A, a lngua, a exemplo da tenso da literatura
caboverdiana e africana enfim, diante do bilingismo, adquire a
mesma dimenso, apontada por Manuel Ferreira em No reino de
Caliban. A apropriao da lngua do Outro, que traz consigo a
prpria ambigidade cultural, representa a possibilidade de uma
histria futura.
H, assim, nas duas autoras, a proposta de superao de
um passado o do colonialismo e o do totalitarismo , em Cabo
Verde, pelo resgate e preservao, em Portugal, pela reconstru-
o da identidade dentro de um novo tempo, evocando a cons-
truo de novos mitos e marcando os comportamentos, respec-
tivamente, de uma cultura mtica e de uma cultura racional.
&
DEVORAO DA CIDADE
Ao iniciar Notcia da cidade silvestre, Ldia Jorge
destaca a escolha do nome da personagem: Jlia, porque o
nome da paixo, Grei, porque significa gente e povo. Pois jus-
tamente nessa nomeao que Ldia Jorge desvenda o romance,
revelando seus eixos: paixo e povo. E, em seguida, prope a
prpria obra como testemunho, onde nada majestoso e nem
simblico.
De fato, diferentemente de O dia dos prodgios e de O
cais das merendas, Ldia Jorge abandona o elemento fantstico,
na dimenso antes conferida, ao deslocar o espao do meio rural
para a cidade, por meio de um romance que traz consigo o
engajamento realista. Afirma a autora: As pginas que se se-
guem so assim a reproduo livre de uma espcie de intimidade
falada ... (Jorge,1987: 11).
Cabem, portanto, duas observaes preliminares. Vale, para
esta afirmativa, a colocao de Ernst Fischer, em A necessidade
da arte:
Se considerarmos o reconhecimento de uma dada realida-
de objetiva como a natureza do realismo na arte, precisamos
no reduzir tal realidade ao mundo puramente exterior, exis-
tente independentemente de nossa conscincia. O que existe in-
dependentemente de nossa conscincia matria. A realidade,
A
3
'
porm, abrange toda a imensa variedade de interaes nas
quais o homem, com sua capacidade de experimentar e com-
preender, pode ser envolvido. (123)
Ao trabalhar a realidade social circundante onde a nao
no se imagina, apenas , Fischer aponta para o realismo crti-
co, trazendo consigo a questo da existncia nessa mesma reali-
dade, at porque, como afirma Bakhtin, a vida est na arte, em
toda a sua plenitude do seu peso axiolgico: social, poltico,
cognitivo ou outro que seja (1993: 33).
Por outro lado, a observao de reproduo livre de uma
espcie de intimidade falada liga-se estrutura utilizada no ro-
mance, enquadrada naquele grupo especial de gneros apontado
por Bakhtin (1993) como determinante estrutural, criando uma
espcie de variante particular do gnero romanesco: como con-
fisso ou dirio. O caderno amarelo estrutura a obra, tendo como
elemento de elo de um segundo plano os recados que no dei-
xam de ser, tambm, confisses, o que resguarda a intimidade a
que se refere a autora. E tal desvendamento da intimidade, em-
bora sem romper com o encantamento do texto, na medida mes-
mo em que possui, por essa estrutura, um encantamento pr-
prio, rouba-lhe a possibilidade da catarse. um texto que de-
nuncia e inquieta na revelao de um tempo histrico concreto e
localizado, dentro de uma literatura que, como bem observa Maria
Alzira Seixo,
(...) encara com extrema ateno o espao romanesco en-
quanto escrita de uma terra cujo sentido se busca, entre a mar-
ca que a histria lhe imprimiu e o curso humano que a transfor-
ma, entre a extenso determinada e a caracterstica que a for-
ma e o tempo que lhe ritma a sucesso e a vida. (1986: 72)
Em outras palavras, volta-se para o desvendamento de
um espao que termina por sair de um longo ciclo histrico, o
do fascismo, para mergulhar em problemas imediatos, inespera-
dos e aparentemente insolveis. o retrato de Notcia da Cida-
de Silvestre, onde o contexto scio-cultural do fim da dcada de
70 marcado por todo um questionamento existencial na busca
de redefinio do prprio espao, o que equivale dizer a vida;
pelo fim das utopias e dos mitos; pela crise geral de valores; pela
distncia do homem novo e harmonioso que a Revoluo deve-
ria, pelo menos teoricamente, produzir. O momento conseqen-
te da passagem do fascismo Revoluo revela-se pela degrada-
o em todos os nveis: poltico, social, interpessoal. A insignifi-
cncia, das mudanas no plano da existncia imediata, traz con-
sigo o equvoco da prpria concepo revolucionria:
O Sr. Assumpo resumiu alguma coisa insuperavelmente
Meus amigos, no h diferena nenhuma s a ditadura
era um tempo demasiado lento, e a democracia um tempo de-
masiado rpido. ( Jorge, 1987:251)
Entenda-se por demasiado rpido um espao existencial
atomizado, preenchido por contrastes e justaposies incompa-
tveis, uma sintaxe histrico-social portadora da reificao do
indivduo.
Em que pese a alienao, no homem da terra, at pelo
carter muito mais voltado para o coletivo, esse processo - veja-
se O dia dos prodgios e O cais das merendas - mais diludo e
encontra outras formas de compensao na fantasia e nos mi-
tos. Na cidade, no. Na cidade, decreta-se: Abaixo a fantasia,
diante da necessidade de criar novas bases (Idem: 22) ou ain-
da Fuja da magia, olhe que o sculo est a chegar ao fim e
ningum lhe acode (Idem: 32) e a devorao clara: fortalece-
se o individualismo, a experincia da solido, da personalidade
ferida, rejeitada, condenada ao anonimato.
Estamos, portanto, diante de uma escrita do espao cal-
cada no dialogismo bakhtiniano, relacionando o texto literrio
sociedade e histria. Nela, a ambivalncia revela-se na sua
interseco e permutao, instaurando as confrontaes entre
estruturas originariamente dialticas: as textuais e as extratextuais.
O princpio da polifonia o dilogo. A criao polifnica
de Notcia da cidade silvestre constitui o aspecto do dialogismo
do discurso jorgiano. A polifonia corresponde s diferentes idi-
as oriundas de diferentes vozes, denunciando a inquietao dos
seres ficcionais, em suas ideologias distintas, na busca do seu
espao e da sua definio existencial. Assim, a personagem no
uma entidade fechada, pronta. A exemplo da teoria da transfi-
gurao que abre O dia dos prodgios, quando a autonomia est
posta anteriormente histria contada, aqui, tambm, a perso-
nagem tem essa autonomia e dona de seu discurso. So vrias
as vozes que se cruzam, se opem ou se complementam, so
vrios os discursos que dialogam entre si.
Entenda-se por discurso a concepo que lhe d Bakhtin:
o resultado do meio social que produz uma conscincia scio-
ideolgica que, por sua vez, produz o dilogo social, rplica da
sociedade. Assim, enquanto ideologema portador de uma ide-
ologia o discurso objeto de representao verbal dentro do
romance, nunca, portanto, um jogo verbal abstrato. Tudo o
que ideolgico possui um significado e remete a algo situado
fora de si mesmo, afirma Mikhail Bakhtin (1992: 31).
Assim, o sujeito que fala sempre, em certo grau, um
idelogo, com um ponto de vista particular sobre o mundo, aspi-
rando a uma significao social. O mesmo ocorre com a ao.
sempre sublinhada pela sua ideologia: ele vive e age em seu
prprio mundo ideolgico (...) tem sua prpria concepo do
mundo personificada em sua ao e em sua palavra
(Bakhtin,1993: 137 (A)). Entenda-se, entretanto, que o discurso
polifnico no apenas um discurso sobre si e sobre seu ambi-
ente imediato, mas tambm um discurso sobre o mundo
(Idem,1981: 36).
Em Notcia da cidade silvestre, o dialogismo se instaura
em vrios nveis: entre a personagem que escreve e o leitor vir-
tual; entre a personagem que escreve e o leitor que deixa de ser
virtual para transformar-se em ficcionalmente real, o propriet-
rio do caderno amarelo; entre o leitor virtual com quem ns,
leitores reais, tambm nos confundimos; entre a personagem e
aquele que recebe os recados escritos, enxertados, que aquele
que tem o caderno amarelo, tornando-se personagem-leitor; en-
tre as diferentes personagens, no que se conta, por reproduo
livre, no caderno amarelo, e na reorganizao do que se conta,
sendo, tais personagens, portadoras de discursos e problemti-
cas diferentes entre si, portanto vozes peculiares.
A introduo da confisso, determinando a estrutura ge-
ral do romance, torna-se ainda mais atraente pela presena do
leitor virtual, imaginariamente exterior ao autor do caderno ama-
relo, que a personagem Jlia Grei. Tal texto, o do caderno, no
remetido a uma segunda pessoa externa, mas a uma segunda
pessoa personificada em autor. para si que Jlia escreve o
caderno, transformando-se de mesmo em outro, antes de vend-
lo e antes de conhecer o comprador:
Depois, Jlia Grei fez o percurso a p com os sapatos na
mo, e quando a vi, precisamente da janela do Bar Together/
Tonight, antigo Bar Aviador, ela quis fazer venda dum caderno
amarelo. (Jorge,1987: 16)
Esse, entretanto, no o texto que nos chega, o que nos
chega outro, j possuindo um leitor ficcionalmente real:
Foi esse inslito numa terra destas que me fez voltar a
procur-la, achando que bem podia Jlia Grei alinhavar a
lembrana com alguma ordem e mais algum proveito. Depois
haveria de vir a admirar-se que o caderno de capa amarela
tivesse tido to pouco destaque e que, pelo contrrio, os papis
que me ia mandando pelo correio, ou por quem calhava, apare-
!
cessem com tanta importncia. Mas acrescentou que se revia e
achava, por inteiro. (Idem: 17)
Logo, j no lemos o caderno amarelo, mas sua reorgani-
zao e, em sendo reorganizado, deixa de ser a reproduo livre,
colocando-se diante da presena de um leitor-personagem, V.,
para quem Jlia no apenas conta uma histria, mas presta con-
tas dos seus sentimentos e atitudes no, no pense o contr-
rio, eu estava contente (...) (Idem: 29), ou digo-lhe a verdade
para que V. conhea (Idem: 34), ou, ainda, talvez V. ache inde-
cente essa espionagem mida (...) (Idem: 98) ,o que faz com
que a narrativa se desenrole no tempo da memria, freqentemente
reforada pelo verbo lembrar.
E, ento, entramos ns, como leitores reais, a fazer parte
do dilogo. Durante muito tempo, caracterizou-se o leitor como
um sujeito universal: todos os homens. Fica, entretanto, eviden-
te, na realizao desse nvel do dialogismo, como um espao
vazio a ser preenchido por mltiplas circunstncias sociais, ide-
olgicas, histricas. Esse mesmo leitor, seja ele virtual,
ficcionalmente real ou real, termina sendo um participante ativo
do prprio constructo literrio: um outro do outro que, na assi-
milao do discurso, transforma-se num outro/mesmo. Seu olhar
deixa de ser o do privilgio para ser o de quem passa pelo esfor-
o da acomodao, desacomodao, identificao e libertao na
recuperao da histria. Essa libertao, apesar de intimamente
vinculada classe ou sistema social, adquire um carter geral
possibilitando a identificao com o outro e a incorporao do
que o mesmo no , at porque, como afirma Orlandi, o ho-
mem faz a histria, mas a histria no lhe transparente (1988:
102). Da a afirmao do proprietrio do caderno de que, depois
de sua reorganizao, Jlia Grei acrescentou que se revia e se
achava, por inteiro (Jorge, 1987: 17).
Na verdade, Jlia simultaneamente representado e re-
presentante (responsvel pela representao) da realidade
ficcional por meio da apropriao social da linguagem, instru-
"
mento de representao e lugar de conflito social (Orlandi,
1987: 40), que jamais se esgota em si.
O romance uma diversidade social de linguagens orga-
nizadas artisticamente, s vezes de lnguas e de vozes individu-
ais, comenta Bakhtin, de onde vem a noo de que os discursos
do autor em Notcia da cidade silvestre tem dupla autoria:
Ldia Jorge no plano real e no ficcional, Jlia Grei , do narrador
e da personagem so unidades bsicas de composio na prpria
introduo do plurilingismo e de um discurso que representa e
enquadra o discurso de outrem.
A diversidade das linguagens sociais, reveladoras de con-
tradies scio-ideolgicas, num mecanismo poltico-social de
aprisionamento, de relaes incompletas e imperfeitas, de fa-
lhas, de injustias, necessidades e aspiraes de uma situao
histrica particular, de contrastes sociais mltiplos numa cidade
que concretiza a devorao, sustenta a obra de Ldia Jorge.
Nessa altura tinha conhecido Lisboa duma forma diferente,
e assim, os mesmos becos tortuosos e velhos que sempre me
tinham evocado uma histria potica e antiga pareciam-me
agora crceres com malvas janela, onde se poderia ficar
preso para sempre ao bafio do cho, um s p assente como os
cogumelos no estrume. (Jorge,1987: 35)
E esta cidade no oferece sada:
Afinal o que era preciso era sair daquele rio e esquecer a
cidade, que por dentro, nesse Inverno, comeava a ter o ar
entristecido duma caserna usada. Tm visto as ruas? O mundo
vai estar de novo para quem abrir um balco e puser duas
mercearias atrs. Previam-se tuberculose em barda, os mdi-
cos nos consultrios andavam a fazer grficos agudos como
picos de Evereste sobre o assunto. Os bairros de lata cresciam
como crostas agarradas s periferias, o metro tinha cada vez
#
menos pedintes, os bancos dos hospitais cada vez mais cheios
de gente e menos desprovidos de recursos. Por tudo isso e por
muito mais que no diziam, esticados sobre a minha cama,
apetecia-lhes desesperar. (Idem: 71)
Por favor, metade da cidade est a viver custa da outra
metade, atrs de expedientes estranhos, negcios cinza,
intermediarite.(...) (Idem: 96)
nesse espao que as personagens se deslocam carre-
gando consigo os seus problemas existenciais. A cidade uma
forma de priso.
Como podia ele viver muito tempo longe das nossas pare-
des furadas de buracos? Longe do estrume das nossas ruas?
Do manso caos social fazendo-se como sombras nas poas?
Onde? Onde encontraria Artur Salema um stio to propcio ao
desespero e ternura como ali, Beira do Tejo, tudo a desagar
para armazns e docas? (Idem:142)
Ora, a conscincia individual um fato scio-ideolgi-
co (Bakhtin,1992: 35). Quer dizer, ela no pode explicar, deve
ser explicada a partir do meio ideolgico e social, o mesmo em
que as personagens de Notcia da cidade silvestre buscam a re-
alizao existencial, a segurana, o sentido da vida, cada um a
seu modo.
Jlia a personagem que mais se modifica na aquisio
da conscincia dessa realidade, aquisio que se d pelo conv-
vio com as demais personagens, onde, no raras vezes, as rela-
es se mascaram e o silncio e a linguagem pervertida assu-
mem lugar de destaque. Esse processo de mutao provocado
pela situao poltico-social marcada pela injustia, que se confi-
gura em vida, muito evidente.
Jlia, me do Jia, viva do escultor Grei, emerge da pas-
sividade, da tanta normalidade plenamente aceite, que sequer
$
se assistia o direito de gritar por socorro fosse onde fosse,
estivesse onde estivesse (Jorge,1987: 146). Impede a si mesma
a busca de uma plenitude de vida que lhe negada pelo individu-
alismo, caracterizador do funcionamento social e impositor de
limitaes.
Fazendo de Anabela Cravo seu modelo, idealizando-a por-
tanto, inicia a busca de si mesma. Ao ver Anabela, seu
contraponto, admira o que no consegue ser:
Depois Anabela Cravo possua a coragem e a sabedoria
necessria para enfrentar a vida, eu desfrutava disso e rendia-
lhe toda a admirao por esse e por outros tantos motivos,
incluindo uma ternura de que s vezes dava mostras, tocando-
me nos ombros com solenidade. Seria que num outro mundo
no teramos sido irms? (Idem:54)
Essa coragem e essa sabedoria para enfrentar a vida no
so mais do que um poder de manipulao das pessoas que faz
parte do processo de adaptao s situaes e, em ltima anlise,
ao jogo social. Porque adaptada ao jogo, seria, sim, no final,
uma vencedora.
Eis os eixos centrais das idias de Anabela:
Se ainda ningum tivesse dito, dizia-o ela- que a poltica era
um complexo de Freud, a maternidade um erro de contas, o
amor uma troca de hlitos e a pesquisa como o saber, apenas
um latejo de tmporas. Tudo afinal mesquinhos sopros sem
altura, ainda que se alcanasse atravs deles o bem-estar e a
glria pblica. (Idem: 58)
Para Anabela, no existe o amor, sua interioridade est
esvaziada porque a adaptao assim o exige:
Est velho o que pensas e o que eu penso est novo.
%
precisamente a falta do desejo, a impossibilidade de identifica-
o e a ausncia de amor que faz com que ele me chame. Bem
vs! No futuro todas as pessoas ho-de ser assim, como no
princpio. Eu, eu. Quero ser a primeira a passear pela rua um
rebento desses pela mo, para poder escrever-lhe nas costas -
Nascido sem amor e sem perdo. Como Cristo. Quero ver como
um gajo assim nascido se comporta neste mundo. Ser o
apocalipse? (Idem: 126)
Em nome deste viver, Anabela separara as pessoas por
tipologia:
Dizia tambm que o ajuntamento humano tal como se con-
cebia no cartrio e nas instituies familiares era uma farsa de
aparncias, que as pessoas deviam juntar-se aos grupos con-
forme o saber que era uma coisa e o conhecer que era outra
bem distinta. (Idem: 54)
Anabela pertencia ao saber, Jlia ao conhecer. Entenda-se
por saber o ter capacidade para, o conseguir. Entenda-se por
conhecer a informao e a vivncia.
Na verdade, o saber tirar proveito das situaes e a mani-
pulao das pessoas inicia, em Anabela, muito cedo, aos treze
anos, quando cede sexualmente ao Padrinho e chantageia: vou
contar, como forma de conseguir o que quer. E, por esse saber,
o sucesso estaria garantido, o que, para Jlia, se explicava por
estar relacionado com o charme interior, a electricidade din-
mica que fazia mover a pessoa (Idem: 277).
Em nome dessa crena no charme interior e de um senti-
mento mesmo puro de amizade, Jlia custa a perceber, a no ser
pela experincia traumtica da prpria descoberta, quem de fato
Anabela, na luta sem qualquer limite moral pela superao da
misria e do anonimato.
Anabela luta com a mentira, a linguagem pervertida, o
&
jogo, a chantagem, a manipulao e o domnio das pessoas ,
Jlia dilui-se na realidade.
O espao de Anabela o do desapego, sem fantasias, sem
magia, sem ligao interior nenhuma, uma vez que o espao
em que, prioritariamente, reconhece que a injustia continuava
sendo injustia. Algum tinha tido a coragem de expropriar al-
gum? Repartir os bens? Criar um imposto suprfulo? Ningum!
(Idem: 45). Neste pas os tribunais sempre gostaram de guar-
dar os detritos para provocarem o estrume, tanto mais agora que
anda tudo virado de pernas para o ar (Idem: 53).
A vida, para Anabela, nesse espao, resume-se em uma
nica frase: Talvez o bem e o mal se misturem em frascos
comunicantes e quanto mais uns descem mais outros tm de
subir para a coisa se equilibrar (Idem: 315).
O espao de Jlia reaprendido no contato com Anabela
e os demais seres ficcionais, com suas crenas, esperanas e
desesperanas, suas posies ideolgicas; e na tentativa de sui-
cdio do filho, criana de 13 anos, por envenenamento.
por meio de Jlia e, principalmente, em sua relao com
Assumpo, dono da livraria em que trabalha, que a
intertextualidade percorre o texto de Ldia Jorge e o mote para
isso assim colocado:
Para ser franca, tinha mesmo a impresso de que esses
livros possuam uma sabedoria imanente, porque os dedos cor-
riam as lombadas e encontravam como por azar ou coincidn-
cia as pginas que procurava. Vinha-me ento a convico de
que algum as havia escrito para mim como remetente certo. (
Idem: 63)
E esses livros compreendem poesias de que no se iden-
tifica o autor e outros textos de William C. William, Antnio Nobre,
Marcuse, Schopenhauer, Catulo, Esopo. A intertextualidade a
base do processo de composio do texto. H, sobretudo em
'
Catulo, a visita tradio que traduzida, como criao, para
determinada situao de amor de Assumpo por Jlia. Quer
dizer, o clssico deixa de ser um modelo incorruptvel para abrir-
se em dilogo com outra possibilidade de leitura.
Mas o texto de Ldia Jorge tambm atravessado por
canes, sobretudo pela presena do anarquista Artur Salema,
canes de cunho ideolgico fortemente marcado, como a que
Milena Josensk cantava num campo de concentrao dos S.S.;
como a de Nana, que carrega consigo o existencialismo sartreano,
como as populares de Leoncarlo Settimelli Adoro il popolo,/la
mia patria il mondo/ il pensier libero/ la mia f...(Idem: 185)
e Luigi Molinari.
Observa-se tambm que muda a relao de Jlia com os
livros, pelo reconhecimento do espao: a devorao da cidade.
, sobretudo, do convvio com os artistas que vem a cons-
cincia do momento histrico.
Como no podia deixar de ser na poca que corria, a dado
momento comearam a retratar-se. Todos afinal tinham amado
um partido secreto, mas todos tambm j o tinham abandona-
do. Pela conversa percebia-se que no tinham amado o mesmo
partido e isso parecia aproxim-los, embora s o Mestre se
mostrasse perito no passado e coxeasse nervoso com o rumo
da conversa. (...) Ento Anabela aproveitou para dizer. Viva o
partido da Arte! (Idem: 27)
Mas o partido da arte, que tambm formado por uma
diversidade de linguagens, Salema, Martinho, Rita, tem, na cida-
de e no pas, no momento histrico, um espao restrito.
Por imbecilidade, por estreiteza de alma,havia negociantes
de toda a mixrdia, vendedores ambulantes de toda a natureza,
traficantes de toda a espcie, tudo promovido pelos poderes
pblicos, e no havia canteiros.(...)E se tu precisares de fazer
fundir uma pea o mesmo. Fica a saber que hoje em Portugal
se funde pior do que h mil anos. (Idem: 26)
Nessa cidade em que a misria prolifera, em que as pr-
prias crianas podem ser portadoras dos parasitas da
marginalidade e da pobreza absoluta (Idem: 143); em que a eco-
nomia se torna agente de represso, ocupando de maneira exclu-
siva todas as manifestaes da vida humana, pelo esmagamento
de uma grande maioria; em que se provoca uma crise geral de
valores, fica excluda a possibilidade de transformao, at por-
que nessa tirania do poderio econmico, adquire uma outra fei-
o:
Agora que vai ser subtil, porque a tirania j no anda
alojada numa pessoa com dois olhos. Quatro membro. Um
sexo embaixo do fato. Uma amante vista. Um guarda secreto,
os velhos ouvidores. De quem se diga este que ali vai o
tirano. Pelo contrrio, disse ele. Hoje o tirano atomizou-se.
Diluiu-se, est aqui nossa volta. Agarrado nossa pele. Ele
confunde-se com a roupa que vestimos. Com os sapatos que
calamos. A cerveja que bebemos. E quem pode atirar contra a
marca do caf, o coiro dos sapatos? As roupas, os bens que so
a nossa necessidade? Quem?De que modo? (Idem: 77)
conscincia de que: Ainda na noite anterior, se Artur
Salema e os outros ali tivessem encontrado um tirano, todos
teriam consumado um acto histrico, e s no tinham consuma-
do porque a ocasio faltava (Idem: 83), segue-se o ceticismo:
Para mim todas as teses conhecidas morreram. As ideologias
so baleias desorientadas que esto dando costa. Ningum me
vira(Idem: 77).
E porque assim, ao longo do caminho, todos vo aban-
donando, um a um, as convices iniciais.
Artur Salema tem um projeto consistente. O espao que
busca construir, depois de sua estada na Itlia, o da resistncia
psicossocial, dentro de um pas com fortes carncias, de que a
cidade uma parte de representao. O passado visto pela
memria crtica, o presente pela experincia utpica na busca de
revolucionar primeiramente a vida e secundariamente o conceito
de arte.
Ele embarcou numa experincia singular, altrusta, nica.
No quintal da serralheria onde o viste, depois das horas de
servio, ele e os outros serralheiros, quase analfabetos, esto a
criar em conjunto, a arrancar do fundo da psique, idias primi-
tivas e materializ-las em associaes, sem nome, sendo Artur
Salema o trao de unio. (Idem: 193,194)
Em outras palavras, como artista, julgava-se livre e queria
ajudar os outros a encontrarem, pelo exerccio ideolgico, a pr-
pria liberdade:
Mal se sentaram os companheiros da serralharia comea-
ram a falar do percurso e do dinheiro gasto para chegarem at
S. Mamede. Em seguida das horas do sono. Em seguida ainda
dos barulhos que ouviam de noite, alguns inocentes, nas casas
onde viviam. Como eu andava c e l oferecendo uns copos,
no pareciam completamente desinibidos. Simplesmente a hora
ia adiantada e Artur Salema comeou por lhes falar que na
Alemanha tinha existido em tempo um homem chamado Artur
Schopenhauer que havia escrito uma interessante histria, que
ele se dispunha a contar, desde que cada um fosse dando opi-
nio sobre o decorrer do episdio. Muito compenetrado.
Toda a gente sabe que os porcos-espins so animais das
regies temperadas e que no suportam temperaturas baixas.
Ora imaginem que certa vez, sobre um bando deles, comeou a
cair um frio horrvel e que se no se acoitassem uns contra os
outros, podiam morrer. Como deviam fazer os porcos-espins?
(Idem: 203,204)
Houve vrias opinies, podiam morrer, indiferentemente,
talvez o melhor fosse se virassem carnvoros e se devorassem
uns aos outros, numa aceitao passiva a exemplo daquela
exercida diante da ao das leis sociais que lhe so inteiramente
exteriores, mas Salema insiste na convico de que um pensa-
mento claro pode criar as condies necessrias para uma ao
eficaz na transformao social:
Podiam no morrer, amigos. (...) Logicamente que se
iam aproximando cada vez com mais cuidado, at ficarem a
uma distncia tal que nem se picassem nem morressem de frio,
aquecendo-se uns com o bafo dos outros. (Idem: 204)
E, ento, pela representao metafrica chegou onde que-
ria, quando um dos serralheiros exclamou: Os porcos-espins
somos ns, carago (Idem: 204).
Evidentemente que as transformaes so lentas, mas,
mais evidentemente ainda, a cidade no lhe permite muito: a ofi-
cina foi fechada.
Queriam transformar a oficina numa metalomecnica qual-
quer, uma daquelas chungarias que faziam caixilhos prateados
a metro. O mesmo esprito que transformava as doces
merceariazinhas dos cantos em dependncias bancrias, ricas
como de fara. Era preciso eu compreender o fenmeno na
globalidade das coisas. E quem iria resistir? Perdia-se o nti-
mo, o humano, o amorvel, o boca-a-boca, o gosto do fogo, a
arte de soldar e derreter, o primeiro ofcio do homem, sem que
ningum acudisse. Impvidos, perdamos o rosto cantando.
Por isso ele estava a ser o grande incmodo. Dentro de dez
anos, por exemplo, ningum mais saberia soldar um fundo, pr
um pingo, curvar uma asa... (Idem: 218)
Com isso e com a fria atrasada e com todas as resolu-
!
es adiadas por tempo ilimitado, Artur Salema perde no ape-
nas o espao de trabalho junto aos serralheiros, como tambm
os perde, inclusive o Tunhas, que havia reconhecido ser o povo
os porcos-espins da histria.
Ainda que, aparentemente, mandar um relatrio para
Baltimore pudesse dar ao insucesso um certo grau de normalida-
de, para Artur Salema, que antes se identificava fsica e ideologi-
camente com Bakunine anarquista russo, criador do Pan-
Eslavismo, que preconizava a unio de todos os povos eslavos
sob o domnio de uma Rssia regenerada e livre, capaz de reno-
var o Ocidente decadente, cujo Apelo ligava-se ao messinismo
russo , significa a derrota. H, primeiro, a fuga para o exterior,
a desistncia da luta: J no quero parecer com Bakunine. Ago-
ra j o acho velho e ultrapassado (Idem: 87), mas h, depois, o
enquadramento no funcionamento social ao casar com outra,
que no Jlia, e voltar a ser membro da famlia.
Da a afirmao de Mo Dianjo, o grande protetor dos
perseguidos e o grande revoltado, o que permanecia solitrio
com a revolta, de que o artista, mesmo o medocre, sempre
constitua um perigo iminente para qualquer movimento ordena-
do (Idem: 156). Na verdade, o artista, marginalizado, , ele pr-
prio, a sensibilidade e personificao das contradies e injusti-
as sociais.
A viso de Mo Dianjo do funcionamento social se coloca
em sua reflexo sobre a idia de Jlia abrigar Selim e desistir:
Fizeste bem porque isso seria a ltima loucura da tua
vida, ficarias lixada para todo o sempre. Se pensas que assim
que se transforma a sociedade, enganas-te. Esse o recado das
revistas asquerosas que deixam na mesinha dos ortopedistas.
Pelo contrrio, preciso que esse Selim cresa trabalhe na
estiva, roube, assalte, mate se necessrio. Ele e mais cem do
mesmo bairro, todos cheios de razo. Para que se organizem.
S assim a sociedade se transforma. De que serve uma pessoa
por pomadinhas na ferida se no vai causa? No, o caminho
"
diferente, e dos livros mais primrios sobre o assunto. Abre
os olhos, esclarece a cabecinha. (Idem: 174)
Ainda assim, apesar da histria de revolta e de proteo
aos perseguidos pelo sistema, Mo Dianjo, que tambm se en-
volve sexualmente com Jlia, assume o mesmo relacionamen-
to interpessoal, com suas mscaras, com suas mentiras, pr-
prio do funcionamento social, trazendo consigo a ambigidade
centrada na linguagem: tudo o que mostra tambm esconde.
Vem de Mo Dianjo a ideologia do dio, a comear pela
criana: toda a criana precisa que lhe ensinem a odiar.
(...) S o dio capaz de dar pessoa o limite da sua
dimenso de gente. S ele capaz de defender, de preservar,
robustecer a pessoa. Na arquitectura, que o jogo das formas
e das foras em equilbrio, uma pessoa aprende esse jogo como
dado essencial. O que uma parede mais do que uma agresso
contra a gravidade da terra? Vencida a fora que se ope e
cria, a parede cho e cai. A construo um jogo de oposio,
de dio. (...)
Oh filha! Eu estou farto de poses beatficas. Farto dessas
coisas chochas. Tudo espao para que os outros odeiem sem
precisarem de o declarar. Tu sabes como . Tu j te lixaste! Vai-
te matar! (Idem: 264)
Para Mo Dianjo, Jlia era o exemplo vivo de se pertencer
a uma classe social e no se ter conscincia dela, isto , no
pertencer, efetivamente, no participar, efetivamente. Vivia num
atelier que fedia como qualquer barraca imunda da Curraleira ou
do Casal Ventoso, explorada de todos os modos e feitios(...)
(Idem: 153), portanto, e diante da ausncia da ideologia do dio,
a previso de seu futuro era evidente: angstia, frustrao, sui-
cdio.
#
Mas Jlia a personagem que, em contato com as diver-
sas situaes existenciais e com as diferentes vozes, mais se
transforma. Anseia por absorver o mundo circundante, mas, das
mais diversas formas, ele termina sendo refratrio a ela e provo-
ca o seu esmagamento. Ela dos que descem para que os outros
subam, conforme Anabela Cravo. Ela a perdedora, a que d
azar. A que perdeu o marido, Grei; a que quase perdeu o filho
por suicdio, Jia; a que perdeu o grande amor, Artur Salema; a
que faz aborto do filho do seu grande amor, para salvaguardar o
sentimento; a que perdeu a que julgava amiga, Anabela Cravo; a
que na primavera tinha dois amantes e um noivo; a que redescobre
a cidade sem poesia, mas de uma forma brutalmente realista; a
que entrou na prostituio de rua e quase foi morta por algum
que a confundiu com algum; a que fez a festa para reconhecer
naqueles que a rodeiam aqueles que lhe tiraram e devem alguma
coisa; a que, enfim, pelo aprendizado do desencanto e da
desmistificao assume a ideologia do dio e a filosofia do medo
com uma faca dentro da bolsa, com o que rompe os laos, com
Mo Dianjo e Anabela e supera a si mesma: Meto medo, logo
existo, logo existo. Jia existe, o Fernando existe (Idem: 321).
Ora! Nisto tudo o que Lisboa, no ps-Revoluo?
O que mais poderia acrescentar? Que entre setenta e cinco
e setenta e nove por aqui ningum se lembra de ter passado
nenhuma guerra, nenhuma fome, nem sequer nenhuma epide-
mia, antes a democracia consolidava a sua franjinha radicular
dentro de gua, as lojas at se encheram de roupas caras e
perfumes fatais. (Idem:16)
Nessa Lisboa da devorao comandada pela injustia so-
cial conseqente do poderio econmico, da ganncia dos ci-
fres (Idem: 44), da morosidade da Justia, das falsas relaes
interpessoais, das mscaras, da linguagem pervertida, que diz o
$
contrrio do que quer dizer, dos mexericos, da misria, da
marginalidade, da proliferao dos bairros de lata, das paredes
esburacadas, do estrume das ruas, dos pedintes, da prostituio,
da tuberculose, da crise da sade pblica, do aborto, da tentativa
de suicdio de uma criana de treze anos, do manso caos social
fazendo-se como sombras nas poas (Idem: 142), da falncia
das teses e ideologias, da inutilidade do ato herico e histrico,
dos expedientes estranhos, negcios cinza, intermediarite (Idem:
96), do saudosismo do Imprio havido (Idem: 188), da de-
pendncia dum umbigo longnquo (Idem: 114), do complexo
de inferioridade (Idem: 144), da expropriao do ntimo, o
humano, o amorvel, o boca-a-boca (...), da perda do rosto
cantando, da identidade (Idem: 218), num tempo demasiado
rpido (Idem: 251), de mudanas bruscas, nessa Lisboa, o
mgico se faz presente como nica sada na garantia do huma-
no.
O mgico se d pelo aparecimento da campnula, o peri-
go amorvel diante de Artur Salema, capaz de espremer duas
pessoas que se amam at que possam ser gente (Idem: 193).
Foi nesse momento que eu tive a certeza, e por um
brevssimo instante, inexplicvel instante, qualquer coisa me
pareceu descer do teto e poisar sobre a mesa como uma som-
bra fosforescente. (...)objeto que fosforescia em forma de
campnula, e que abafava por completo todas as outras vo-
zes(...) (Idem: 28)
Ora, diferentemente do que ocorre em O dia dos prodgi-
os e em O cais das merendas, o mgico, aqui, no tem carter
coletivo, mas individual, embora transcenda o real e embora tra-
ga consigo uma caracterstica eminentemente simblica.
Terminada a histria com Artur Salema, cobrados os de-
vedores, rompidos os laos pela ideologia do dio e a filosofia do
medo, quando a solido e o desencanto vital so evidentes,
%
uma campnula duma outra fosforescncia desceu sobre a rua
inteira e Jlia achou que era um bom dia para recomear (Idem:
322), desta vez com Fernando Rita, o nico a manter-se fiel
sua arte e sua ideologia.
(...) Talvez fosse a arte mais perdurvel de todas. Talvez
a ltima a resistir ao tempo, a aguentar convulses, uma esp-
cie de eternidade. Para ser franco disse ele. A ltima arte
que atesta que por aqui passmos. assim. Aquilo que o Artur
diz a Portugal o que ns dizemos ao mundo, gerao atrs de
gerao non ritorner pi.
Temos de criar iluses.( Idem: 170)
Um olhar outro sobre a terra e seus velhos mitos, como
as guas de Lisboa que de to velozes engravidavam pelo vento
e cujos filhotes eram recrutados pelos heris picos que os tor-
navam os mais poderosos corcis. Portanto, esperana de dilo-
go, num dia longnquo, se alguma vez houver tempo para um
pensamento sereno como o que cria os mitos e a magia (Idem:
307).
O anncio deste tempo se d com a campnula
fosforescente porque, como escreve Jlia, agora um mundo
novo acontecia, porque se a campnula de vidro era pura ima-
ginao da linguagem, significava contudo uma chamada ar-
dente (Idem: 47).
Assim, o caderno amarelo o resgate de quase dez anos
vividos, em que a experincia se faz memria e a memria ex-
presso de si, de um momento histrico e um espao vorazes
refletidos na leitura desencantada da situao scio-cultural. Isso
possibilita a manifestao das diferentes vozes tomadas em dis-
tino, negando-se e afirmando-se de acordo com padres ti-
cos e papis sociais que representam, num processo estrutural
que desvenda a ideologia e a devorao que envolve a todos.
Ele no termina. Como a histria no termina. Jlia reto-
&
ma a prtica do caderno amarelo, como se a partir dessa
frgil matria, sentisse e pudesse dar notcia da outra realidade
(Idem: 322).
Caboverdianos circulam por essa Lisboa de Ldia Jorge,
em Notcia da cidade silvestre, seja rindo em crioulo, dividin-
do entre si pes e cerveja com uma alegria infante (Idem: 65),
seja frente de uma morada cheia de manchas e buracos como
se tivesse sido bombardeada (Idem: 223), seja no encontro com
a morte, quando embaixo ouviu-se um grito e eram duas nava-
lhadas num caboverdiano que guardava obras, inocente, a dor-
mir porta da casota de madeira. O navalhador, bbado ou est-
pido (...) (Idem: 286). Na verdade, eles tambm so vtimas da
devorao, tanto maior por serem, a, o Outro, corroborando a
imagem produzida na obra de Orlanda Amarlis.
A devorao retomada em O jardim sem limites, obra de
Ldia Jorge, de 1995. Uma devorao do espao, marcada por
um tempo igualmente devorador, que aponta para a denncia
social.
A Lisboa de O jardim sem limites diferencia-se da Lisboa
de Notcias da cidade silvestre.
Estamos, agora, no final da dcada de 80, mais precisa-
mente no vero de 1988, e Lisboa outra: perdeu a primitiva
pureza, perdeu a inocncia, alterou as relaes ao abrir-se ao
multiculturalismo e globalizao, tornando-se colonizada por
padres importados massivamente.
Aqui, como em Notcia da cidade silvestre, as persona-
gens se automarginalizam, mas por diferentes razes.
Em Notcia da cidade silvestre, h vencedor, Anabela, e
vencido, Jlia. Em O jardim sem limite, no. O que efetivamente
h a crise, marcada pela decomposio de valores humanos,
sobretudo para os jovens. A tal ponto que Falco chega a des-
prezar a cidade por no proporcionar violncia suficiente, tendo
como parmetro a imagem do mundo que lhe chega de fora.
que Lisboa, mesmo a horas mortas, mesmo junto aos lugares
'
maus, mesmo rente s pessoas de hbitos vis, raramente ofere-
cia um bom objecto de reportagem (Jorge, 1995: 34).
O que efetivamente se expressa o isolamento
transcendental de todos e de cada um.
Esta humanidade jovem est cheia de um desejo de
espiritualizao, mas no sabe como viv-la, onde coloc-la e
a que oferec-la. Esto cheios de fraternidade, sem irmos.
Esto cheios de necessidades de uma experincia mstica, mas
no sabem para onde ir. A nica coisa que tem o sentido do
indivduo. ( Jorge. Apud: Martins, 1995: 16)
Aponta-se, ento, para o carter problemtico das estru-
turas do homem da dcada de 80 gerao j nascida depois da
Revoluo dos Cravos em relao medida de valores das
geraes precedentes e, ao mesmo tempo, esvaziada de valores
para as subseqentes.
H, nesse livro de Ldia Jorge, a descoberta de um
microcosmo humano, no centro de Lisboa, em que a
automarginalizao afeta a classe mdia e a alta burguesia ur-
bana.
O passado no lhes serve, sequer ajudaram a constru-lo.
O passado, como passado, no lhes diz respeito.
A inscrio VIRTUTIBUS MAIORUM, talhada na pedra
do Arco, que a princpio ela mesma julgava tratar-se duma
epgrafe digna, dirigida pelos antigos aos mais corajosos do
futuro, tinha-se-lhes revelado de sentido oposto. Visava princi-
palmente honrar mortos e antepassados. (...) Talvez a gente
no seja de c, seja doutro lugar. (Jorge, 1995: 33)
H o deslocamento no tempo e no espao. O presente
uma busca jogada no vazio. a busca de superao de si. O
futuro rejeitado.
!
Afinal, ramos jovens, no nos lembrvamos de nenhuma
tragdia, no a vamos no horizonte, nem tnhamos nada a
lamentar que no fosse recupervel. (Idem: 31)
A, tinham prometido uns aos outros que nunca mais fa-
lariam do passado, tornando-se reciprocamente desconhecidos.
As personagens que compem O jardim sem limites, sobretudo
os jovens, sequer tm rosto prprio, tratam-se uns aos outros
por nomes de artistas de cinema, o que compromete definitiva-
mente a identidade:
De resto, ali estavam os cabelos revoltos de Gamito a quem
chamavam Burt Lancaster, alm a cara alongada de Osvaldo a
quem chamava Al Pacino. Junto da maviola encontrava-se Fal-
co de quem no conhecia a alcunha, e encostado porta,
estava Csar, de nariz em forma de faca, tambm chamado por
isso de Dustin Hoffman. (Jorge, 1996: 13)
Leonardo, o Static Man, Robert de Niro e Falco, afi-
lhado mental de Orson Welles:
Ao contrrio do que se pensava, ele no queria transfor-
mar-se num cineasta como Orson Welles, ele queria ser para
cinema o que Orson Welles fora no seu tempo. Isto , ambicio-
nava ser um revolucionrio. E porque s acreditava no filme
ao vivo, um novo cinema directo capaz de colher a Arte da
bruteza real da vida, queria antes de mais, e em primeiro lugar,
transformar-se num verdadeiro reprter. Se Welles estivesse
naquele instante a nascer, pensaria como ele, saberia que a
grande mudana iria estar na colheita bruta da realidade, sem
idia prvia, sem scriptum, sem representao. Pois o que a
representao? Perguntava ele, enquanto se ia esfregando com
!
fria. Um acto postio prprio do tempo em que era preciso
inventar. Mas agora, no era mais preciso inventar. Seria uma
indecncia. A vida estava inventada. Ele no iria pertencer a
essa velha escola em que a fantasia fora feita contra a reporta-
gem, dizia. Agora, tratava-se duma questo bem mais comple-
xa e importante, porque se tratava de colher a aco sobre a
aco, a vida apanhada no fulgor do seu movimento brutal,
sem o experimentalismo dos idiotas dos anos 60. (Jorge, op.cit.:
59,60)
Inicialmente, esse fato do ser semelhante ao outro e que-
rer ser como o outro aparece como que diludo na aspirao e
vaga idia de construo familiar e de exerccio de comunidade
entre os hspedes do primeiro andar da Casa da Arara, uma
hospedaria que verdadeiramente no passava de uma casa
devoluta, vrias vezes beira de ser demolida, entalada entre
dois prdios recuperados, Rua da Tabaqueira... (Jorge, 1995:
8). Entretanto, os contatos no interior da famlia no se reali-
zam na intimidade, apesar de viverem a sensualidade e a amizade
em grupo, e o nico ato completo o da solido. Desaparece a
totalidade espontnea, da o ter que superar-se a cada passo.
Nesse sentido, a tentativa de romper com a dialtica entre
interior e exterior, pela busca de modificao do segundo, j que
o primeiro permanece intacto, e a revelao, que ento se faz, de
que a exterioridade imutvel, porque mltipla em si, traduzem
a solido dos jovens e dos velhos, o esvaziamento de significa-
o do presente e do futuro j que, como quer Kennet Burke,
essa solido no de natureza, mas de foras sociais (Burke,
1974:110).
Suas personagens buscam chegar a alguma coisa, mas h
o impedimento exterior, h o limite. H todo um jogo de imagem
em que ser ser semelhante a, portanto sem rosto prprio, e
para isso, Ldia Jorge recorre ao cinema, recurso utilizado j em
O cais das merendas e em seu conto A instrumentalina.
!
Segundo a autora, como se cada homem nascesse com
o destino de procurar uma imagem que no a sua. (...) Estes
jovens so gente que quer ser heri, mas no tem ptria. Querem
ser santos, mas no tm Deus. Querem ser corajosos, mas no
sabem onde aplicar a coragem ( Apud: Martins, 1995: 15).
Na verdade, esses mesmos jovens procuram construir
uma identidade conforme os modelos inspirados por essa cultu-
ra mosaico que os cerca, mas falta-lhes espao para agirem e
faltam-lhes valores a invocar, as referncias so apenas msca-
ras.
s vezes acho-vos interessantes e penso que vocs da-
vam um belo bando, se fossem corajosos e praticassem o que
lhes passa pela cabea. Mas no so, no. So uma treta de
pessoas. Ela, aqui, a girl, seria a mulher do bando, Gamito, o
artista do bando, Csar, o cozinheiro, e Osvaldo, na posio
em que se encontra, posto entre a espada e a parede, sem con-
seguir dar um passo sozinho na rua, seria o delator do bando...
Ah! Mas vocs no so gente de coragem, so gente miservel,
gente de sonho pequeno... (...) E tu? Tu o que eras no meio
do bando? Aposto que serias o superior impassvel, aquele que
via e filmava, mais nada... (Jorge, 1995: 50, 51)
Ocorre que o quotidiano emerge do texto de Ldia Jorge
com seu peso mximo, num mundo herdado, em que gestos e
palavras aparecem esvaziados de sentido. Um mundo pronto. A
vida estava inventada (Idem: 60). E, nesse mundo, os atos se
condenam, inevitavelmente, frustrao ou morte.
Provoca-se, assim, a sensao de que o mundo e a vida
so absurdos, os grandes princpios substituem-se por outros
que apenas subjetiva e individualmente so grandes e, ento, se
perde o sentido do destino, instaurando a devorao de uns so-
bre os outros sem que se dem conta, to centrados esto em si
mesmos. Negam-se as convenes herdadas e a repetio, recu-
! !
sa-se um tempo histrico vazio de criao, mas no h qualquer
orientao slida seno experimentar as possibilidades com que
a realidade se apresenta porque essa gerao, depois do 25 de
Abril, depara-se com um no saber-se, com a falta de refernci-
as e de um rosto prprio, at porque a memria j no importa.
Cada um constitui uma individualidade manipulada pela socieda-
de de consumo que recusa e, ao recus-la, deixa que se percam
os parmetros.
Subjetivamente, a possibilidade mais rica do que a reali-
dade efetiva, uma realidade que sequer oferece matria violenta
para a reportagem. Entretanto, de uma gama de possibilidades
que, ilusoriamente, se oferece ao homem, apenas uma percenta-
gem nfima se pode realizar. Acolhe-se, ento, retomando o pen-
samento de Lukcs (1966: 35), uma realidade que impede que se
realize todo esse possvel com uma espcie de desprezo tambm
melanclico. H que superar-se para deixar sua marca na reali-
dade apreendida como tal. Seja pela imobilidade, seja pelo filme
que elimina a fantasia, seja engolindo a tnia, a Refeio da Diva.
Compreender qual o sentido do homem neste especfico
tempo histrico num pas que no , evidentemente, uma socie-
dade de consumo tecnicologicamente avanada, quando emerge
a idia pragmtica de economia a determinar o mundo, adquirin-
do aspectos particulares, quando, de fato, j no existem siste-
mas isolados, mas receptores de acontecimentos e posies ide-
olgicas provenientes de vrios centros de irradiao, eis o que
a se prope. E, sob esse aspecto, as personagens de Ldia Jorge
so porta-vozes da atualidade. O documento est l, na escrita.
O mundo tambm no faz sentido para quem j fez. Tam-
bm para os Lanuit e Juju o mundo faz pouco sentido. Tambm
eles so devorados e devoradores neste espao e neste tempo. A
imagem e os valores que trazem consigo no encontram resso-
nncia na atualidade, seja na roupa, quando Juju dava a idia de
algum que se houvesse vestido vinte anos antes e continuamen-
te se tivesse metido no tanque e enxugado, sem nunca mudar de
roupa( Jorge, op. cit: 19), tudo o que provinha da mulher de
Lanuit estava desactualizado como continha uma pevide de de-
! "
mncia (Idem: 54); seja na memria, que, por questes de so-
brevivncia, precisa ser esquecida:
Porque lhe fizeram muito mal, durante vrias noites e
vrios dias. Ah! Sim, de dia abandonavam-no na cela, mas de
noite voltavam carga, sacrificavam-no, sacrificavam-no sem-
pre de noite! Durante trinta noites o sacrificaram... (...) Ah!
Mas tudo isso aconteceu h muitos anos, h tantos anos que
lembr-lo nem faz bem, s vem atrapalhar a memria da pes-
soa. Naturalmente, que tudo isso morreu, no concorda? Mor-
reu, o tempo levou essas noites em que sacrificaram Lanuit.
Deve-se pedir s pessoas que ainda se lembram, precisamente,
que no se lembrem mais, para no nos atrapalharem a vida.
(...) Uma memria que no lhe serve para nada. Lanuit conti-
nua a ser um sonhador do passado. Quem me dera que hou-
vesse comprimidos favor do esquecimento como existem para
avivar a memria. (...) (Idem: 55)
No existe possibilidade de esta memria se apagar, est
inteira na casota dos fundos, lugar de trabalho/ memria de Lanuit,
nas paredes, aquela multido de fantasmas oriundos do seu pas,
datada dos idos do anos 70, mapeada e dividida em Estes so
os que no devemos esquecer, Os que no podemos perdoar,
Os verdadeiros traidores e, finalmente, Aqueles que no nos
traram mas nos deixaram.
A diferena que se impe entre as duas geraes, embora
a comparao de Juju entre o Static Man e Lanuit, no que diz
respeito a ser um resistente, ao anseio de mudar o rumo dos
outros, a fazer parar e refletir, a dar a vida por uma causa, seja a
que se coloca entre a causa individual e a coletiva.
Sim, o palhao tinha-se imobilizado sobre o poleiro. E no
estava ali de braos estendidos, apenas por estar. Ningum
agentaria um sacrifcio desses. Pelo contrrio - Aquela pessoa
! #
a quem por acaso sua mulher dava guarida encontrava-se a
fazer troa de si e de todos aqueles que uns anos atrs tinham
feito Esttua nas enxovias da polcia por protegerem vidas,
defenderem ideais, arvorarem no alto as sagradas bandeiras
da utopia. Eles tinham ficado horas e horas sofrendo, em p,
afastados das paredes e de braos estendidos como cristos
agonizando pelos objectos altos da humanidade. Agora era o
oposto. Ali estava aquele palhao treinando-se para nada, ab-
solutamente para nada, que no dizer do seu cartaz era tudo!
(Jorge, 1995: 243)
Quer dizer, Lanuit vem de um mundo racional, o que no
conta com a coincidncia. Antigo resistente e desempregado,
queria salvar e purificar a sociedade. Agora, entretanto, no sabe
mais com o que sonhar:
Tudo faz parte do mesmo pesadelo. Alis, o problema que
pertencamos a um mundo em que dois pesadelos se ameniza-
vam um ao outro. Tu estavas num lado e imaginavas a salva-
o do outro, e vice-versa. A imaginao andava sempre a
viajar. Pelo menos tinhas uma estrada a percorrer. Agora, no
tens para onde espairecer a imaginao nem a revolta. Tudo
parte do mesmo ponto como se fosse o centro dum nico big-
bang. (...)Ambos pertencemos ao grupo dos irrecuperveis.
(Idem: 236)
O que muda explicitamente o fato de no haver grande
diferena entre o sonho e a vida, apenas da vida se demorava
mais a acordar. E sobre ele mesmo, sobre a sua vida e dos seus,
tinha descido uma noite sem fim (Idem: 291).
E, no desfazer-se do seu projeto, por coisas pelo menos
aparentemente inexplicveis e irracionais, como receber em pa-
gamento por um trabalho um cheque sem banco de origem, ou
como assistir mulher a deitar-se, como morta, em cima da
! $
grande mesa, no meio da loua, ou, ainda, o roubo do incndio
de 25 de agosto de 1988, do Chiado, estava a impossibilidade de
compreenso do momento: Curioso, muito curioso. Ou perdi
completamente o controlo da minha vida, ou algum a est so-
nhando por mim (Idem: 333). O que efetivamente se desfaz a
mola propulsora do sonho. No passado, resistia pela justia e
pela liberdade de um povo (Idem: 244). Agora, resiste como o
homem esttua, por um nada, um tudo individual. Rompe-se
com o passado e tira-se-lhe a possibilidade de presente.
H, sim, a tentativa de transformar o feito do Static Man
em coletivo, pela representao de Portugal nos rankings inter-
nacionais, no record, batendo, ocidentalmente, o record mundi-
al, no Guiness Book.
Isto , o rapaz de branco, de longos cabelos empastados em
color cream, no era um palhao, era um atleta a treinar-se
para o Guiness Book.
Ah! Assim, sim! J teremos alguma vez batido um record
mundial?
No, ningum se lembrava. E se no se lembravam era
porque no havia. Deus te ajude! disse uma velhinha.
Coragem, muita coragem! - incitava um rapaz que deveria
ser desportista, e passava com um grande saco como se l
dentro levasse uns remos. Uma grvida ficou a olhar. Fazes
bem olhar. As mulheres grvidas devem fixar os exemplos dos
voluntariosos para influenciarem os filhos. Olha, olha bem que
este tem pinta de entrar nos tops do mundo. J viste o autodo-
mnio, a fina compleio? pena ter a cara e o corpo cobertos
de branco...- O marido da grvida era bastante mais velho do
que ela e beijou-a na boca, para que a imagem do Static Man
passasse para o estro do feto, seu filho. No exageremos. No
sculo XVI fomos os primeiros a dar a volta ao mundo...
disse um lojista emparvecido com aquele movimento. Mas duas
raparigas em culotes gritaram Fora, fora! Nessa altura,
! %
ainda no havia Guiness Book... (Jorge, op. cit.: 175,176)
O que se abala quando o jovem recusa o recorde:
Mas a aproximao dos passantes e sua indignao eram
genunas. Tinham-se aglomerado a olhar para o cartaz, apesar
do calor e da zorreira da tarde. Uma senhora com a garganta
enfeitada a ouro disse Nunca me enganou, sempre achei que
no era um vencedor, que era um cobarde! A senhora levou a
mo garganta e, a, sim, dirigiu-se mquina de Falco
Coitado do meu neto que no fala em mais nada do que no
Static Man! Comeou a fazer uma banda desenhada em que o
recordista recebia uma medalha, e foi ao ponto de desenhar
bales com falas! Afinal no passa de um perdedor desgraa-
do! O que vou dizer ao meu neto?... So episdios destes que
vo minando a nossa auto-estima! (...) um cavalheiro ergueu
um saco da Loja do Povo. Abriu os braos diante da cmara e
lamentou profundamente De novo o nosso pas no vai
ganhar! No vai entrar na corrida dos primeiros... (...) Quer
dizer que no vai constar do livro? Se no vai constar do livro,
no consta da Histria, naturalmente! No era fcil compre-
ender o que se passava e at a frase estivesse mal escrita.
Oua, menino, pedimos-lhe que aceite! a nossa vida tambm
que fica em causa (...) (Jorge, 1995: 326,327)
No existe possibilidade de reversibilidade de um fato co-
letivo para individual. O indivduo cabro, covarde,
caguincha, fraco, mas a perda, agora, no mais individual,
coletiva. A ptria, j abalada em sua auto-estima, perde sua
possibilidade de recorde e de se fazer presente no Guiness.
E exatamente esse o mtodo de composio de Ldia
Jorge. Por trs do aparente irreal, desenham-se acontecimentos
reais e figuram pessoas vivas, proporcionando ao leitor uma vi-
so adequada do homem portugus do nosso tempo, dos seus
! &
problemas, do seu caos, da devorao e da asfixia causada pelas
contradies mltiplas.
Estamos diante de um romance sem sentimentalismo,
sem valores nulos, um mundo fragmentrio e atomizado, sem
possibilidade de unidade, mesmo atravs de Joo Lavinha, com
sua fuga para o metafsico, representando as igrejas
apocalpticas, tentando resgatar leis e regras, por meio do sa-
ber revelado, para uma sociedade que perdeu o valor do outro.
Um romance que se produz por uma srie de alegorias forte-
mente ligadas ao real. A prpria amplitude csmica do mito se
associa a um agudo sentido da atualidade num panorama con-
temporneo.
Do ponto de vista estrutural, esclarece a autora, O jardim
sem limites constitui um labirinto que se vai organizando em
espiral. E de fato vai. A obra se constri na velha Remington ao
tempo mesmo da leitura. No mundo fragmentrio e atomizado,
no h unidade possvel, h determinados arranjos de associao
entre os diferentes pedaos da realidade exposta que, na experi-
ncia esttica, liga-se contemplao para conhecer, sem inter-
vir. Da, os seres ficcionais e a narradora se inclui entre eles
serem submetidos, como o prprio funcionamento de uma soci-
edade marcada pela imobilidade, evidenciao de seus traos
mais significativos.
E quem era eu para lhes escolher os desejos, avali-los e
julg-los? Como j disse, apenas me interessava o espetculo
do mundo, e a partir da Casa da Arara, eu tinha a idia de que
o via na totalidade, espelhado numa gota de gua. (Idem: 51)
Ora, no mundo assim representado, a totalidade sempre
uma falsa totalidade. Na medida em que a narradora assume-se
tambm como personagem: Eu abandonava a mquina. ver-
dade, dormamos os quatro, na busca de manter a objetividade
do registro, a ao predomina sobre a nomeao, mas, ainda
assim, as demais personagens subordinam-se sua viso, muito
! '
embora registre em termos definitivos: limitei-me a assistir para
conhecer. No sou culpada (Jorge, 1995: 375).
Por outro lado, O jardim sem limites prope imagens
mticas. Na verdade, aponta para o Jardim do den e outros
mitos universais, o que Ldia Jorge, em entrevista a Martins,
explica da seguinte maneira:
No paraso, os limites no eram os rios, era aquela rvore
da sabedoria . No quero com isso dizer que seja bom haver
coisas proibidas, mas tem de haver um limite at onde possa-
mos ir sem desfeitear ningum. Hoje, por mais que se multipli-
quem as regras, as leis e os tribunais, a conscincia humana
continua a viver deriva e a barreira magnfica que o rosto
do outro perdeu-se. (Apud Martins, 1995, 132)
Na verdade, perdeu-se o rosto do outro e o prprio. O jar-
dim sem limites vive de casos particulares. Do ponto de vista mtico,
os jardins, mesmo os primordiais, eram uma mistura do bem e do
mal, mas tinham limites. Os da cosmogonia judaico-crist no ti-
nham limites exteriores. Os rios Pson, Gheon, Tigre e Eufrates no
constituam fronteira. A fronteira era o centro: a rvore.
N O jardim sem limites, no h qualquer tipo de frontei-
ra, nem interior nem exterior, as pessoas se movimentam e bus-
cam conhecer-se em seus feitos. O ilimitado do jardim no
mais do que a possibilidade, sempre mais rica do que a realidade
efetiva, mas que no admite a perfeio e, nesse sentido, a pos-
sibilidade pode tocar a morte, tal qual sucede ao Homem Est-
tua, que personifica o desejo de superao e a perfeio do im-
vel representados pela morte. Por outro lado, as possibilidades
so mltiplas e, ainda que os sobreviventes, Paulina, Falco,
Gamito e a narradora, dona da velha Remington, dormissem jun-
tos por puro medo, ainda assim tentam reorganizar o mundo,
Ficavam a pensar, mas no tinham a certeza. Ento levanta-
vam-se enrolados nas colchas e andavam pela casa. Arrastavam
"
os cobertores pelo soalho at junto da maviola (Idem: 375),
como se as imagens desgarradas que sobram do projeto do filme
do Falco, reordenadas, pudessem apresentar uma nova possi-
bilidade de leitura, fazendo-os escapar da devorao, ainda que
numa sociedad poseda por el frenesi de producir ms para
consumir ms, uma sociedade que tiende a convertir las ideas,
los sentimentos, el arte, el amor, la amistad e las personas mismas
en objetos de consumo (Paz, 1991: 62).
A devorao em Cabo Verde, entretanto, de outra or-
dem.
H que se atentar, primeiramente, para a duplicidade da
concepo espacial caboverdiana. H o espao limitado, interior,
ensimesmado da ilha e h o outro, o que tem o mar como cami-
nho mtico.
No espao interior, predomina um conjunto de ilhas quase
despidas de vegetao florestal, onde se assentam arraiais com
atividades pobres, derivadas do trabalho agrcola, com uma ca-
pacidade produtiva de vveres e gneros essenciais precria. Fal-
tam cidade caboverdiana os elementos distintivos do fenme-
no urbano. Da uma sociedade tradicional, sem projetos de futu-
ro, profundamente marcada pelo insulamento e condenada inr-
cia.
Seca, ilhamento e fora opressiva da tradio: esse o
rosto da terra madrasta (Amarlis, 1991: 52), a que condena os
filhos emigrao ou misria, sem que a primeira, necessaria-
mente, exclua a segunda.
Sabe comadre, a vida aqui j no podia continuar como
era. Sete anos sem chuva muito. Eu no tenho nem uma miga-
lha de reforma de Deus-Haja. Ns vivemos de renda dos boca-
dinhos de terra e de alguma coisinha, encomendas dos nossos
rendeiros, um cacho de banana de vez em quando, uns ovinhos,
um balaio de mangas uma vez por outra, uma quarta de
"
mongolon, umas duas quartas de milho e tudo.
Eu tambm no tenho nada, comadre Ana. Se no fossem
as flores para as coroas dos mortos ou umas rendinhas para
lenol, como eu me havia de governar, comadre? (AMARLIS,
1983:14)
Assim, a devorao de outra ordem: a da misria, do
desemprego, da fome, da doena, da morte. Mal-feitio ou no,
muita gente nova em Soncente morria tuberculosa e, se crianas
ainda, morriam de febre tifide, e se meninos de mama, morriam
com desinteria (Amarlis, 1991: 17).
No se trata, portanto, de resistncia lngua ou cultura
do colonizador o que aqui conta. A lngua resiste no fazer liter-
rio de Orlanda Amarlis pela insistncia do crioulo, dialeto com
estatuto de lngua, na fala dos seres ficcionais por meio do re-
gistro das formas orais. A cultura, por sua vez, resiste nos mitos
e na mestiagem cultural que toda a sociedade, em maior ou
menor grau, sofre. No se trata de personalizar o tirano no colo-
nizador nem anular o processo histrico. Embora, preciso no
esquecer, Cais-do-Sodr t Salamansa seja um livro anterior
na-cionalizao, traz a viso, ainda que diasprica, de uma col-
nia decadente devido seca e m administrao pelo pouco
interesse do colonizador, a no ser como base naval do passado
e do presente, como posto de abastecimento de navios. Trata-
se, em ltima anlise, isso sim, da decifrao dos signos da mi-
sria e da alienao social impostas por essa terra madrasta.
no conto Esmola de Merca, que compe Cais-do-
Sodr t Salamansa, num olhar sobre o Eu, pela experincia co-
mum, quotidiana, da chegada da ajuda externa, o que acentua o
grau de miserabilidade, que Orlanda Amarlis revela, com preci-
so, a condio scio-histrica do povo caboverdiano.
No pelourinho, na Praa Nova, na igreja, nos passeios da
noitinha, no havia outra conversa. No Grmio, hora da canasta,
j tinham falado nisso. Isso, era a esmola de americano que
"
chegava de vapor: (...) so caixotes e caixotes de roupa. (...)
Tambm mandaram farinha, banha. Vai ser um dia grande
(Idem,51).
quando o texto de Amarlis, tocando nos problemas
mais ingentes do povo, permite-nos a contemplao desses ato-
res sociais, que retratam, com surpreendente realismo, a experi-
ncia local.
O povo fora-se juntando do lado de fora. Aguardava. No
fora preciso avis-lo. Ainda o vapor no havia alcanado o
ilhu Raso e ele sabia: a esmola dos patrcios vinha pela baa
dentro. Na sua maioria eram mulheres velhas, andrajosas, de
olhos encovados e cabelo engasgado pelo p e falta de pente,
escondido debaixo do leno vincado de tanto uso. Parte delas
viera arrimada ao seu pau de laranjeira, desde a Ribeira Bota,
a arrastar os ps descalos e gretados at ao meio da morada.
Uma parte espalhara-se pelo passeio da Administrao, outras
sentadas no patim das portas laterais, outras aguardavam de
ccoras nos passeios. Penderam o queixo sobre os joelhos uni-
dos e abraavam as prprias pernas, com a saia de pano
esfiapado na bainha puxada de modo a cobrir os ps.
(Idem:53,54)
Esmolas de Merca um conto seco. Em sua estrutura
linear por adio, vai, num crescendo, num tempo marcadamente
cronolgico, no plano do real objetivo, fazendo-se crnica soci-
al e recuperando, no Mindelo, o espao da experincia de uma
sociedade corroda pelo drama da misria.
Conto aberto ao popular, sem nenhuma preocupao es-
ttica de experimentao, faz com que suas personagens saiam
do meio objetivo e sociolgico, trazendo como pano de fundo o
desespero da fome, do frio, e a passividade popular e, a, se
destacam tipos transindividuais, aqueles que carregam consigo a
psicologia e o comportamento da classe a que pertencem.
" !
neste quadro que a velhota de tronco abaulado sob a
cabea a tremular aspira por comida:
Banha de Merca faz engrossar a cachupa. Cachupa fica
sabe, sabe com banha de Merca(...)
N Senhor me perdoe, quase me esqueci do gosto da
cachupa disse baixinho e riu. Atemorizada porm fez o sinal
da cruz. Dias-h no mundo eu no tenho comido cachupa
nem nenhuma comida de caldeira. S parentem, s vezes. Mas
eu no tenho dentes, voc sabe, e custa-me comer parentem.
Ficou a ver a rua cheiinha de gente pobre como ela. (Idem:
54)
Mas , nesse quadro, e de um povo impaciente, impaci-
entes e contentes. Ia ser uma boa semana (Idem: 55), que a
figura de Mam Zabl se agranda na representao deste mesmo
povo:
Estava esperanada. Bia Sena havia-lhe prometido um ca-
saco de Merca, quente, um casaco para a resguardar do frio da
cambota. O frio passado dormia de noite enrodilhada na saia
preta que lhe tinha dado Nha Elvira de Nh Jul Sousa. Oh tanto
frio ela passou na cambota, Nhor Deus. As pedras eram duras
e o vento do Lazareto furava a pele e trespassava uma criatura
de Deus. Os mocinhos de ponta-de-praia tinham mais sorte.
Dormiam debaixo do coreto, na Praa Nova. Mas ela era gente
velha, tinha compostura, no ia dormir debaixo do coreto, no
senhora. (Idem: 55)
Quando viu um casaco semelhante ao que queria em Nha
Joninha, sentiu um desespero:
(...) sentiu um frmito ao v-la. Quase correu. Furou onde
podia, esquecendo-se do bordo, onde se amparava. Trope-
" "
ou, entretanto, e caiu de bruos, mesmo junto casota. Um
grito elevou-se da pequena multido e duas mulheres ajuda-
ram-na a sentar-se.
Um fiozinho de sangue na boca, conseguiu desvencilhar-se
delas e, a rastejar, aproximou-se. De joelhos, agarrou a saia de
Bia Sena:
Arranja-me um casaco de Merca, um casaco como esse
de Joaninha. (Idem: 56)
Mas o drama e o quadro no terminam a:
Um chorinho manso no a deixou continuar. De ccoras, o
queixo sobre os joelhos tapados com a saia, o choro de Mam
Zabl, entrecortado de lamentos ininteligveis, vazava em rpia
monocrdica. (Idem: 57)
Aproximava-se o meio-dia, momento de o estmago come-
ar a dar horas. Mam Zabl, acocorada perto da casinha pa-
rara de chorar e pegara no sono. O queixo descado, a boca
aberta, da garganta subia-lhe e descia um gorgolejo seguido.
(Idem: 58)
Quando voltou deu com a Mam Zabl a dormitar no mes-
mo lugar, de boca aberta. Aproximou-se, curvou-se e bateu-lhe
no ombro. Mam Zabl no deu sinal de si. (...) Enrodilhada
sobre si mesma, tinha batido com a cabea contra o cimento.
Parecia um novelo escuro e sujo atirado para ali. (Idem: 59)
A conscincia dessa realidade passa aqum da adminis-
trao, uma vez que a ciso entre aquela e o povo a marca
definida, tanto que da janela do primeiro andar, Senhor Amadeu
da Fazenda e seu compadre Gouveia apreciavam, divertidos, o
povinho (Idem: 55).
" #
A conscincia vem de Tina, seja pelo aproveitar-se da
situao, vindo buscar os pobres, no miserveis, a esmola, em
detrimento daqueles; seja pela ligao do administrador com as
mocinhas, em que a questo sexual entra em evidncia na signi-
ficao do uso; seja na imagem que a esmola produz, na carac-
terizao do ator social: Deu-lhe vontade de rir ao ver sair da
casota uma outra Mam Zabl, inchada de roupas. Lembrou-me
um fantoche de cores, um desgraado palhao de um circo sem
nome (Idem: 60). E nisso, Mam Zabl no era diferente de nin-
gum, como num desfile de carnaval (Idem: 57).
Bia Sena foi encaminhando as mulheres para uma casota
onde as despia. Era uma operao lenta, dolorosa para a vista,
penosa para quem a fazia. Ao cabo, saam transformadas nos
fatos novos, envergando vestidos de seda, farfalhudos, em chifon
ondulante com alastrados estampados azuis, vermelhos. Algu-
mas reapareciam com chapus de praia, descados, capelines
de crina, realadas de flores e tule, feltros enterrados sobre as
orelhas encardidas. (Idem: 56)
O conto termina assim:
O sol a pino queimava. O mesmo cheiro pestilento de h
bocado incomodou-a.
Transps o batente, puxando a porta em seguida.
Hoje no serei capaz de almoar, pensou, enojada de tudo
quanto lhe ficara para trs naquele quintal fedorento.
Caminhou pela rua fora, apressada, desejosa de alcanar
o sobrado e estender-se na cama de ferro, comprada pela ma-
drinha quando tivera a febre tifide. (Idem: 60)
Quer dizer: Orlanda Amarlis acolhe a realidade fazendo
do seu texto denncia, encaminhando-se, entretanto, para o des-
prezo melanclico, quando o realismo social aponta para o sen-
" $
timento trgico e a situao absurda num cotidiano estaticisado,
esvaziado de sentido.
Ocorre que o presente no luta, contemplao de si
mesmos enquanto atores sociais na representao de sua condi-
o histrica. A ajuda sistemtica, paternalista, traduz-se num
artifcio:
Isto no vem remediar nada, pensou olhando para alm da
madrinha. (...) Nem chega a ser um remendo, pensou ainda. Os
patrcios de Lisboa tambm mandam roupas usadas, calas,
po seco. Senhores, mandam po seco para a nossa gente amo-
lecer em gua e enganar a fome. (Idem: 51)
Na verdade, essa ajuda no atinge nem a estrutura social
nem a econmica nem a cultural do arquiplago. Agindo como
entorpecente, apenas nutre a tendncia substituio de um cer-
to imobilismo por outro.
Tratando-se, entretanto, da devorao, a corrupo, o
exibicionismo e o discurso demaggico tambm fazem parte
desse quadro e no conto Pr-de-sol que se revela, quando
Candinho faz uma festa, depois de solto da priso, para tirar de
cima de si o enxovalho daquela histria de ter sido preso (Idem:
74).
Quando perguntado por que escondera os sacos de ali-
mento, se havia a fome do povo, responde:
Olha Damata, parece-te que eu seria capaz de esconder a
comida para deixar de encher a barriga do nosso povo? Pare-
ce-te? Tu sabes, bem, Damata, e no o podes negar. Eu pago
melhor do que os outros quando h descargas e eu, e eu, sim,
eu a voz tornou-se-lhe firme todos os sbados dou esmola
minha porta a mais de trinta pobres. (Idem: 69)
" %
Para reconhecer-se, ao final, como homem de posio
na terra, respeitado e, depois, sempre foi uso os comerciantes
esconderem o milho nos anos de carestia (Idem: 74).
Ora, a frmula dessa devorao a da posse de terras nas
mos de uma minoria, aliada ao fator da seca e a uma nsia
insacivel de lucro. o distanciamento entre os valores huma-
nos e os valores do capital, criando uma realidade opressiva,
esmagadora, feita de sofrimento e servido, de desespero e inr-
cia, cujo resultado a misria.
H, ainda, em Orlanda Amarlis, uma devorao de outra
natureza que tambm atinge o espao, a cidade, e, atingindo a
cidade, que se devora a si mesma, atinge o homem de Mindelo.
Trata-se do tempo e das transformaes que traz consigo.
Paradigma dessa afirmao o conto Canal Gelado, de
Ilhu dos Pssaros, obra de 1983, que se desenvolve em dois
planos: o plano da memria, quando o passado se presentifica, e
o plano do real objetivo, por meio do dilogo informal, possibili-
tando, no confronto entre ambos, a reavaliao dos valores tem-
porais e a perda da histria individual, de Mandinha, que se faz
coletiva. No h, portanto, a preocupao com a interioridade. A
ao apenas o contraste, buscando refletir ambas as realidades
da forma mais fiel e completa possvel, sem a introduo de
marcas estilsticas que as distinga, a no ser o prprio tempo.
Orlanda Amarlis cria, no passado, uma espcie do que Mendilow
(1972: 120) classifica de presente ilusrio, ao evocar o efeito
da pintura, um presente que possui uma estreita extenso tem-
poral, enquanto o presente desenvolve-se num dilogo curto,
apenas enunciador de informaes.
No tempo da memria, as casas eram todas iguais. Um
quarto trreo e um quintalinho. A cozinhavam e tomavam ba-
nho (Amarlis, 1983: 68):
Todo o quarteiro, alis, estava cheio daquelas casas de
um quarto e um quintalinho. Casas dos carregadores de car-
" &
vo da companhia inglesa Millers and Son. A parte da frente
do quarteiro dava para a Rua da Praa Nova, tinha um ar
mais concertado. Comeava com a casa de nha Chinchinha, a
casa do Dr. Roque, a igreja inglesa. Depois a rua do Padre
Ingls. Dobrada a esquina, a rua subia por ali adiante. Era a
travessa do Cadamosto. Na casa do tio Pedro entrava-se por
um quintal onde havia cabras. (Idem: 70)
Se, subjetivamente, essas casas guardam histrias da in-
fncia, Mandinha, menina de outra classe, um pouco mais abas-
tada, cujo tio pagava-lhe para falar portugus e no crioulo, que,
em vez de ir para a escola, ia direto para a caboverdianidade do
Canal Gelado comprar cimbro de nha Quinha, vive a diferena
da qualidade de vida daquelas moradas e daquela gente descala.
Objetivamente, o Canal de propriedade dos ingleses no era mais
do que um poo de tuberculose, aquela passagem estreita e
ressaibada de doenas, chichi e escassez de catchupa... (Idem:
67).
O que mudou? Taparam as sadas do canal, o quarteiro
foi colocado abaixo para dar lugar s casas novas, altas, o bairro
da Holanda; de um lado, do que era o canal, a Rua Kwame
NKrumah; do outro, uma avenida, a Pracinha de Igreja agora
Praa Amlcar Cabral.
O que mudou? No passado,
(...) tudo andava descalo, gente-grande e gente-menino, e
as roupas remendadas, roupa de trabalho, riscavam vincos de
p de carvo da Compainha. tardinha saam pela banda de
cima, mais ampla e arejada, iam tomar um groguinho ou co-
mer uma gemada no botequim do Freitas. (Idem: 68)
No presente, os homens da nossa terra ainda andam de
ps descalos, alguns s aos domingos se pinocam com roupas
de Holanda (Idem: 68).
Fica evidente, ento, que muda a paisagem, mas a
devorao primeira, a do drama da misria, essa persiste, e per-
siste na forma da estaticidade social, com o Ilhu dos Pssaros,
em sua pequenez imponente, a servir-lhe de testemunha.
#
FRICA AMARELA:
O EXERCCIO DO PODER
Embora, na obra de Ldia Jorge, a crueldade da guer-
ra colonial aparea j em uma cena de O dia dos prodgios, e
embora os caboverdianos sejam trazidos narrativa em Notcias
da cidade silvestre, em A costa dos murmrios que a autora
trata da ocupao e da atuao portuguesa na frica.
Voltada para os ltimos anos da dcada de 60, incio da
de 70, em plena guerra colonial, uma guerra de libertao nun-
ca reconhecida pela metrpole Nunca se sabe quando Lis-
boa recusa uma vitria atingida a tantos milhares de quilme-
tros (Jorge,1992:232) , A costa dos murmrios questiona a
Histria e a conscincia do pas, por meio da relao com o
Outro, o africano, criando condies para, numa espcie de
espelho, o ver-se na ao como forma de chamamento, at
porque
(...)Fazamos o nosso Vietnam sozinhos, com o Mundo contra
ns, quando defendamos a Civilizao Ocidental. Mas quando os
americanos perdessem a guerra no Vietnam porque eles haveri-
am de a perder Portugal teria h muito vencido a guerra das
suas provncias por determinao dos altos comandos. (Idem:
231)
E
4
#
Como nos outros livros, Ldia Jorge, aqui, experimenta
na forma. Pode-se falar, em termos de estrutura, de duas partes:
o relato, Os gafanhotos, e a reviso do relato, A costa dos
murmrios, quando, depois de vinte anos, Eva Lopo, antes Evita,
resgata a verdade da Histria por meio de uma conscincia que
se agudiza neste hiato de tempo entre a reelaborao do real o
relato e o real mesmo, com sua fragmentao.
O relato narra um episdio colonial ocorrido na cidade
moambicana da Beira: o casamento, os amores, as danas; os
soldados convergem para Mueda; os autctones morrem por
terem ingerido metanol, uma nuvem de gafanhotos ganha a cos-
ta; e Lus Alex suicida-se com o revlver do capito que Helena
de Tria, a causa do conflito (Idem: 72), tira da bolsa, porque
(...) Todos, incluindo Evita, compreendiam que o excesso
de harmonia, felicidade e beleza provoca o suicdio mais do que
qualquer estado. Infelizmente, muito infelizmente, as guerras
eram necessrias para equilibrar o excesso de energia que
transbordava da alma. Grave seria proporcionar demasiada
felicidade. (Idem: 38)
As personagens de Ldia Jorge so profundamente
marcadas pela solido. No uma solido de natureza, mas uma
solido imposta por foras histrico-sociais, pela prpria situa-
o de guerra colonial, de ser Mesmo em terra de Outro.
absolutamente solitria a bela Helena, com seu cabelo
vermelho, sua pele leitosa, uma mistura de representao, ino-
cncia e medo, fora e fragilidade, a que no podia suportar o
regresso do marido da frente de luta. Ser tantas sendo uma. Mas
tambm o o Capito Jaime Forza Leal, com sua cicatriz feito
distintivo precioso, a ter de manter-se heri; o noivo, imitao
do capito, que de um jovem dedicado matemtica se
#
redescobre, na guerra, como um brbaro, que cortava a cabea
do inimigo e a enfiava num pau, subia s palhotas e ameaava a
paisagem, como os melhores entre os Godos, os rabes, os
Hunos (Idem: 139); o jornalista, irmo verdadeiro de toda a
frica negra (Idem: 250), com suas mulheres e seus oito fi-
lhos, sempre indecifrvel como sua Coluna Involuntria, no
Correio do Hinterland.
As relaes que se estabelecem entre eles Helena/Jaime,
Evita/noivo, Evita/jornalista, Jaime/noivo, Evita/Helena so me-
diadas pelo incompleto ou pelo falso. A linguagem uma lingua-
gem que no revela, que esconde e, graas a isso, permanecem
estranhos uns para os outros, mascarados, protegidos, sem amor.
E Eva, antes Evita, se revela pelo ngulo de viso que se coloca
sobretudo em A costa dos murmrios, subordinando a si as
outras personagens e os acontecimentos.
Na verdade, a traio de Helena ou de Evita, a morte do
despachante ou de Alex no so mais do que pretextos para que
se alcem significados maiores, quando a literatura revisa, criti-
camente, a Histria.
E, a, joga-se texto contra texto. O relato e a sua reviso.
L, Evita. Aqui, Eva Lopo que, com um olhar cru, entre ironia e
cinismo, vai restituindo ao tempo a sua real dimenso, sem pre-
ocupao cronolgica o que aumenta o encantamento da leitu-
ra , deixando que a memria flua, refazendo-a de modo crtico,
onde o que vivncia e o que no se confundem, como forma
de encontrar a verdade, tal como quer Guilln (1985:385):
No basta con que el relato histrico sea verdadero, si por la
verdad designamos solamente el relato fiel a lo que de hecho
sucedi. Para captar la contextura y calidad del vivir pretrito,
es menestrer abrir-se a la complejidad de unos procesos que
abarcaron variedades de opciones, cmulos de esperanzas,
interaciones entre estas y los condicionamentos sociales y
materiales cuyos resultados y desenlaces hubieran podido ser
# !
diferentes. El dilogo entre la Historia desde la perspectiva del
presente y la Historia desde la perspectiva del passado descubre
una tercera dimension: la de lo virtual, lo-que-hubiera-podido-
suceder.
A primeira parte, Os gafanhotos, tenta refletir a realida-
de de forma compacta, to fiel e completamente quanto possa. A
segunda parte, A costa dos murmrios, desesperando da pri-
meira, evoca o sentimento de uma nova realidade prpria, em busca
da verdade total, embora isso no se declare objetivamente.
Aconselho-o, porm, que no se preocupe com a verdade
que no se reconstitui, nem com a verossimilhana que uma
iluso dos sentidos. Preocupe-se com a correspondncia. Ou
acredita em outra verdade que no seja a que se consegue a
partir da correspondncia? (...) A si, a mim, que fomos onde
fomos, estivemos onde estivemos, basta-nos uma correspon-
dncia pequenina, modesta, que ilumine apenas um pouco da
nossa treva. (...)
No, no ou dizer que as figuras esto erradas, e que
indiferente que estejam erradas, de modo nenhum. Tudo est
certo e tudo corresponde. Veja, por exemplo, o major. Est to
conforme que eu nunca o vi, e no entanto reconheo-o a partir
do seu relato como se fosse meu pai. (...) Ah, como admiro essa
figura que encontrei espalhada por vrias! E o noivo? Como
compreendeu o noivo, tapando a boca de Evita com a boca, no
momento em que ela ia pronunciar o M de Matemtica! Claro
que no foi bem assim, mas a correspondncia perfeita. A tal
pequena, humilde e til correspondncia que no nos deixa
navegar completamente deriva. s vezes quase, contudo. (Jor-
ge,1992: 42,43)
No relato, o passado, pela correspondncia, permanece
como tal. Acabado, fechado. Em A costa dos murmrios, no.
preciso que o passado se presentifique como forma de res-
# "
guardar o distanciamento crtico. Importa a reao ao passado
e ao relato que visto do presente luz do presente, como
uma espcie de recuperao e de exorcismo de certas experin-
cias que ultrapassam o individual, impondo uma conscincia ti-
co-histrica, trazendo cena o grande teatro colonial. a dis-
tncia que se coloca entre Evita e Eva Lopo. A mesma distncia
entre a verdade e o real:
A verdade deve estar unida e ser infragmentada, enquanto
o real pode ser tem de ser porque seno explodiria disperso
e irrelevante, escorregando, como sabe, literalmente para lu-
gar nenhum. (Idem: 85)
Quer dizer, nOs gafanhotos, s a verdade interessa
(Idem.Ibidem). N A costa dos murmrios, interessa o real,
que, gmeo da verdade, mais verdadeiro, porque fragmenta-
do, do que ela.
Segundo Salvato Trigo (s.d.: 148,149),
Portugal (e, alis, as outras potncias colonizadoras) nun-
ca compreendeu que ningum pode suportar toda a vida a afron-
ta e a proscrio dos seus direitos. Portugal tambm no com-
preendeu os Ventos da Histria que sopravam por todo o
continente africano, a partir das independncias francfonas e
anglfonas, e, em vez de reformar o seu sistema colonial, refi-
nou-o.(...) o regime de Salazar proclama a utopia dum Portu-
gal do Minho a Timor. O colonizado, reduzido cada vez mais
ao silncio...
, de fato, o refinamento do sistema colonial e o silncio
do colonizado que Ldia Jorge traduz no seu texto, quebrado,
apenas, pela voz nica do jornalista e pela gincana a tentar salvar
suas casas, sua terra, seus artistas.
Aqui, a realidade cultural estrangeira africana tida
# #
por inferior e negativa em relao cultura de origem portu-
guesa. Instaura-se a fobia, e essa atitude desencadeia, como
reao, uma sobrevalorizao da cultura de origem.
A voz ou as vozes que emerge do texto predomi-
nantemente a do dominador, e no do Outro, e o espao do
Outro, reconhecido como espao do Mesmo, se traduz por
esta voz. Assim, o espao ficcional desorganiza o espao geo-
grfico para reorganiz-lo, j modificado criticamente. O espa-
o do Outro transforma-se numa espcie de espao do Mesmo
palco onde se situam as narrativas: Os gafanhotos e A
costa dos murmrios por isso ele redimensionado, toman-
do da alteridade o reconhecimento de si. No se trata, entre-
tanto, do espao ambgo do carnaval, em que cada um de-
sempenha tambm o papel do Outro numa representao sem
palco. H, isso sim, um espao totalizado em que dominador e
dominado desempenham-se a si prprios, mas s o primeiro
tem voz. Comenta Edward W. Said:
O que h de marcante nesses discursos so as figuras de
retrica que encontramos constantemente em suas descries
do oriente misterioso, os esteretipos sobre o esprito afri-
cano (...) as idias de levar a civilizao a povos brbaros ou
primitivos, a noo incomodamente familiar de que se fazia
necessrio o aoitamento, a morte ou um longo castigo quando
eles se comportavam mal ou se rebelavam, porque em geral
o que eles melhor entendiam era a violncia, eles no
eram como ns e por isso deviam ser dominados. (1995: 12)
Mas que frica essa?
frica amarela, minha senhora disse o Comandan-
te, apertando pelo carpo a mo de Evita. As pessoas tm de
frica idias loucas. As pessoas pensam, minha senhora, que
frica uma floresta virgem, impenetrvel, onde um leo come
um preto, um preto come um rato assado, o rato come as co-
# $
lheitas verdes, e tudo verde e preto. Mas falso, minha senho-
ra, frica, como ter oportunidade de ver, amarela. Amarela-
clara, da cor do Whisky! (Jorge, op. cit.: 12)
Ainda cedo para ter verificado, mas ver que essa uma
das poucas regies ideais do Globo! Admire a paisagem, e
ver que para ser perfeita, s faltam uns quantos arranha-cus
junto costa. Temos tudo do sculo dezoito menos o hediondo
fisiocratismo, tudo do sculo dezanove excepo da liberta-
o dos escravos, e tudo do sculo vinte excepo do televi-
sor, esse veneno em forma de cran. Com uns vinte arranha-
cus, a costa seria perfeita! (Idem:13)
Mas a frica , sobretudo, a da rebelio ao Norte de
Moambique:
No esqueci, porm como o Stella mantinha todo o fragor
dum hotel decadente transformado em messe, de belssimo hall.
Era a, no hall, largo como um recinto de atracagem, e filtrado
pelos panos brancos das janelas, que os homens abastados que
desciam pelos Trans-Zambezian Railways, vinham espalhar
at dcada de cinqenta, as inumerveis malas, os longos
dentes de elefante. Antes de tomarem os paquetes e partirem a
negociar, em lngua inglesa. O sussurro dum tempo colonial
doirado vinha ali aportar, e por isso se falava do modo como
as banheiras primitivas eram assentes no cho por ps em
forma de garra. Nessa altura, ainda os negros no podiam, ou
no queriam, encontrar os colonos brancos no passeio das
ruas. Quando falavam, jamais viravam as costas, curvando-
se s arrecuas at desaparecerem pelas portas, se entravam
nas casas. Ah, desse tempo de banheiras com p de garra im-
portadas da Europa! Que cheiro antigo, que cheiro a arte a
envelhecer e a passar! A rebelio ao Norte, porm, tinha obri-
gado a transformar o Stella em alguma coisa mais prtico
ainda que arrebatadoramente feia. (Idem:
44,45).
# %
, pois, o momento da ruptura, quando o Outro empe-
nha-se em conquistar a dignidade individual e social, at porque
o contato imperial nunca consistiu na relao entre um nativo
no ocidental inerte ou passivo, sempre houve algum tipo de
resistncia ativa e, na maioria dos casos, essa resistncia acabou
preponderando (Said, 1995: 13) e, aqui, a presso da Histria,
que ento se constri, se faz presente, embora sempre na pers-
pectiva do Mesmo:
Percebia tambm que ningum falava em guerra com seri-
edade. O que havia ao Norte era uma revolta e a resposta que
se dava era uma contra-revolta. Ou menos do que isso o que
havia era o banditismo, e a represso do banditismo chamava-
se contra-subverso. No guerra.
Por isso mesmo, cada operao se chamava uma guerra,
cada aco dessa operao era outra guerra, e do mesmo modo
se entendia, em terra livre, o posto mdico, a manuteno, a
gerncia duma messe, como vrias guerras. (...) A desvalori-
zao da palavra correspondia a uma atitude mental extrema-
mente sbia e de intenso disfarce. (...) O sentido de guerra
colonial no pois de ningum, s nosso. (Idem: 74,75)
O sentido de guerra colonial no pois de ningum, s
nosso. Essa a frase sntese da situao portuguesa do
salazarismo.
Retomando o pensamento de Salvato Trigo, a ditadura
salazarista impe aos portugueses a alienao sobre o que se
passava no mundo e que pudesse abalar a estrutura do regime.
Da a descolonizao do imprio portugus ser uma parte tardia
do fenmeno global de dissoluo dos imprios coloniais euro-
peus, que se seguiu II Guerra Mundial (1939-1945), e que
configura o ciclo descolonizador do sculo XX. Indiferente a
essa dinmica e orgulhosamente s, no dizer de Pedro Pezarat
# &
Correia (1996: 41), Salazar pretendia que Portugal permanecesse
imune ao contgio e alheio aos ventos da Histria. Mas os po-
vos das colnias no aceitaram o diktat de Salazar. E lanando-
se na luta libertadora, elevaram a um tal grau as contradies do
regime, que levariam conquista da liberdade pelo prprio povo
da metrpole colonial (Idem, ibidem).
Cabe, aqui, a pergunta: quem o Outro na obra de Ldia
Jorge? O Outro, sem voz, aparece sob a forma de esteretipo.
No mais do que o selvagem em rebelio. Ainda era muito
cedo para se falar de selvagens eles no tinham inventado a
roda, nem a escrita, nem o clculo, nem a narrativa histrica, e
agora tinham-lhes dado umas armas para fazerem a rebelio...
(Jorge, 1992: 14).
aquele capaz de matar o seu igual:
So os senas e os changanes esfaqueando-se. Que se
esfaqueiem. So menos uns quantos que no vo ter a tentao
de fazer aqui o que os macondes esto a fazer em Mueda.
Felizmente que se odeiam mais uns aos outros do que a ns
mesmos. Ah!Ah!... (Idem: 17)
O que os macondes fizeram em Mueda, na dcada de 60,
foi uma grande movimentao de luta pela liberdade, que resul-
tou em centenas de mortos e feridos. Pois foi a resposta portu-
guesa, absolutamente violenta, e a recusa ao dilogo que forne-
ceram o aproveitamento poltico de acontecimentos como esse
pelos movimentos de libertao. Da a afirmao de Correia, (op.
cit.: 41) de que:
Foi a intolerncia portuguesa a verdadeira geradora da
guerra colonial, para a qual empurrou os movimentos nacio-
nalistas, que no baixaram os braos perante a represso que
se abateu sobre a ao poltica.
Retomando o texto de Ldia Jorge, o Outro o black,
# '
capaz de tomar lcool metlico por vinho branco, provocando
dessa maneira a morte em massa, mas incapaz de um gesto no-
bre, embora a certeza do major:
O major de dentes amarelos, tambm num belo robe de
seda, mas com um drago pintado nas costas, no tinha dvi-
das, e lembrava que os povos vencidos por vezes se suicidam
coletivamente. E referiu o que tinha acontecido ao Imprio Inca,
nos Andes, depois da morte de Atahualpa Yupanki. Ora no
fundo, toda a gente sabia que se estava a convergir para Mueda
e qual o significado disso. Porque no admitir que os povos
autctones daquela terra no se quisessem suicidar? E no
seria um gesto nobre? Suicidarem-se colectivamente como as
baleias, ao saberem que nunca seriam autnomos e indepen-
dentes? Nunca, nunca, at ao fim da Terra e da bomba nuclear?
Major abriu os braos e o drago desenrugou a potncia da
sua lngua vermelha, pintada. (Jorge, op. cit.: 20)
No, o Outro no seria capaz de um gesto nobre, apenas
de um gesto estpido como o de tomar lcool por vinho e
vrias pessoas do cortejo se sentiram a princpio chocadas
pela estupidez, depois sentiram dio pela estupidez e a seguir
indiferena pela estupidez. No se conseguia ter solidariedade
com quem morria por estupidez como aqueles blacks. (Idem:
23)
A mesma estupidez que poderia, eventualmente, sempre
da perspectiva do Mesmo, faz-lo sensvel aos prospectos da
Fora Area Portuguesa:
Guerrilheiro, rende-te, ns somos os teus verdadeiros
amigos,e a nossa ptria s uma, a portuguesa. Pega nas tuas
mulheres, nos teus bens, nos teus sobrinhos e famlia, teu tio,
$
teu pai, tua me, e rende-te tropa portuguesa. O portugus
teu amigo, o que os outros dizem so falsas panaceias... (...)
Os Dakotas estavam a semear a floresta de milhares e milha-
res de folhetos, com dizeres apelando aos sentimentos de paz
que ainda devia haver no esprito belicoso do povo maconte.
Era uma chuva de prospectos pedindo aos guerrilheiros que
depusessem armas e se entregassem nos postos de gua e nos
quartis. Em troca, eles teriam uma palhota j feita, teriam
segurana completa, escola, padre e milho. O piloto dizia que
os Dakotas poderiam vir a largar vrias toneladas de roupa
europia, perfumes e artigos de higiene, por cima do planalto e
por toda a floresta circundante. Ah,que soberba imagem! Que
lindssima chuva de gneros, a do piloto! Como uma ratoeira
que por fim desarma a tampa e cai do cu. E depois? Viria a
paz. Todas olhavam para o cu.
E o Mundo vai finalmente reconhecer-nos, senhor capi-
to? (Idem: 114)
Essa ltima frase, E o Mundo vai finalmente reconhe-
cer-nos, senhor capito?, que, no texto de Ldia Jorge, tem
como resposta: O mundo no a ONU, minha senhora., diz
respeito ao isolamento internacional a que Portugal submetido
em decorrncia da sua intransigncia ultramarina. Esse isola-
mento tem incio justamente na ONU, com a Resoluo n. 1514
(XV) da Assemblia Geral Declarao sobre a concesso da
independncia aos pases e povos coloniais, de 14 de dezembro
de 1960. Portugal no cumpre a Resoluo e passa a sofrer su-
cessivas expulses de organismos internacionais, vindo a ficar
reduzido ao apoio da Espanha e, principalmente, da frica do
Sul e da Rodsia, pases limtrofes de Moambique, ao sul do rio
Zambese, com regimes de apartheid.
Da o reconhecimento, em A costa dos murmrios, do
valor de luta da frica do Sul, que apia, inclusive militarmente,
Portugal:
$
Voc devia perguntar mas como so os sul-africanos em
combate. Esses sim, desses que voc deveria querer saber.
Saberia o que um verdadeiro conceito de combate.Pergunte
ao seu marido e no a mim como fazem os loirinhos que nos
ajudam...
Esses sim, aquilo que sempre a matar. E que matar!
V-se mesmo que vm duma outra raa, muito mais pragmti-
ca, muito mais metdica, muito mais bife... (...)
(...) Estavam ambos de acordo que havia gente muito mais
eficaz em combate do que aquele que era praticado por eles
mesmos em Cabo Delgado. (Jorge, 1992: 70,71)
a partir da dcada de 70 que o Governo portugus sofre
golpes significativos no campo diplomtico e, entre eles, em 1972,
a aceitao na ONU de representantes dos movimentos de liber-
tao, com o estatuto de observadores, fazendo com que Portu-
gal fique cada vez mais s.
No entanto, a auto-imagem do Mesmo, aquele trado e
envelhecido com as armas paradas, sobretudo depois da Se-
gunda Guerra, num pas que a no tinha tido(...) ( Idem: 58),
essa tem sua chance de recuperao justamente na guerra colo-
nial, A nao estava cheia de gente que nunca assistira a outra
cena de combate que no fosse a dum ridculo distrbio porta
duma taverna, dois bbedos com dois galos na testa(...) e, por
outro lado, ela representa, tambm, um bem ao colonizado, afi-
nal, O que era uma terra sem a memria activa do inimigo?
(Idem:59). E, a, Moiss d costa no como uma criana num
cesto, mas sob a forma de veneno, a garrafa de lcool metlico,
dentro de um saco de napa. Ambos, cada um a seu modo, fun-
dadores de nacionalidades. Moiss, da nacionalidade israelita. O
veneno, utilizado como estratgia, poderia vir a ser, atravs da
srie de mortes que desencadeia, fundador do estado que ali se
formaria:
(...) o General sonha com o momento em que se tornar,
por direito, presidente daquele estado, quando for estado.
$
(...)Mas a que se levanta um problema. Ou Lisboa a
favor da Civilizao Ocidental de que faz parte e cede a uma
autonomia branca, ou a favor do desmantelamento da Civili-
zao Ocidental e manter tudo na mesma e a guerra continu-
ar. (Idem, 233)
Como se, de fato, a guerra j estivesse ganha, e numa
aluso FICO, Frente Independente para a Colaborao Ociden-
tal, que se opunha independncia de Moambique.
No se abandona a idia da eternidade de um Portugal
dalm e daqum mar e, no gratuitamente, essa idia recupe-
rada pelas palavras de um cego. ele quem recorre histria, a
mostrar o herosmo do povo, desde os primrdios; a evocar as
figuras de D. Afonso Henriques e de Dona Filipa de Vilhena com
seus filhos, para concluir que: O planeta eterno, Portugal faz
parte do Planeta, o Alm-Mar to Portugal quanto o solo ptrio
do Aqum, estamos pisando solo de Alm-Mar, estamos pisando
Portugal eterno! (Idem: 213).
Mas tal idia de um Portugal mtico, conquistador e eter-
no, termina passando por um processo de desmitificao pro-
movido no apenas pela ironia do local em que o cego faz a
conferncia como pelas vozes distintas. O salo era decorado
com vrios quadros da Invencvel armada que, a despeito do
nome, fora desastrosa para Portugal, fora vencida pelos ingle-
ses. As vozes do general e do noivo, por exemplo, o primeiro a
comemorar a vitria e o futuro do estado da Civilizao Ociden-
tal e o noivo a denunciar a falsidade da vitria numa guerra
fingida (Idem:238) entre eles para a imprensa imaginar. A voz
do jornalista voz solitria do Outro, a no ser pela gincana,
cujos apitos eram a voz que clamava por uma fera que no
dormia (Idem:199), e de Eva Lopo queria ver a volta do barco
cheio de soldados e via como um pas invasor que atravessa o
pas invadido, de onde vai ser expulso sem julgar! (Idem: 229).
Eva, ento Evita, Por mais que soubesse que tudo era transit-
rio e as terras sem dono absolutamente nenhum, no conseguia
$ !
deixar de ver, naquele barco, um pedao de ptria que descia
(Idem: 259).
E , justamente, pelas vozes distintas que dialogam entre
si n A costa dos murmrios, que a Histria, ao mesmo tempo
em que ganha um enfoque realista, no adquire um carter abso-
luto. no dilogo entre os textos histrico e ficcional que reside
a sua autntica significao. A reconstituio do relato, gnero
intercalado, pela memria, estabelece o surgimento de um con-
texto singular em que o passado se liga ao presente por transi-
es temporais. No um passado acabado, fechado; atualiza-
se criticamente durante o dilogo, polemiza-se, denuncia, repen-
sa a si prprio e anula o relato como possibilidade nica e fecha-
da de uma verdade compacta. Anula-se a verdade, fica-se com o
real. Anulam-se Os gafanhotos, fica-se com A costa dos
murmrios. O texto, ento, escuta as vozes da histria, no as
representa como uma unidade, mas como um jogo de confron-
taes, como contradies fecundadas pelo plurilingismo soci-
al, trazendo uma conscincia social pluridiscursiva. O texto
ficcional apropria-se da verdade histrica e vice-versa, o resgate
da Histria e do vivido promove um olhar desencantado e cnico
que aponta para a reavaliao da experincia de ocupao da
costa e, em ltima anlise, a experincia colonial na frica, co-
locando A costa dos murmrios na linhagem daquela novelstica
que segundo Maria Alzira Seixo
encara com extrema ateno o espao romanesco enquanto
escrita de uma terra cujo sentido se busca, entre a marca que a
histria lhe imprimiu e o curso humano que a transforma, entre
a extenso determinada e caracterstica que a forma e o tempo
que lhe ritma a sucesso e a vida. (1986: 72)
No se pense, entretanto, que o processo de ocupao e
luta pela independncia, em Moambique, possa servir de
parmetro a Cabo Verde.
$ "
Como bem destacou Manuel Ferreira, em Literatura afri-
canas de expresso portuguesa, a relao do arquiplago com a
metrpole tinha caractersticas diferenciadas das colnias do
continente.
O engajamento luta pela libertao vai se dar, efetiva-
mente, em 60, com a criao do PAIGC, Partido Africano para a
Independncia da Guin e Cabo Verde, em cuja formao desta-
caram-se os caboverdianos da Guin que, em nome das afinida-
des culturais entre os dois povos, decidiram por uma luta co-
mum.
Em Cabo Verde, clamava mais alto a reivindicao social,
diante da misria e da seca, que a luta pela libertao nacional.
Na Guin-Bissau, entretanto, o PAIGC assumia a luta e se
alastrava pelo territrio e, em setembro de 1973, declarava, na
rea libertada de Madina do Bo, a independncia da Repblica
da Guin-Bissau, reconhecida, de imediato, por mais de oitenta
pases e saudada na Assemblia Geral da ONU.
Aps o 25 de Abril, quase a generalidade dos partidos
que, ento, em Portugal, se formavam, principalmente os que
integravam o I Governo Provisrio, apoiava o fim da guerra co-
lonial e a independncia das colnias, em consonncia com o
crescente movimento popular nas ruas. E, em maio, acontecem
as primeiras reunies formais, em Dacar, do governo portugus
com os dirigentes do PAIGC. O que se coloca na mesa : Portu-
gal deveria reconhecer a Guin como Estado independente e acei-
tar o direito autonomia e independncia de Cabo Verde.
Nesse perodo, promove-se o reencontro portugus com
a comunidade internacional, tanto pela credibilidade colocada so-
bre a Revoluo, como pela imagem de abertura transmitida pelo
Estado portugus. Conforme Pedro Pezarat Correia (Op. Cit.:
54),
A consagrao desta abertura d-se com o discurso do
$ #
presidente da Repblica, general Costa Gomes, na Assemblia
Geral da ONU, em 18 de Outubro de 1974, o que acontecia
pela primeira vez desde a admisso de Portugal na organiza-
o, em 1955. Em junho de 1975 reunia em Lisboa a Comisso
de Descolonizao da ONU. Era o reconhecimento da boa f
com que Portugal assumira seu papel na descolonizao e a
influncia que tal poderia vir a ter, como veio, na soluo das
ltimas questes pendentes no xadrez da frica Austral,
Zimbabwe, Nambia e frica do Sul.
Inicia-se, ento, o perodo de negociaes. Em 26 de agos-
to de 1974, Portugal reconhece a Repblica da Guin-Bissau,
cuja independncia seria formalizada em 10 de setembro de 1974.
O PAIGC aceitara que Cabo Verde, por exigncia portuguesa,
tivesse suas negociaes em separado e, em contrapartida, con-
seguiu que o acordo sobre a Guin exarasse o direito do povo de
Cabo Verde autodeterminao e independncia.
Assim, sem luta armada, o acordo sobre Cabo Verde foi
assinado em Lisboa, em 19 de julho, fixando o 5 de julho de
1975 para a declarao formal da independncia. bem verdade
que Cabo Verde assistiu, em algumas ilhas, a manifestaes e,
inclusive, a confrontaes entre grupos a favor ou contra o
PAIGC, que, depois, terminaria com a ciso PAIG e PAICV, mas
o inimigo transpunha barreiras histricas; era o que fazia, e que
Orlanda Amarlis to bem retrata em seus contos, a terra ma-
drasta: a seca e a misria. E sobre a independncia, bem, inde-
pendentes, o povo parecia estar contente.(...) (Amarlis, 1989:
62).
$ $
C|SlDERACES Fl|AlS:
REPRESE|TAC E TRA|SGRESS
Remontando ao incio desta investigao, aponta-
mos como eixo de anlise a permeao existente entre o texto
histrico e o texto ficcional, dentro da linha de pensamento
bakhtiniano, buscando detectar os olhares de Ldia Jorge e de
Orlanda Amarlis voltados para a sua terra. Partimos de uma
Histria temporalmente comum em realidades ligadas, mas dis-
tintas, e em culturas de natureza tambm diversa: a racional e a
mtica, apreendidas em pleno processo de ruptura a Revoluo
e a Descolonizao a exigir o desvendamento da identidade,
cuja busca e construo se fazem, em ambas as autoras, por
caminhos dessemelhantes.
Se o perodo anterior Revoluo de Abril caracteriza-se
pela anestesia do povo, pelas injustias sociais, pelo atraso eco-
nmico e cultural, pelo anacronismo autocrtico e isolacionista
de ltimo imprio colonial do mundo ocidental e da mais antiga
das trs ditaduras da Europa no comunista, o perodo que o
sucede o da euforia revolucionria. Nela Portugal tenta viver
as dcadas de histria europia de que se vira privado pelo regi-
me ditatorial. quela euforia inicial somam-se as dificuldades do
perodo crtico na construo da democracia, com o abandono
do sonho imperial e a descolonizao, e a busca da integrao na
Comunidade Europia que termina por desmascarar as fragilida-
des de uma nao que no se enquadra nem no primeiro nem no
R
$ %
terceiro mundo. A nao de segunda, a que refere Benjamin Abdala
Jnior.
urgncia em pr fim guerra colonial, que foi a mola
propulsora do movimento militar, acrescem-se as dcadas de
desinformao poltica, ideolgica e cultural da esmagadora mai-
oria da populao. Finda-se a fantasia anacrnica para a criao
de outra, no menos fantasia, no menos anacrnica. Ao mito da
defesa do imprio cristo e ocidental ope-se o mito do
antiimperialismo e da libertao nacional instaurado pelo 25 de
Abril. Tanto mais por ter sido uma operao planejada e executa-
da apenas pelos militares, sem qualquer articulao das foras
civis. O discurso do totalitarismo ideolgico e suas imagens
idealizantes cede lugar a uma histria que se mescla ao imagin-
rio nacional.
Segundo Eduardo Loureno,
Nos primeiros anos do sculo XVI os portugueses eram
europeus que iam India buscar mercadorias que os enrique-
ciam menos do que aos grandes centros da Europa mercadora
a quem, em ltima anlise, se destinavam. Mas ao longo do
sculo XVI e de certa maneira at hoje, os portugueses conver-
teram-se em ocidentais perdidos e achados no oriente que os
seduz e lhes fornece mais matria de fico vivida que a madre
Europa. (...) Nem todos os portugueses consciencializavam (...)
essa objectiva des-europeizao do nosso imaginrio.(1994:
145)
Assim, a Europa no Portugal, como Portugal no
Europa.
O imaginrio que a nossa crucial aventura extra-europia,
sobretudo a do sculo XVI, nos fabricou, a Segunda dimenso
que criou, tanto mais decisiva quanto a sua estrutura releva
mais do puro onirismo compensatrio que de uma relao
$ &
objectiva entre realidade e desejo, tem o seu ponto de fuga nesse
sonho imperial, de que o mito do Quinto Imprio a traduo
mais acabada e no em qualquer forma de utopia de que a
Europa seja o alvo. (Idem: 146)
Paradoxalmente, A Europa, uma certa realidade entre-
vista como Europa, o barco que ningum, minimamente realis-
ta ou cnico deseja perder (Idem. Ibidem.). A entrada na Euro-
pa, na Comunidade Europia, desenhava-se, de um lado como
factum, de outro, como deixar de estar s, de ser relegado ao
ostracismo, para contar com a ajuda para resolver problemas
internos. Acenava para um panorama poltico, ainda segundo o
pensamento de Eduardo Loureno, parado num ps-25 de Abril
que no acaba de acabar (Idem: 181), (...) a poltica portugue-
sa no seu conjunto, entalada entre a necessidade de assumir um
europesmo exemplar para no perder os fundos comunitrios
e a veleidade imperial do discurso oficial ou oficioso, como se
continussemos nos tempos mticos de Albuquerque ou D. Joo
V ( Idem: 179).
E se a dcada de 70 uma dcada de grandes mutaes
no campo ideolgico, em que a falncia da utopia se afirma; no
campo cientfico e tecnolgico, com o alarme de iminente peri-
go nuclear, civil ou militar; no campo da eletrnica e da
informtica, que transformam os Estados Unidos em uma nao
hegemonicamente cultural; tambm a dcada marcada pela rei-
vindicao, mesmo sob aspectos quimricos, de mltiplas iden-
tidades culturais (Idem: 32). De acordo com Eduardo Louren-
o (Op.cit.: 32), a dcada de 70, como nenhuma outra, mos-
trou a que ponto a cultura no apenas o verniz e o luxo neu-
tros de uma sociedade, mas o seu carto de identidade
Nesse contexto, a partir de 74, Portugal rompe com o
discurso do totalitarismo, termina a iluso da grandeza do Esta-
do Novo, voltando-se para a reabilitao dos valores nacionais e
da cultura portuguesa. O discurso que, ento, se evidencia, o
$ '
discurso antipico, marcado pela busca da identidade.
Se o nacionalismo est na raiz de tudo na cultura portu-
guesa, como j o demonstrou Cleonice Berardinelli, agora o dis-
curso laudatrio e messinico recompe-se como discurso cr-
tico, marcado pelo dilogo entre o texto histrico e o texto
ficcional, quando o segundo revisa o primeiro. resultado da
repensagem da histria portuguesa em reviso de sua existn-
cia, a que alude Maria de Lourdes Netto Simes (1992: 660).
E, a, a proposta maior de Ldia Jorge em O dia dos pro-
dgios, Notcia da Cidade Silvestre, O cais das merendas e A
costa dos murmrios.
Ldia Jorge promove a mitologizao da Histria quando,
revolvendo as vises mticas, as imagens espontneas, portado-
ras de um carter reflexo, cria sua prpria mitologia a partir de
materiais histricos, provocando a exagerao da experincia
cotidiana alicerada na imaginao mtica.
Longe do carter apologtico, o mito tomado como fa-
tor de desmascaramento, mas tambm fator de desvendamento
de princpios imutveis localizados entre o cotidiano emprico e
as mutaes histricas, criando, no texto ficcional, espao de
reflexo e denncia.
O texto de Ldia Jorge ultrapassa os limites ficcionais para
a colocao de teses histricas dialeticamente pensadas.
O dia dos prodgios pode ser traduzido como metfora ou
alegoria dos acontecimentos anteriores e posteriores Revolu-
o de Abril. Como o povo mtico de Vilamaninhos, parcela sig-
nificativa do povo portugus no chegou a reconhecer o mo-
mento histrico que vivia, no entendeu a mensagem trazida pe-
los soldados da Revoluo, do mesmo modo como aqueles no
entenderam o milagre que eles prprios representavam, a exem-
plo da cobra voadora.
Ldia Jorge, ao atuar na cultura racional, toma para si a
incumbncia de recriar, ficcionalmente, determinados mitos e
destru-los para recuperar para os portugueses certas experin-
%
cias evidenciadoras do prprio conceito de nacionalidade. Ela os
reinventa, pela ausncia de parmetros e referenciais outros, pro-
pondo, por meio de uma simbologia mtica, a leitura crtica de
uma parte da Histria portuguesa, em que rompe de vez definiti-
va com o grande mito de uma soluo salvadora exterior, ca-
da do cu, no buscada.
O cais das merendas traz em seu substrato a idia anterior
de condio de marginalidade de Portugal em relao Europa e
prpria Amrica.
A, permanecendo fiel ao seu projeto literrio de busca da
identidade cultural portuguesa, Ldia Jorge nos coloca diante de
uma histria centrada entre o real e o irreal na experincia de um
povo sem memria e sem identidade prprias. Seu heri um
Sebastio Guerreiro, que encontra no contato fcil com o es-
trangeiro a forma de sobreviver, numa aluso irnica e melanc-
lica ao outro Sebastio, o do mito do sebastianismo, o salvador
que trar a Portugal o Quinto Imprio e a nova idade de ouro da
humanidade.
a crtica ao processo de aculturao sofrido por um
Portugal peninsular e perifrico, marginal, na condio de nao
abandonada por uma Europa madrasta. Esse , tambm, um tra-
o de contemporaneidade na literatura portuguesa.
Como diz Eduardo Loureno :
quixotescamente que devemos viver a Europa e desejar
que a Europa viva ...ns, primeiros exilados da Europa e seus
medianeiros da universalidade com a sua marca indelvel, bem
podemos trazer a nossa Europa Europa. E dessa maneira,
reconciliarmo-nos, enfim, conosco prprios.(1988:37)
de O dia dos prodgios a citao que se segue:
Ningum. Ningum se liberta de nada se no quiser liber-
tar-se. E ainda disse. Mas aqui. Aqui ficam todos pelo desejo
das coisas. (Jorge, 1990:203).
%
Em O dia dos prodgios, retomando-se a teoria da trans-
figurao inicialmente colocada, tudo funciona como duplicidade
paralela, h a Histria e a histria.
As personagens so os portugueses, atores de uma Hist-
ria que no foi contada a Revoluo dos Cravos e suas conse-
qncias seno atravs de uma histria/parbola O dia dos
prodgios o breve tempo de uma demonstrao, em que de-
sempenham um papel, portanto representao de si mesmos,
estabelecendo a relao entre a arte e o real.
Mas no apenas em O dia dos prodgios, em toda a obra
de Ldia Jorge perpassa a idia de representao teatral ligada
oralidade da escrita e multiplicidade de vozes colocadas pela
polifonia entrecortada pelo carnaval. O cais das merendas no
seno a crnica histrica de um povo que atinge o limiar do
esquecimento de si prprio, um povo aldeo que procura e ao
mesmo tempo perde a sua identidade ao ser transplantado, car-
navalescamente, para um meio cosmopolita, onde h o
desenraizamento cultural, colocando Ldia Jorge, definitivamen-
te, entre os escritores que lutam por agarrar uma identidade
cultural que escapa ou esmagada pelos vizinhos e convenientes
parceiros da economia europia (Medina, 1982: 4).
Ldia Jorge desmitifica e dessacraliza o espao e subverte
os elementos tradicionais, colocando mostra a fragilidade do
processo identitrio quando circunscrito a uma nova dependn-
cia cultural, dicotomizando auto-afirmao e autonomia, voltan-
do-se, essencialmente para o consumo ilimitado.
A tpica do equvoco da prpria concepo revolucion-
ria, j aludida em O dia dos prodgios, desloca-se para o ambien-
te urbano em Notcia da cidade silvestre, apreendendo, na tran-
sio do longo ciclo histrico do fascismo Revoluo, o con-
fronto entre o homem novo que de fato produz e o harmonioso
que deveria produzir. O que se evidencia, paralelamente ao es-
%
foro de construo da democracia, a degradao em todos os
nveis: poltico, social, interpessoal, todo um questionamento
existencial voltado para a redefinio do prprio espao, um es-
pao marcado pelo fim das utopias e dos mitos, no final da dca-
da de 70, pela crise geral de valores que traz consigo a crise da
identidade.
A dcada de 80, por sua vez, num panorama geral, reve-
la-se como a dcada da grande ruptura de uma herana histrica
sacralizada, de uma ideologia que se convertera em religio se-
cular, com Mikhail Gorbachev dando o empurro inicial queda
do sistema. A Histria se modifica pela derrocada ideolgica do
mundo comunista. A Geografia restaura-se por um novo mapa
geopoltico. A derrubada do muro de Berlim torna-se o aconteci-
mento mtico da dcada.
A reunificao da Alemanha, as primeiras eleies livres
nos pases do leste, o PCI mudando de nome, nada disso deixa
transparecer grandes mudanas em um Portugal que luta com
seus problemas internos. A modernizao social choca-se com
crescentes dificuldades financeiras e com a desorganizao de
uma sociedade civil agredida e expropriada e dotada de liberdade
civil antes da econmica, permanecendo a desigualdade, o arca-
smo, a desorganizao social, a reabsoro dos retornados e
desalojados da frica, a baixa escolarizao, o atraso industrial.
E o tempo crtico se coloca entre 1976 e 1985.
evidente, tambm, que a entrada de Portugal na Comu-
nidade Europia (1985) causou um choque profundo na econo-
mia e na sociedade portuguesas. E a injustia marginalidade,
excluso, pobreza ou desigualdade e a carncia social, sempre
grandes, se agravam sintetizando um processo marcado pelo
consumismo e desigualdade. Por outro lado, Portugal no tem
estrutura pobre de recursos para enfrentar a globalizao do
mercado.
Culturalmente, a dcada de 80 traz consigo uma gerao
que se revela oposio gerao de 60. Distancia-se dos temas e
% !
paixes do 25 de Abril, desconfia do social, das ideologias que o
cercam e do coletivo, colocando em seu lugar a confiana nas
instituies, no mercado e no indivduo. a emergncia do indi-
vidualismo e do narcisismo contemporneos, do hedonismo e da
permissividade, a comunidade como vivncia coletiva perde seu
lugar, mas no se perde um certo consenso de portugalidade e
de identidade nacional.
Fica, ento, demonstrado que a Revoluo Cultural que
se desenhara com a Revoluo no se concretizara. No h, nes-
sa dcada, movimentos culturais substantivos, tudo o que se
encontra so personalidades dispersas.
Se a vaga de emigrantes dos anos 60 tornou a Europa
Uma espcie de Estados Unidos ao p da porta, como afirma
Eduardo Loureno (1994: 141), desmitificando a Europa imagi-
nria, mais tarde o grande turismo de massa e a globalizao
trazem no s a Europa, mas o mundo, e Portugal se depara
com o multiculturalismo. O imperialismo americano de um
outro tipo, embora se reciclem nele mitos, imagens, discursos.
o imperialismo cultural, uma cultura que impe, vendendo a
mitologia democrtica e o utopismo igualitarista e fraternal.
(...) A Amrica no s se tornou objecto de sonho para os
de fora, mas para si mesma e por fim, com um sucesso mas
com uma violncia crescente, exportou o sonho americano
como paradigma de todas as sociedades democrticas e tecni-
camente avanadas. Foi enquanto sonho americano que o
homem ps o p na Lua. Mas muito mais decisivo do que isso
foi no a imposio mas a irresistvel seduo do imaginrio
planetrio pelos cones que a mais compsita e dinmica civili-
zao ocidental alguma vez ofereceu ao mundo, sob o rosto de
Gary Cooper, de Spence Tracy, de John Wayne (...) Mesmo as
divas europias, as Garbo, as Bergman, as Marlne se torna-
ram no que foram sob o sun-light da Califrnia. (Op. Cit.:
224).
% "
E, aqui, encontramo-nos com O jardim sem limites, cuja
personagem central o portugus da Gerao do Vazio, os
jovens sem rosto prprio e sem identidade, frutos da globalizao
e do multiculturalismo que, a exemplo dos habitantes de O cais
das merendas, mas por razes outras, rompem com o passado,
mas no tm espao para agir porque a vida estava pronta. a
primeira gerao posterior ao 25 de Abril, uma gerao que se
depara com um no saber-se. Quando o mundo passa a ser de-
terminado pela idia pragmtica de economia, quando, de fato,
j no existem sistemas isolados, mas receptores de aconteci-
mentos e ideologias provenientes de vrios centros de irradia-
o, compreender qual o sentido do homem nesse especfico
tempo histrico num pas que no se configura como uma soci-
edade de consumo forte nem como tecnologicamente avanada,
eis o que a se prope. Temos diante de ns o homem portugus
do nosso tempo, com seus problemas, seu caos, sua devorao
e asfixia causadas pelas contradies mltiplas.
No escapa Ldia Jorge, como aos escritores da sua
gerao, ps-74, a experincia colonial na frica. Retomando o
episdio da Cidade da Beira, em Moambique, em A costa dos
murmrios, o texto escuta as vozes da Histria como contradi-
es fecundadas pelo plurilingismo social. O texto ficcional
apropria-se da verdade histrica e vice-versa, e esse resgate da
Histria e do vivido promove um olhar desencantado e cnico a
reavaliar a experincia da ocupao da costa. como Ldia Jor-
ge questiona a Histria e a conscincia do pas na representao
do refinamento do sistema colonial, a idia do Imprio Branco e
o silncio do colonizado, desmitificando a imagem de um Portu-
gal mtico, conquistador e eterno.
A Histria caboverdiana, por sua vez, nos remete, em sua
origem, ao caldeamento lingstico, cultural e racial e, se a atu-
ao colonial no a mesma, em Cabo Verde, das outras colni-
as, devem-se buscar os fatores diferenciais na contextualizao
histrica do abandono administrativo a que as ilhas foram sub-
metidas e na insero fsica e humana global, num cenrio
fsico e humano onde, pela adversidade das condies scio-
% #
econmica-alimentar, ningum poderia sobreviver independen-
te de outrem, afirma Alberto Carvalho ( 1991: 14).
E grandes que tenham sido, como foram, os obstculos
impostos pela censura do Estado Novo, a partir da dcada
de 30, a nova restrio da liberdade no uso pleno da expresso
poltica no modifica a ordem da realidade anterior que, essa,
j tem uma histria de sculos de existncia. (Idem: 15)
Quer dizer, mais premente a vida possvel na Terra-me,
ou Terra-madrasta, da misria, do insulamento, da seca, da impo-
sio do dilema, e essa exigiu a mestiagem em seu sentido mais
amplo: ao lado do crioulo biolgico, os brancos e os negros iam-
se tornando crioulos culturais. Da a afirmao de Gabriel Mariano
(1991) de que o mestio teve em Cabo Verde o papel que nas
fricas pertenceu ao portugus e, no Brasil, ao reinol. Com a
mestiagem, as simbioses, os sincretismos e as snteses vrias,
anula-se, praticamente, pelo exerccio da sobrevivncia, a subor-
dinao colonial. o que Manuel Ferreira aponta como um novo
tipo de relao a substitutir colonizador/colonizado, uma vez que a
prpria administrao passa para mos de uma burguesia
caboverdiana. o que Gabriel Mariano (1991: 68) assim refere:
Em Cabo Verde, depois de uma fase em que os povos em
contacto teriam confusamente procurado um motivo de enten-
dimento seguir-se-ia uma outra de harmonizao ntima de
culturas, propcia ao aparecimento de uma nova sociedade.
Para esta sociedade crioula passaram as terras, o comrcio e
a agricultura; ela apossou-se tambm do funcionalismo
pblico.De modo que exacta a afirmao que se refere
transferncia de poderes a que podemos atribuir igualmente
um sentido sociolgico cultural, pelo que ela traduz ou sugere
da vitalidade dos valores regionais caboverdianos no seu con-
tato permanente com a cultura portuguesa. J uma vez afirmei
que desse corpo- a-corpo entre a cultura caboverdiana e a
% $
cultura portuguesa resulta muitas vezes uma absoro de esti-
los portugueses, quando no se d a substitutio do portugus
por aquilo que j nitidamente e dinamicamente crioulo. (1991:
67)
Por outro lado, a falta de recursos, a pobreza do solo, a
pequenez das ilhas e a irregularidade das chuvas, tudo fez com
que os portugueses no tivessem interesse de investimento. A,
por exemplo, no se tentou introduzir, como em outros territri-
os, a grande plantao que traria consigo o diretor, o capataz, a
monocultura e a descaracterizao regional, ainda que Portugal
estivesse sob o fascismo salazarista e Cabo Verde sofresse o
fascismo numa situao colonial.
Assim, Gabriel Mariano refere dois movimentos opostos,
o ascendente, aristocratizante, de negros e mulatos em contato
com a cultura de lngua portuguesa, e o descendente,
democratizante, das elites da terra que difundiram as coletivi-
dades e as instituies culturais desse contato. Estamos, ento,
diante de uma Histria de unidade na diversidade e de harmonizao
de antagonismos.
Afirma Alberto Carvalho (1991: 17) que
Contra a idia (ideologia), talvez mais cativante, da com-
pleta submisso da sociedade crioula ao poder colonialista,
parece-nos bastante produtivo colocar o processo scio-cultu-
ral da nao caboverdiana na dependncia da dinmica da
burguesia protagonizada pelos filhos da terra, detentores de
recursos econmicos que em outras colnias pertenceram ao
reinol. A este conjunto de elite negro-crioulo, mestio e branco-
crioulo se dever ligar a idia de conscincia da nao, ela
prpria em face do outro, em nome de uma realidade-povo
que apenas na segunda metade do sc. XIX comea a ter con-
tornos definidos e a assumir o princpio ativo da homogeneidade.
% %
Resta-nos perguntar que elementos compem a identida-
de dessa nao de que, ento, se tem conscincia, entendendo-
se por identidade o estar sendo?
Fundamentalmente um territrio, uma cultura, um tem-
peramento, so os elementos que Orlanda Amarlis trabalha em
seus contos, num espao que transita entre So Vicente e Lis-
boa. L, o cho. Aqui, o exlio. L, uma geografia que se divide
entre a Terra madrasta, com seu ilhamento, sua seca e sua mis-
ria, e a Terra longe, cheia de promessa, diante de um mar cami-
nho e obstculo. Um espao determinante da temporalidade por-
que a Terra longe sempre futuro, e o futuro, melhor do que o
presente. E o evasionismo pertence condio de ser do
caboverdiano, a condio de um povo mestio vindo da es-
cravatura, mal nutrido e mal tutelado (Mariano, 1991: 101).
Mas, no olhar voltado para a terra natal, o passado, a despeito da
terra, reforando a mitologia domstica, o agente revelador
da felicidade de casa e a possibilidade de ser. Quando se emi-
gra toda a ptria emigra conosco, comenta Eduardo Loureno
(1994: 142), transportam-se como Enias, os deuses lares para
as novas terras.
A lngua crioula aponta para a Terra-me, enquanto a ln-
gua portuguesa est a servio do desejo de libertao da tutela
experiencial daquela. Comenta Alberto Carvalho (op.cit.: 21,22)
que a escrita literria crioula a criatura-criativa da plena iden-
tidade (ntica) do caboverdiano, em aco na sua vida (dentica)
cultural, social e econmica. Assim, se uma das expresses da
cultura nacional caboverdiana o crioulo, a partir de uma certa
fase da sua formao intelectual e das suas experincias sociais,
o caboverdiano se torna bilnge, no apenas falando, mas es-
crevendo tambm. E o texto de Orlanda pode bem ser paradigma
dessa afirmao.
Ainda como fator de cultura, a expresso musical
representada pela morna, a que todo o caboverdiano adere
incondicionalmente. Segundo Gabriel Mariano, no conto e na
morna, e sobretudo na morna que mais completamente se realiza
% &
a vida integral do caboverdiano. A morna comemora a sua vida
de existncia emocional, castigada pelo dfice econmico que o
leva a emigrar partindo para as terras longe, sem partir ou
partindo para poder regressar (1991: 21).
H, ainda, que se falar do temperamento morabe, prin-
cipal motor da conduta e do pensar crioulos (Idem: 88), que no
seno o culto da vizinhana forma de intimidade de relao
entre os humanos e as coisas, extensvel mesmo aos estratos s-
cio-econmicos mais altos da sociedade onde so mais ntidos os
ecos da influncia europia (Carvalho, 1991: 21).
Se tempos e povos possuem a sua mitologia e se ela refle-
te o pensamento espontneo de cada variedade de homens, o
mito se traduz por uma espcie de alma ntima, de expresso
sinttica onde se encontram fundidas e unificadas todas as suas
faces. Da admirao e do medo gerados pelo instinto do conhe-
cimento que nascem os mitos, como vises da imaginao e
impresses dos sentidos.
Em Orlanda Amarlis, sua representao gera a afirmao
de uma identidade cultural que transgride a imposio de uma
identidade racional, a europia. Predomina a inveno dos esp-
ritos ou almas, seres fantsticos da sombra, como representa-
o do mundo csmico e seus fenmenos e do mundo fsico
com seus sonhos e alucinaes. Nas suas relaes com os esp-
ritos, h decorrncia de rito atravs do qual se luta e se quer
afastar os demnios e os espritos ruins, os quebrantos e os
maus olhados. E, ligado a essa inveno dos espritos, predomi-
na o apego terra, com todas as dificuldades que possa ofere-
cer, a misria, a seca, a fome, a insularidade, porque a terra,
mesmo a trazida, o elemento fundamental de sua identidade.
Ao atuar na cultura mtica, em que os mitos subsistem
em massas de populao num estado primitivo, revestindo per-
sonagens e fatos de traos lendrios, Orlanda Amarlis desvenda
o estatuto de caboverdianidade e africanidade, oferecendo, aos
caboverdianos, o orgulho tnico e nacional, buscando romper
com a inferiorizao e marginalidade em relao a Portugal. Por-
% '
tugal a explorao e deixar-se aculturar perder o orgulho de
si, rompendo laos, tornando-se um cigano errante, condena-
do solido.
Tambm no texto amariliano a idia de representao se
faz presente. Em Lusa, filha de Nica, de Ilhu dos pssaros,
por exemplo, no raro um narrador vem ao primeiro plano, diri-
gindo-se ao leitor, transformado em espectador, para enfatizar,
como no teatro antigo, por meio da explicao, a necessidade,
num gesto correspondente mscara nativa, encarregada de sig-
nificar o tom trgico do espetculo. O espetculo a vida. o
que se evidencia em Rolando de nha Concha, de Cais-do-Sodr
t Salamansa. A representao a vida, dentro do plano do real
objetivo. O real pertence morte, dimenso do imaginrio de
que A casa dos mastros e os sete contos que a compem podem
ser paradigmas ao articularem-se entre si pelos ciclos de vidas e
mortes. E, na representao da vida, o papel caboverdiano , em
Lisboa, a procura de um papel social, um papel sempre insufici-
ente, porque a verdadeira significao e a verdadeira identidade
esto presas s ilhas. Assim, o Cais-do-Sodr porto de chega-
da e de partida, mas Salamansa a reconquista de ser, o lugar
das origens. A temtica de Ilhu dos Pssaros , fundamental-
mente, calcada no exlio, funcionando como uma espcie de le-
genda caboverdiana. Partir para querer voltar, temas de mornas
e de romances, convivncia com a sdade, a fora de
crecheu, a hora di bai, hora de dor. por meio do que, nos
contos de Orlanda Amarlis, os seres ficcionais se fazem a si
mesmos agentes de caboverdianidade, no sentido de manter as
razes profundas que os ligam ao seu meio.
Em Orlanda Amarlis e em Ldia Jorge, h o adentramento
na potica do quotidiano caboverdiano e portugus, respectiva-
mente. As histrias individuais so pretextos para reflexes ou-
tras que nos sero oferecidas por situaes inslitas e dialticas.
A realidade com que se configura a vida evocada para que, a,
se coloque mostra o exerccio da paixo, da solido, da luta
&
entre valores. Isso tudo o que o homem, indivduo
problematizado e centro da estrutura social, e a existncia com
suas razes fixadas na terra, num realismo mgico e regional,
voltado para a composio de uma outra imagem de nao por-
tuguesa e do reforo de uma imagem caboverdiana.
a partir da verdade histrica que Ldia Jorge busca, na
fico, sintetizar pela reconstituio, criao e destruio dos
mitos, a identidade com suas peculiaridades. Em outras pala-
vras, busca revelar o portugus a si mesmo, oferecendo-lhe ele-
mentos para repensar a significao da identidade nacional por
meio de um olhar crtico e no raras vezes irnico.
Em Orlanda, a verdade histrica busca reconstituir a iden-
tidade, meio de um olhar distante, marcado pelo sentimento de
saudade.
Em ambas, projetos culturais nacionalistas revelados pela
viso mtica da vida, como produto e criao de uma vontade,
humana ou sobre-humana, natural ou sobrenatural, e da Hist-
ria, uma Histria em que no h lugar para o mascaramento das
foras sociais.
Assim, retomando as questes/hipteses enunciadas na
introduo deste trabalho, j podemos chegar a algumas afirma-
es.
A relao do discurso literrio com o discurso histrico e
social em culturas de natureza diversa essencialmente a mes-
ma, quando no voltada para o discurso de poder e dominao.
Isso se explica pelo fato de que a retrica do poder autoprojeta-
se pela idealizao, embasada na idia do bem, ou seja, de levar
a civilizao aos primitivos, punindo-os, com violncia, pela di-
ferena, tal como afirma Edward Said, (1995: 12): eles no
eram como ns e por isso deviam ser dominados. Por outro
lado, a par do projeto colonial, as culturas por no serem
monolticas e autnomas terminam tomando para si elementos
da alteridade. O que ento se entende por essencialmente a
mesma? O debruar-se na autoreflexividade identitria, marca
da literatura portuguesa ps-74, na obra de Ldia Jorge e da lite-
&
ratura caboverdiana de Orlanda Amarlis, guardadas as peculia-
ridades de interpretaes, de perspectivas, de sentido histrico,
de idiossincrasias e tradies. Isso s se conjuga, literariamente,
na permeao entre o texto ficcional e o texto histrico, quando
o discurso literrio refaz, criticamente, o discurso histrico, tra-
zendo as marcas mais profundas do espao social.
Embora o imperialismo portugus, na frica, trouxesse
compactada a idia de superposio de cultura, de anulao de
uma sobre a outra, sendo a cultura fonte de identidade, ela pr-
pria termina por tornar-se foco de resistncia, produtor da cons-
cincia nacional e de uma base ideolgica voltada para a
redescoberta, repatriao e revalorizao do que lhe foi invadi-
do, modificado, tirado ou abafado. No dizer de Pires Laranjeira,
o colonialismo serve-lhe de propulsor da conscincia, a qual se
rebela contra ele (1985: 11).
Por outro lado, o totalitarismo, ao criar uma imagem ide-
alizada benevolente e salvadora, de si, substitui a conscincia
nacional pelo sentimento nacionalista, mascarando a cultura ao
atribuir-lhe valores e significados outros, mesmo porque as cul-
turas nacionalistas dependem, fortemente, de um conceito de
identidade nacional, de tal forma que a poltica nacionalista ,
prioritariamente, uma poltica de identidade, ainda que sob pode-
rosa idealizao. H, portanto, que derrubar-lhes os mitos, re-
verter imagens, reordenar o funcionamento social, enfrentando
a crise de paradigmas. Da a preocupao de Ldia Jorge de re-
duzir a complexidade social sua essencialidade no sentido de
permitir a autodescoberta e, em ltima anlise, a reconstruo
da identidade.
E, a, o mito, por princpio simblico-metafrico, cuja des-
coberta do sentido possui carter de transformaes infinitas,
tem um papel fundamental, mesmo diante da tradio mutvel,
que o obriga a reatualizar-se, at porque e, aqui, comungamos
com Lvi-Strauss, Ns explicamos a ordem do mundo pela
cincia. Mas para explicar a ns mesmos nossa histria, para
&
fabric-la, procedemos como os grandes mitos. O fato histrico
participa da natureza do mito... (1970: 142), e tanto o mito quanto
a narrativa possuem uma funo reguladora nas sociedades.
No decorrer do trabalho, a importncia do Outro no pro-
cesso de identidade ou como representao da identidade do
Mesmo se fez presente e acreditamos ter deixado claro o con-
ceito de alteridade; da pretendermos avanar no raciocnio, tra-
zendo a idia de Edward Said (1995: 267) de que Esta a trag-
dia parcial da resistncia: ela precisa trabalhar a um certo grau
para recuperar formas j estabelecidas ou pelo menos influenci-
adas ou permeadas pela cultura do imprio. Ou seja, para recu-
perar formas j estabelecidas ou pelo menos influenciadas ou
permeadas pela cultura do Outro. Ainda segundo E. Said (Idem,
ibidem), ... os africanos da descolonizao julgaram necessrio
reimaginar uma frica despojada do seu passado imperial, para
concluir pela imutabilidade do passado e da presena do Outro
no prprio processo identitrio do Mesmo, como fora constru-
tora, com todas as premissas negativas que o imperialismo traga
consigo.
Os escritores ps-imperiais do Terceiro Mundo, portanto,
trazem dentro de si o passado como cicatrizes de feridas
humilhantes como uma instigao de prticas diferentes, como
vises potencialmente revistas do passado que tendem para um
futuro ps-colonial, com experincias urgentemente
reinterpretveis e revivveis, em que o nativo outrora silencio-
so fala e age em territrio tomado pelo colonizador, como parte
de um movimento geral de resistncia. (Idem: 269)
Nesse sentido, o esforo cultural pela descolonizao traz
consigo um esforo pela restaurao da comunidade e pela reto-
mada da cultura, enfim, entendendo-se a cultura como mananci-
al da identidade, o que continua, por muito tempo, aps o esta-
belecimento do Estado independente. E, aqui, quando se fala em
& !
projeto voltado para o nacionalismo, fala-se em restaurao da
comunidade, em afirmao da identidade, em resgate de prticas
autnticas e surgimento de novas prticas culturais.
Isso s se consegue pela transgresso dos cdigos, seja
diante da resistncia aculturao como um todo, seja numa vi-
so humana mais integrativa desencadeada pelo processo
globalizado em que h interdependncia entre terrenos culturais
que coexistem, uma vez que esto surgindo novos alinhamentos
independentemente de fronteiras, tipos, naes e essncias (Idem:
27). Quer dizer, o que efetivamente se transgride no
multiculturalismo uma viso esttica de identidade, na medida
mesmo em que, a par dos novos alinhamentos, no h como iso-
lar o passado do presente, uma vez que ambos coexistem e se
ajustam mutuamente, e na medida em que aquele uma marca
indelvel neste.
Assim, em Ldia Jorge e em Orlanda Amarlis, a compre-
enso do presente o mesmo que afirma a existncia do passa-
do rigorosamente como presente ou, como quer Mendilow (1972:
248), numa srie de presentes resvalando uns para dentro dos
outros s se faz como parte de um processo cujas razes
esto na experincia humana vivida coletiva e nacionalmente,
verdadeira matriz potencial de futuro. Isso porque, no presente,
neste presente que somatrio histrico de vivncias, e no estar
distante da terra natal, o coletivo devorado pela solido das
foras sociais, as que tomam os presentes anteriores como exis-
tncias parte, rompendo com suas significaes mais profun-
das.
um modo de a literatura ler e dialogar com a Histria
caboverdiana e portuguesa atribuindo-lhe significados outros
em que as trajetrias coletivas, o nacionalismo, as matrizes, en-
fim, de cultura e vida espiritual so foras vitais na construo
de um outro tempo.
Em Orlanda Amarlis, a valorizao; em Ldia Jorge, a
redescoberta da ptria.
& "
Bibliogruliu
1- Bibliografia de Orlanda Amarlis
AMARLIS, Orlanda. Cais-do-Sodr t Salamansa. Lisboa: Bertrand,
1974.
____. Ilhu dos pssaros. Lisboa: Bertrand, 1982.
____. A casa dos mastros. Lisboa: Bertrand, 1989.
2- Bibliografia de Ldia Jorge
JORGE, Ldia. O dia dos prodgios. 6. ed. Lisboa: Europa-Amrica,
1990.
____. O cais das merendas. 4. ed. Lisboa: Europa-Amrica, 1989.
____. Notcia da cidade silvestre. 6. ed. Lisboa: Europa-Amrica
1984.
____. A costa dos murmrios. Lisboa: Europa-Amrica, 1988.
____. A ltima dona. Lisboa: Europa-Amrica, 1992.
____. A instrumentalina. Lisboa: Europa-Amrica, 1992.
____. O jardim sem limites. Lisboa: Europa-Amrica, 1995.
3- Bibliografia sobre Orlanda Amarlis
ABDALA JNIOR, Benjamin. Globalizao, cultura e identidade em
Orlanda Amarlis. Trabalho apresentado no Colquio Internaci-
onal Literatura & Histria: trs vozes de expresso portuguesa.
Porto Alegre, UFRGS, abr. 1997.
CARDOSO, Ribeiro. Literatura Caboverdiana. Orlanda Amarlis: novo
livro talvez este vero. Dirio de Lisboa, Lisboa, 5 mai.,1988.
FERREIRA, Manuel. Literaturas africanas de expresso portugue-
sa I. Amadora, Instituto de Cultura Portuguesa, 1977.
LEPECKI, Maria Lcia. Charneira das letras Cabo Verde - Portugal.
Dirio de Notcias, Lisboa, 05 nov. 1989.
& #
PIRES LARANJEIRA, J. L. Mulheres, ilhas desafortunadas. Prefcio
a AMARLIS, Orlanda. A casa dos mastros. Lisboa:ALAC, 1989.
____. A escrita de Orlanda Amarlis. Trabalho apresentado no Col-
quio Internacional Literatura & Histria: Trs vozes de expres-
so portuguesa. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Porto Alegre, abr., 1997.
SANTOS, Maria Elsa Rodrigues dos. Um olhar sobre a literatura
cabo-verdiana. Jornal de Letras, Lisboa, 28 fev. 1982.
Sete contos cabo-verdianos de vidas e mortes quotidianas. O Di-
rio, Lisboa, 12 jan. 1990.
TUTIKIAN, Jane. A montagem literria do discurso nacionalista em
Ldia Jorge e Orlanda Amarlis. Organon, Revista do Instituto de
Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 8, (22),
1994.
____. Caboverdianamente Orlanda. Trabalho apresentado no Col-
quio Internacional Literatura & Histria: trs vozes de expres-
so portuguesa. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Porto Alegre, abr. 1997.
____. Compatriotas da lngua. Zero Hora, Porto Alegre, 05 abr. 1997.
Cultura, Segundo Caderno.
____. Caboverdianidade: o passe e a senha. In: ROSA, Victor Pereira
da & CASTILLO, Susan (org.) Ps-colonialismo e Identidade.
Porto: Universidade Fernando Pessoa, 1998.
Uma ponte de palavras. Dirio de Lisboa, Lisboa, 1 jan. 1990.
4- Bibliografia sobre Ldia Jorge
BERG, Eliana. O dia dos prodgios escrita prodigiosa. Colquio
Letras, Lisboa, 64, nov. 1981.
BULGER, Laura. O Cais das Merendas de Ldia Jorge. Uma iden-
tidade cultural perdida? Colquio Letras, Lisboa, 82 nov. 1984.
CMARA, J. M. Bettencourt da. A ltima dona amor ou morte.
Jornal de Letras, Lisboa, 13 out. 1992.
CAUTELA, Afonso. Ldia Jorge lana A ltima dona, A Capital,
Lisboa, 18 nov. 1992.
____. Os mais jovens no sabem onde est o inimigo. A Capital,
Lisboa, 5 dez.1996.
CHIURE, Alexandre. Aplausos para Moambique. Dirio de Notci-
as, Maputo, 28 jun. 1993. Entrevista.
FERREIRA, Verglio. De D. Sebastio a Godot - O dia dos Prodgi-
& $
os um livro singular. Jornal Expresso, Lisboa, 08 mar. 1980.
FRANA, Elisabete. A ltima dona na cidade agreste. Dirio de
Notcias, Lisboa, 30 set. 1992.
GUEDES, Maria Estela. Antes e depois da cobra. Jornal Dirio Po-
pular, Lisboa, 21 mar. 1980.
GUERREIRO, Antnio. Tempos difceis. Expresso, Lisboa, 19 set.
1992.
HORTA, Maria Teresa. A ltima dona uma parbola. Dirio de
Notcias, Lisboa, 04 out. 1992
MARTINS, Lus Almeida. procura da verdade perdida. Jornal de
Letras, Artes e Idias, Lisboa, 294, 23 fev. 1988.
_____. Ldia Jorge, notcia do cais dos prodgios. Jornal de Letras,
Artes e Idias, Lisboa, 293, 15 fev. 1988.
_____. A fico o mais srio de tudo. Jornal de Letras, Artes e
idias, Lisboa, 29 set. 1992.
MARTINS, Maria Joo. O rosto dos outros. (Entrevista). Jornal de
Letras, Lisboa, 06 dez. 1995.
____. A inocncia avisada. Viso, Lisboa, 07 dez. 1995.
MAURA, Antonio. La costa de los murmullos. A B C Literario,
Madri, 10 jun. 1989.
MEDINA, Cremilda de Arajo. O escritor portugus hoje. : O Estado
de So Paulo. So Paulo, 16 mai. 1982.
____. Viagem literatura portuguesa contempornea. So Paulo :
Nrdica, 1983.
MONGELLI, Lnia Mrcia de Medeiros. Memrias da Idade Mdia
em Ldia Jorge. In: 2 Congresso ABRALIC- Literatura e mem-
ria cultural -anais. Belo Horizonte, 1991.v.2.
RISQUES, Isabel. Comovida com a realidade. O Jornal, Lisboa, 2
out. 1992.
SERRANO, Miguel. O cais das merendas de Ldia Jorge. Lisboa,
09 mai. 1982.
SILVA, Maria Augusta. O jardim sem limites de Ldia Jorge: Ro-
mance pressente o futuro. Dirio de Notcias. Lisboa, 03 dez.
1995.
____. Um jardim de setas (Entrevista). Dirio de Notcias. Lisboa,
14 mar. 1996.
TUTIKIAN, Jane. A montagem literria do discurso nacionalista em
Ldia Jorge e Orlanda Amarlis. Organon, Revista do Instituto de
Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.8,( 22),
& %
1994.
____. O prodgio dos tempos modernos. Trabalho apresentado no II
Simpsio Luso-Afro-Brasileiro de Literatura. Faculdade de Le-
tras de Lisboa, abr. 1994.
5- Bibliografia geral
ABDALA JNIOR, Benjamin. A escrita Neo-Realista. So Paulo:
tica, 1981. (Ensaios: 73)
____.A aventura crioula em Manuel Ferreira. In: X Encontro de Pro-
fessores Universitrios Brasileiros de Literatura Portuguesa- I
Colquio Luso-Brasileiro de Professores Universitrios de Li-
teraturas de Expresso Portuguesa Actas . Lisboa/ Coimbra/
Porto: Instituto de Cultura Brasileira / Universidade de Lisboa,
1984.
____. Crioulidade - Resistncia e identidade nacionais nas literatu-
ras africanas de lngua portuguesa. In: 1 Seminrio Latino-
Americano de Literatura Comparada. Porto Alegre: UFRGS,
1986.
____. Literatura, histria e poltica. Literaturas de Lngua Portu-
guesa no sculo XX. So Paulo: tica, 1993.
ABDALA JNIOR, Benjamin & PASCHOALIN, Maria Aparecida.
Histria social da literatura portuguesa.4.ed. So Paulo: tica,
1994.
ADORNO, Theodor. Notas de literatura. Barcelona: Argel, 1962.
AFFERGAN, Francis. Exotisme et alterit. Paris: Presses
Universitaires de France, 1987.
AGUIAR E SILVA, Vitor Manuel de. Teoria da literatura. Coimbra,
Almedina, 1965.
ALBRS, R. M. Mtamorphoses du roman. Paris: Albin Michel,
1962. (A)
____. Histoire du roman moderne. Paris: Albin Michel, 1962. (B)
____. Le roman daujourdhui. Paris: Albin Michel, 1970.
ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideolgicos do Estado.
Lisboa: Presena, 1980.
ANDERSON, Benedict. Vieux empires, nouvelles nations. In:Thories
du nationalisme. Paris: Kim, 1991.
AUCOUTURIER, Michel. Prefcio a Esthtique et thorie du roman.
M.Bakhtin. Paris: Gallimard, 1978.
BAKHTIN, Mikhail. Problemas da potica de Dostoievski. Trad.
& &
Paulo Bezerra. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1981.
____. Marxismo e filosofia da linguagem. 6.ed. So Paulo: Hucitec,
1992.
____. Questes de literatura e de esttica. (A teoria do romance)
Trad. Aurora Fornoni Bernadini e outros. 3.ed. So Paulo: Hucitec,
1993.(A)
____. A cultura popular na Idade Mdia e no Renascimento. O
contexto de Franois Rabelais. Trad. Yara Frateschi Vieira. So
Paulo: Hucitec / Braslia: Editora da Universidade de Braslia,
1993.(B)
BARTHES, Roland. Mythologies. Paris: Seuil, 1970.
____. O rumor da lngua. Lisboa: Edies 70, 1984.
BERARDINELLI, Cleonice. Nacionalismo, linha mestra da literatura
portuguesa. In: II Simpsio Luso-afro-brasileiro de literatura:
Nacionalismo, Regionalismo. Lisboa: Cosmos, 1994.
BLOCH-MICHEL, J. La nueva novela. Guadarrama: Madri, 1967.
BORNHEIM, Gerd. Motivao bsica e atitude originante de Filo-
sofar. Porto Alegre: Meridional, 1961.
BRUNEL, P.; PICHOIS, CL.; ROUSSEAU. Que literatura compa-
rada? So Paulo: Perspectiva/USP; Curitiba: UFPR, 1990.
BRUNEL, Pierre. Transparences du roman (Le romancier et ses
doubles au XXe sicle Calvino, Cendras, Cortzar, Echenoz,
Joyce, Kundera, Thomas Mann, Proust, Torga, Yourcenar). Pa-
ris: Jos Corti, 1997.
____. Mythocritique: thorie et parcours Paris: Presses
Universitaires, 1992.
BUBNOVA, Tatiana. F. Delicado puesto en dilogo: las claves
bajtinianas de Lozana andaluza. Mxico: Universidad Autnoma
de Mxico, 1987.
CAMPOS, Maria Monsueto Cunha.Figuraes do outro. Tempo bra-
sileiro, Rio de Janeiro, 114/115, 1993.
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. So Paulo: Compainha
Editora Nacional, 1985.
CANDIDO, Antonio et alii. A personagem de fico. So Paulo:
Perspectiva, 1970.
CAIZAL, Eduardo Peuela. Matria e forma no romance. Separata
da Revista de Letras, Assis: Faculdade de Filosofia Cincias e
Letras,1966.
CARPENTIER, Alejo. A literatura do maravilhoso. So Paulo: Vr-
& '
tice, 1987.
____. O reino deste mundo. Trad. Joo Olavo Saldanha. Rio de Ja-
neiro: Civilizao Brasileira, 1985.
CARVALHAL, Tania Franco. 2. ed. A literatura comparada. So
Paulo: tica, 1986.
____. Compatriotas da lngua. Zero Hora, Porto Alegre, 05 abr., 1997.
Cultura, Segundo Caderno.
____. Teorias em Literatura Comparada. Revista Brasileira de Lite-
ratura Comparada, So Paulo: ABRALIC, 2, mai 1994.
CARVALHAL, Tania & COUTINHO, Eduardo (org.). Literatura com-
parada: textos fundadores. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
CARVALHO, Alberto. Prefcio a Cultura caboverdeana: ensaios.
Lisboa: Vega, 1991.
CASSIRER, Ernst. Mito y lenguage. Buenos Aires: Galatea Nueva
Vision, 1959.
____. O mito do Estado. Lisboa: Europa-Amrica, 1961.
COELHO, Nelly Novaes. Escritores portugueses. So Paulo: Quron,
1973.
CORREIA, Pedro Pezart. A descolonizao. In: Portugal 20 anos de
democracia. Lisboa: Printer Portuguesa, 1996.
COUTINHO, Afrnio. Conceitos e vantagens da literatura compara-
da. Boletim de Ariel, Rio de Janeiro,2 (13), jan./fev., 1976.
CUNHAL, lvaro. A revoluo portuguesa. Lisboa: D. Quixote, 1975.
EAGLETON, Terry. A ideologia da esttica. Rio de Janeiro: Zahar,
1993.
ELIADE, Mircea. Aspects du mythe. Paris: Gallimard, 1969.
____. Le mythe de leternel retour. Paris: Gallimard, 1969.
____. Mito y realidad. Madrid: Guadarrama, 1968.
FARACO, Carlos Alberto et alii. Uma introduo a Bakhtin. Curitiba:
Hatier, 1988.
FEHR, Ferenc. O romance est morrendo?. Guanabara: Paz e Terra,
1972.
FERREIRA, Manuel et alii. Claridade: revista de arte e letras. Lis-
boa: A.L.A.C./ Instituto Caboverdeano do Livro, 1986.
FISCHER, Ernst. A necessidade da arte. Lisboa: Ulissia, 1963.
FISCHER, Ernst et alii. Sociologia da arte. Rio de Janeiro: Zahar,
1966.
FLORY, Suely Fadul Villibor. Experimentalismo e auto referencialidade
como marcas de contemporaneidade na Literatura Portuguesa
'
atual. Revista de Letras, Assis, UNESP,34, 1994.
FONSECA, Aguinaldo et alii. Antologia: Cabo Verde, Guin Bissau,
e So Tom e Prncipe. Poesia e conto. Sel. Org. Lucia Cechin.
Porto Alegre: 1982.
FORSTER, E. M. Aspects of the novel. New York: Harcourt, Brace
and World, s.d.
GLISSANT, Edouard. Introduction une poetique du divers. Paris:
Gallimard, 1966.
____. Le discours antillais. Paris: Seuil, 1981.
GOLDMANN, Lucian. Recherches dialectiques. Paris: Gallimard, 1959.
____. Sociologia do romance. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.
GUILLN, Claudio. Entre lo uno y lo diverso. Introduccin a la
Literatura comparada. Barcelona: Crtica, 1985.
HEGEL, G.N.F. Esthtique. Paris: Auberier, 1949.v.3.
HELENA, Lcia. A construo da Literatura Comparada na Histria
da Literatura. Revista Brasileira de Literatura Comparada. So
Paulo:ABRALIC, 2, mai 1994.
JAHN, Janheis. Las literaturas neoafricanas. Madrid: Guadarrama,
1971.
KRISTEVA, Julia. A palavra, o dilogo e o romance.In: Introduo
Semanlise. Trad. Lcia Helena Frana. So Paulo: Perspectiva,
1974.
LVI-STRAUSS, Claude et alii. Mito e linguagem social (Ensaios
de Antropologia Estrutural). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
1970.
LVI-STRAUSS, Claude. Lbios rachados e gmeos. In: Mito e Sig-
nificado. Lisboa: Edies 70, 1978.
LLOSA, Mario Vargas. La novela. Montevideo: Fondo de Cultura
Universitaria, 1968.
LOPES, Oscar & SARAIVA, Antonio Jos. Histria da literatura
portuguesa. Porto: Porto, 1989.
LOURENO, Eduardo. Labirinto da saudade- Psicanlise mtica
do destino portugus. Lisboa: D. Quixote, 1978.
____. Literatura e revoluo. Colquio Letras, Lisboa,78 ,1984.
____. Ns e a Europa ou as duas razes. Lisboa: Nacional/Casa da
Moeda, 1988.
____. A Europa desencantada- Para uma mitologia europia. Lis-
boa: Viso, 1994.
LUKACS, Georg. La signification presente du ralisme critique.
'
Paris: Gallimard, 1966.
MACHADO, lvaro Manuel & PAGEAUX, Daniel-Henri. Literatu-
ra Portuguesa Literatura Comparada Teoria da Literatura. Lis-
boa: Edies 70, 1981.
MAILLOUX, Steven. Rhetorical Power. London: Cornell University,
1989.
MALINOVSKI, B. Myth in primitive psychology. Londres:1926.
MARIANO, Gabriel. Cultura caboverdeana: ensaios. Lisboa: Veja,
1991.
MARTINS, J.P. Oliveira. Systema dos mythos religiosos. Lisboa:
Bertrand, s.d.
MARTINS, Ovdio et alii. Antologia temtica da poesia africana.
Lisboa: S da Costa, 1977.
MEDINA, Cremilda de Arajo. Sonha mamana frica. So Paulo:
Epopia, 1987.
MENDILOW, Adam Abraham. O tempo e o romance.Trad. Flvio
Wolf. Porto Alegre: Globo, 1972.
MIELIETINSKI, E.M. A potica do mito. Trad. Paulo Bezerra. Rio de
Janeiro: Forense Universitria, 1987.
MIRANDA, Nuno de. Compreenso de Cabo Verde. Lisboa: Junta
de Investigaes do Ultramar, 1963.
NITRINI, Sandra. Em torno da literatura comparada. Boletim Biblio-
grfico So Paulo, 47, (1/4), jan.dez., 1986.
OLIVEIRA, Mrio Antnio Fernandes de. Reler frica. Coimbra:
Centro de Estudos Africanos, 1990.
ORLANDI, Eni Pulcinelli. A linguagem e seu funcionamento: as for-
mas do discurso. 2.ed. Campinas, SP: Pontes,1987.
____. Discurso e leitura. So Paulo: Cortez;Campinas: UNICAMP,
1988.
PADILHA, Laura Cavalcante (org.) Anais do I Encontro de Profes-
sores de Literaturas Africanas de Lngua Portuguesa. Niteri:
Imprensa Universitria da UFF, 1995.
PAGEAUX, Daniel-Henri et alii. Literatura comparada/ Teoria da lite-
ratura. Tempo Brasileiro,Rio de Janeiro,1, 1962.
PAGEAUX, Daniel-Henri. De limagerie culturelle l imaginaire. In:
Prcis de Littrature Compare. Paris: PUF, 1989.
____. Da literatura comparada teoria literria; elementos de
reflexo. Tempo brasileiro, Rio de Janeiro, 114-115, 1993.
PAZ, Octavio. La qute du prsent. Paris: Gallimard, 1991.
'
PESSOA, Fernando. Mensagem. Obras completas de Fernando Pes-
soa. Lisboa: tica, 1972.
PERRONE-MOISS. Flores na escrivaninha. So Paulo: Companhia
das Letras, 1990.
PIRES LARANJEIRA, J. L. Literatura canibalesca. Porto:
Afrontamento, 1985.
____. A actual literatura dos cinco. Letras de hoje, Porto Alegre,
PUCRGS, 26, (1), mar. 1991.
____. De letra em riste (identidade, autonomia e outras questes
na literatura de Angola, Cabo Verde, Moambique e So Tom
e Prncipe). Porto: Afrontamento, 1992.
____. Literaturas africanas de expresso portuguesa. Lisboa: Uni-
versidade Aberta, 1995.
PIZARRO, ANA et alii. La literatura latinoamericana como
proceso. Buenos Aires: Centro Editor de America Latina, 1985.
PRAA, Afonso. Baltasar Lopes ao JL: o movimento claridoso
ainda existe. Jornal de Letras, Lisboa, 8/21 dez.1981.
P.S. La teoria del apagamiento. El pais, Madrid, 09 jun. 1989.
RAMA, Angel. Transculturacin narrativa en Amrica Latina.
Mexico: Siglo XI, 1985.
RIVAS, Pierre. Insularit et deracinement dans la posie
Capverdienne. In: Les littratures africaines de langue
portugaise: la recherche de lidentit individuelle et
nationale. - Actes du Colloque. Paris: Fondation Calouste
Gulbenkian, Centre Culturel Portugais, 1985.
ROSADO, Pedro Garcia. Retratos: os heris cabisbaixos do Estado
Novo: a sndrome do contestvel. Dirio de Notcias, Lisboa, 13
abr. 1994.
SAID, Edward W. Cultura e imperialismo. Trad. Denise Bottman.
So Paulo: Companhia das Letras, 1995.
____. Orientalism. New Jersey: Penguin, 1991.
SANTILLI, Maria Aparecida. Africanidade - Contornos literrios.
So Paulo: tica, 1993.
____. Viagens textuais.Um percurso: Amrica-frica-Europa. Revis-
ta Brasileira de Literatura Comparada. So Paulo, ABRALIC,
2 mai. 1994
SANTOS, Maria Elsa Rodrigues dos. O mito e o anti-mito de Pasrgada
na poesia cabo-verdiana. In: X Encontro de Professores Univer-
sitrios Brasileiros de Literatura Portuguesa - I Colquio Luso-
' !
Brasileiro de Professores Universitrios de Literaturas de Ex-
presso Portuguesa-Actas. Lisboa/Coimbra/Porto, Instituto de
Cultura Brasileira/ Universidade de Lisboa, 1984.
SARAIVA, Antnio Jos. Os mitos portugueses. Jornal de Letras,
Artes e Idias, Lisboa,1, (3/16) mar. 1981.
SARAIVA, Jos Hermano. Histria concisa de Portugal. Lisboa:
Europa-Amrica, 1971.
SARTRE, Jean-Paul. Que a literatura ? Trad. Carlos Felipe Moiss.
So Paulo: tica, 1989.
SEIXO, Maria Alzira. Fico. Colquio Letras. 78, 1984.
____. A palavra do romance: Ensaios de genologia e anlise. Lis-
boa: Livros Horizonte, 1986.
SRGIO, Antnio. Breve interpretao da histria de Portugal.
Lisboa: S da Costa, 1978.
SIMES, Joo Gaspar. A arte de escrever romances. Lisboa: tica,
1947.
____. Natureza e funo da literatura. Lisboa: S da Costa, 1948.
____. Literatura, literatura, literatura... Lisboa: Portuglia, 1964.
SIMES, Maria de Lourdes Netto et alii. Temas portugueses e brasi-
leiros. Lisboa/ Ministrio da Educao/ Instituto de Cultura e
Lngua Portuguesa, 1992.
SCHLER, Donaldo. Viso do Messianismo no Brasil. Zero Hora,
Porto Alegre, 13 mai. 1995. Cultura, Segundo Caderno.
SCHWARTZ, Roberto. Nacional por subtrao. In: . Que ho-
ras so? So Paulo: Companhia das Letras, 1987.
SOUZA, Eneida Maria de. Literatura Comparada. Espao Nmade
do Saber. Revista Brasileira de Literatura Comparada, So Pau-
lo, ABRALIC, 2, mai. 1994.
STAM, Robert. Bakhtin da teoria cultura de massa. So Paulo:
tica, 1992.
TADI, Jean-Yves. O romance no sculo XX. Lisboa: Dom Quixote,
1992.
TRIGO, Salvato. Ensaios de literatura comparada afro-luso- brasi-
leira. Lisboa: Vega/Universidade, s.d.
WELLECK, Ren. Conceitos de crtica. So Paulo: Cultrix, s.d.
Você também pode gostar
- AULA 4-2021 EnsMédio Química 1 Série Slides AULA 4Documento20 páginasAULA 4-2021 EnsMédio Química 1 Série Slides AULA 4Pedro MarquesAinda não há avaliações
- Devocionário Sagrada FaceDocumento26 páginasDevocionário Sagrada Facephtavares100% (1)
- Amoxicilina SuspDocumento8 páginasAmoxicilina SuspPedro MarquesAinda não há avaliações
- Caderno Atividades Ensino Fundamental IDocumento129 páginasCaderno Atividades Ensino Fundamental IPedro Marques100% (1)
- case2: Acesso Sisbacen login orientaçõesDocumento3 páginascase2: Acesso Sisbacen login orientaçõeshermanyAinda não há avaliações
- Cânticos para Terço Dos HomensDocumento12 páginasCânticos para Terço Dos HomensPedro Marques100% (1)
- AULA 12-2021 - EnsMédio - Química - 1 Série - Slides - Aula 12 PDFDocumento16 páginasAULA 12-2021 - EnsMédio - Química - 1 Série - Slides - Aula 12 PDFPedro MarquesAinda não há avaliações
- O Segredo Do Rosário - S. Luís MontfortDocumento99 páginasO Segredo Do Rosário - S. Luís MontfortRui Manuel Alves100% (2)
- A Morte Reduz o Corpo a PóDocumento403 páginasA Morte Reduz o Corpo a PóGelson Luiz MikuszkaAinda não há avaliações
- Regulamento 2605Documento11 páginasRegulamento 2605Pedro MarquesAinda não há avaliações
- Edital Seletivo 006 03 2021 FINALDocumento17 páginasEdital Seletivo 006 03 2021 FINALPedro MarquesAinda não há avaliações
- As quinze orações reveladas por Nosso Senhor à Santa BrígidaDocumento12 páginasAs quinze orações reveladas por Nosso Senhor à Santa BrígidaAnonymous zyzba6lP100% (4)
- A Morte Reduz o Corpo a PóDocumento403 páginasA Morte Reduz o Corpo a PóGelson Luiz MikuszkaAinda não há avaliações
- Alimentos funcionais para petsDocumento20 páginasAlimentos funcionais para petsPedro MarquesAinda não há avaliações
- Daniel Comboni EscritosDocumento716 páginasDaniel Comboni EscritosPedro MarquesAinda não há avaliações
- Calendario 2019Documento13 páginasCalendario 2019Elmer Moisés Villacorta RevillaAinda não há avaliações
- A Vida PerfeitaDocumento56 páginasA Vida PerfeitaPaulo César SantosAinda não há avaliações
- A Santa Missa - Testemunho de Catalina RivasDocumento20 páginasA Santa Missa - Testemunho de Catalina Rivasantispy22100% (5)
- A importância histórica das cartasDocumento15 páginasA importância histórica das cartasPedro MarquesAinda não há avaliações
- Regime de segregação racial na África do Sul entre 1948-1994Documento3 páginasRegime de segregação racial na África do Sul entre 1948-1994Pedro MarquesAinda não há avaliações
- VVAtacado Abril A JunhoDocumento32 páginasVVAtacado Abril A JunhoPedro MarquesAinda não há avaliações
- A Genealogia Da MoralDocumento4 páginasA Genealogia Da MoralPedro MarquesAinda não há avaliações
- 099 Seletivo Aluno REIT 322017Documento72 páginas099 Seletivo Aluno REIT 322017Pedro MarquesAinda não há avaliações
- A Revolução de KoellreutterDocumento7 páginasA Revolução de KoellreutterArtur FernandoAinda não há avaliações
- Redação Oficial PDFDocumento50 páginasRedação Oficial PDFzaymond zarondyAinda não há avaliações
- 3 Direitos Humanos RelacoesDocumento51 páginas3 Direitos Humanos RelacoesPedro MarquesAinda não há avaliações
- Contrição PerfeitaDocumento35 páginasContrição PerfeitaSpe DeusAinda não há avaliações