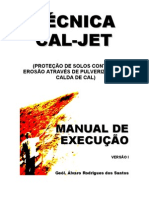Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Moluscos Bivalves em Portugal Composição Química e Contaminantes
Moluscos Bivalves em Portugal Composição Química e Contaminantes
Enviado por
joaogarcesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Moluscos Bivalves em Portugal Composição Química e Contaminantes
Moluscos Bivalves em Portugal Composição Química e Contaminantes
Enviado por
joaogarcesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Maria Cidlia Rodrigues Mendes de Oliveira
Moluscos Bivalves em Portugal: Composio Qumica e Metais Contaminantes
Dissertao para obteno do Grau de Mestre em Tecnologia e Segurana Alimentar
Orientador: Professora Doutora Ana Lcia Leito Co-orientador: Mestre Susana Gonalves
Jri:
Presidente: Prof. Doutora Benilde Simes Mendes Arguente(s): Prof. Doutora Maria Leonor Martins Braz Almeida Nunes Prof. Doutora Isabel Maria Lopes Pereira Carlos Peres Vogal(ais): Prof. Doutora Ana Lcia Monteiro Duro Leito Mestre Susana Maria Neves Serra Gonalves
Setembro 2012
Maria Cidlia Rodrigues Mendes de Oliveira
Moluscos Bivalves em Portugal: Composio Qumica e Metais Contaminantes
Dissertao para obteno do Grau de Mestre em Tecnologia e Segurana Alimentar
Orientadora: Professora Doutora Ana Lcia Leito Co-orientadora: Mestre Susana Gonalves
Jri: Presidente: Prof. Doutora Benilde Simes Mendes Arguente(s): Prof. Doutora Maria Leonor Martins Braz Almeida Nunes Prof. Doutora Isabel Maria Lopes Pereira Carlos Peres Vogal(ais): Prof. Doutora Ana Lcia Monteiro Duro Leito Mestre Susana Maria Neves Serra Gonalves
Setembro 2012
Copyright em nome de Maria Cidlia Rodrigues Mendes de Oliveira, FCT/UNL e UNL A Faculdade de Cincias e Tecnologia e a Universidade Nova de Lisboa tem o direito, perptuo e sem limites geogrficos, de arquivar e publicar esta dissertao atravs de exemplares impressos reproduzidos em papel ou de forma digital, ou por qualquer outro meio conhecido ou que venha a ser inventado, e de a divulgar atravs de repositrios cientficos e de admitir a sua cpia e distribuio com objetivos educacionais ou de investigao, no comerciais, desde que seja dado crdito ao autor e editor.
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Agradecimentos
A elaborao desta dissertao foi apenas possvel com a ajuda de diversas pessoas s quais no posso deixar de exprimir a minha gratido e apreo. Em primeiro lugar, Professora Doutora Ana Lcia Leito, gostaria de evidenciar o meu profundo agradecimento pela oportunidade, apoio, disponibilidade e incentivo contnuo, no s no decurso do estgio mas durante o meu percurso acadmico na FCT. Aos dirigentes do IPMA pela oportunidade de estgio, nomeadamente Engenheira Leonor Nunes por me ter proporcionado a possibilidade de realizar o trabalho laboratorial na unidade da qual coordenadora. Doutora Susana Gonalves, orientadora do trabalho realizado, por todo o apoio, empenho, incentivo e disponibilidade ao longo do estgio e at ao culminar deste trabalho. No h forma de expressar a minha gratido. Agradeo tambm Dra. Fernanda Martins, Dra. Helena Loureno e Margarida Muro, pela companhia e apoio constantes e dirios no laboratrio, por esclarecerem todas as dvidas e pelos seus preciosos ensinamentos. Gostaria de agradecer ainda s vrias pessoas que tive o prazer de conhecer no IPMA, Dra. Cludia Afonso, Dra. Narcisa Bandarra, Dra. Amparo Gonalves, Dra. Snia Pedro, ao Manuel Pires, ao Carlos Cardoso e Patrcia Oliveira, por toda a ajuda e disponibilidade. Aos meus amigos e companheiros de laboratrio pela alegria e animao constante, nomeadamente Mafalda, pelo seu bom humor, ao Gabriel, por todos os seus humores, Mabel, pela presena constante dentro e fora do laboratrio, Oksana, Maria Teresa, ao Victor e ao Ricardo por tudo o que partilhmos. Aos meus amigos e colegas de mestrado, por fazerem parte desta caminhada, por todos os momentos, sempre muito didticos, e por me deixarem tambm fazer parte da vossa caminhada. Um agradecimento em especial Sofia Guerreiro, Carla Martins, Neuza Franco, Ana Maria e ao Adriano Augusto pela presena sempre constante, essencial minha sanidade. E finalmente, s minhas irms, Rita e Sara, pela falta de pacincia e por me mostrarem que cada dia uma ddiva e aos meus pais, a eles que dedico este trabalho. Obrigada pelo passado, pelo presente e pelo futuro!
IV
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Resumo
A cultura e consumo de moluscos bivalves em Portugal so atividades cujo incio se perde no tempo e com um grande impacto na economia nacional. Contudo, o consumo destes organismos envolve problemas especficos de segurana alimentar pelo que necessrio um controlo rigoroso associado a um plano de monitorizao. A amijoa japonesa (Ruditapes philippinarum), a ameijola (Callista chione), a lambujinha (Scrobicularia plana), o mexilho (Mytilus edulis) e a ostra portuguesa (Crassostrea angulata) so espcies apreciadas e com elevado interesse socio-econmico em Portugal e que podem ser encontradas ao longo da costa portuguesa, nomeadamente nos esturios do Tejo e do Sado. Possuem as partes do corpo moles encerradas num exosqueleto sob a forma de uma concha, composta por duas valvas calcrias e alimentam-se por filtrao. Os bivalves tm grande importncia na dieta humana por serem fonte de nutrientes essenciais e por fornecerem protena de elevada qualidade biolgica. Contudo, os benefcios do seu consumo so contrabalanados com o perigo de exposio do consumidor a substncias poluentes que se podem acumular nas partes edveis, o que constitui um fator de risco para a sade humana. O principal objetivo deste estudo foi a determinao da composio qumica aproximada e a avaliao da contaminao por metais pesados na parte edvel de 5 espcies de moluscos bivalves capturados em Portugal. Por conseguinte, o teor de humidade, gordura, protena, cinza e glicognio e as concentraes de cdmio (Cd), mercrio (Hg) e chumbo (Pb) foram determinados nos tecidos moles (em peso hmido) da amijoa japonesa (Ruditapes philippinarum), da ameijola (Callista chione), da lambujinha (Scrobicularia plana) e da ostra portuguesa (Crassostrea angulata) do Esturio do Sado, da amijoa japonesa ( Ruditapes philippinarum) e do mexilho ( Mytilus edulis) do esturio do Tejo e do mexilho (Mytilus edulis) da zona de Cascais. Os moluscos bivalves analisados apresentaram teores de humidade entre 79 e 85%, de protena entre 10 e 14%, de cinza entre 2 e 4%, de gordura entre 0,3 e 1,5% e de glicognio entre 0,5 e 2,5%. Os resultados obtidos foram semelhantes aos de outros autores. Os nveis de metais pesados encontram-se abaixo dos limites da Comisso Europeia, com exceo da ostra portuguesa capturada no esturio do Sado, que poder representar um risco para o consumo humano. Verificou-se que apenas o chumbo apresentou diferenas entre os dois locais de amostragem, sendo que o esturio do Tejo o que apresenta valores mais elevados.
Palavras-chave: amijoa japonesa; ameijola; lambujinha; mexilho; ostra portuguesa; composio qumica aproximada; metais contaminantes.
VI
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
VII
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Abstract
In Portugal, mollusc bivalves production and consumption are activities whose beginning is lost in time and with a great impact on the national economy. Nevertheless, these species consumption involves specific problems of food safety which requires a strict control associated with a plan for monitoring these organisms. The manila clam (Ruditapes philippinarum), the smooth calista (Callista chione), the peppery furrow shell (Scrobicularia plana), the blue mussel ( Mytilus edulis) and the Portuguese oyster (Crassostrea angulata) species are appreciated and have socio-economic interest in Portugal. These mollusc bivalves can be found along the Portuguese coast, particularly in the Tagus and Sado estuaries. They are organisms whose body parts are hold in a closed mole exoskeleton in the form of a shell composed of two limestone valves and feed by filtering. The bivalves are still of great importance in the human diet as being a source of essential nutrients and providing a protein content of high biological quality. However the benefits of their use are outweighed by the hazard of consumer exposure to pollutants that can be accumulated in the edible part, which can be considered as a risk factor for human health. The main objective of this study was to determine the proximate chemical composition and evaluate the contamination by heavy metals in the edible part of 5 of mollusc biva lves species. Consequently, the moisture, fat, protein, ashes and glycogen content and cadmium (Cd), mercury (Hg) and lead (Pb) concentrations were determined in the soft tissue (wet weight basis) of manila clam (Ruditapes philippinarum), smooth calista (Callista chione), peppery furrow shell (Scrobicularia plana) and Portuguese oyster (Crassostrea angulata) collected in Sado estuary, of manila clam (Ruditapes philippinarum) and blue mussel (Mytilus edulis) from Tagus estuary and, once again, of blue mussel (Mytilus edulis) collected in Cascais. Overall percentage values of the main components of mollusks bivalves presented moisture contents around 80 and 85%, protein ranged from 10 to 14%, ash from 2 to 4%, fat from 0.3 to 1.5% and glycogen from 0.5 to 2.5%. The results were similar to other authors. The levels of heavy metals were all below the European Commission limits, except for Portuguese oyster collected on Sado estuary that can represent a great risk for human consumption. Finally, it was also found that only lead showed differences between the two sampling sites and that Tagus estuary is the one with higher values.
Keywords: manila clam, smooth calista, peppery furrow, blue mussel, Portuguese oyster, heavy metals, proximate chemical composition.
VIII
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
IX
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
ndice de Matrias
Agradecimentos............................................................................................................................ IV Resumo ........................................................................................................................................ VI Abstract ...................................................................................................................................... VIII ndice de Matrias ......................................................................................................................... X ndice de Figuras ......................................................................................................................... XII Lista de Tabelas ........................................................................................................................ XIV Lista de Acrnimos .................................................................................................................... XVI Objetivos ........................................................................................................................................ 1 1. Introduo .............................................................................................................................. 3 1.1. 1.2. Importncia dos bivalves no setor das pescas ............................................................. 3 Biologia das espcies .................................................................................................... 5 Mytilus edulis (Linnaeus, 1758) ............................................................................. 6 Callista chione (Linnaeus, 1758) ........................................................................... 7 Crassostrea angulata (Lamarck, 1835) ................................................................. 8 Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850) ................................................ 9 Scrobicularia plana (Linnaeus, 1758) .................................................................. 10
1.2.1. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.4.
Valor nutricional e importncia dos bivalves na alimentao ..................................... 11 Metais contaminantes ................................................................................................. 13 Mercrio ............................................................................................................... 15 Cdmio ................................................................................................................ 16 Chumbo ............................................................................................................... 17
1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.5.
Locais de estudo ......................................................................................................... 18 Esturio do Tejo e Baa de Cascais .................................................................... 18 Esturio do Sado ................................................................................................. 20
1.5.1. 1.5.2. 2.
Materiais e mtodos ............................................................................................................ 23 2.1. 2.2. Amostragem / Matria-prima ....................................................................................... 23 Determinaes analticas ............................................................................................ 23 Composio qumica aproximada ....................................................................... 23 Humidade .................................................................................................... 23 Protena ....................................................................................................... 24
2.2.1.
2.2.1.1. 2.2.1.2.
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
2.2.1.3. 2.2.1.4. 2.2.1.5. 2.2.2. Gordura livre ................................................................................................ 25 Cinza total .................................................................................................... 27 Glicognio .................................................................................................... 28
Quantificao de metais contaminantes ............................................................. 30 Cdmio e chumbo ....................................................................................... 30 Mercrio total ............................................................................................... 33
2.2.2.1. 2.2.2.2. 2.3. 2.1. 2.2. 3.
Valor energtico .......................................................................................................... 35 Validao das tcnicas analticas ............................................................................... 35 Anlise estatstica........................................................................................................ 35
Resultados ........................................................................................................................... 37 3.1. 3.2. Composio qumica aproximada ............................................................................... 37 Metais contaminantes ................................................................................................. 46
4.
Consideraes finais ........................................................................................................... 55 4.1. Perspetivas futuras ...................................................................................................... 56
5.
Bibliografia ........................................................................................................................... 59
Anexos ......................................................................................................................................... 66 6. Dados .................................................................................................................................. 67
XI
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
ndice de Figuras
Figura 1.1 - Capturas nominais anuais em toneladas por espcie em Portugal. ......................... 4 Figura 1.2- Mytilus edulis. Fonte: BOE, 2007. .............................................................................. 6 Figura 1.3 - Callista chione. Fonte: BOE, 2007. ............................................................................ 8 Figura 1.4 - Crassostrea angulata. Fonte: ICNF, 2010. ................................................................ 8 Figura 1.5 - Ruditapes philippinarum. Fonte: BOE, 2007. ............................................................ 9 Figura 1.6 - Scrobicularia plana. Fonte: BOE, 2007. .................................................................. 11 Figura 1.7 - Ciclo biogeoqumico do mercrio no ambiente (adaptado de EPA, 1997).............. 16 Figura 1.8 - Representao da localizao do esturio do Tejo (adaptado de Google TM Earth ). ...................................................................................................................................... 19 Figura 1.9 - Representao da localizao do esturio do Sado (adaptado de Google TM Earth ). ...................................................................................................................................... 21 Figura 2.1 - Unidades de extrao de gordura formadas por destilador, extrator, balo e bateria de placas de aquecimento (SBS PC 6L)...................................................................... 26 Figura 2.2 - Espectrofotmetro de absoro atmica de chama (VARIAN, Spectr AA 55B). ............................................................................................................................................ 32 Figura 2.3 - Analisador de mercrio (LECO, AMA 254). ............................................................. 34 Figura 3.1 - Teor de humidade (%) nas espcies estudadas. .................................................... 38 Figura 3.2 - Teor de protena (%) nas espcies estudadas. ....................................................... 39 Figura 3.3 - Comparao entre os teores de protena e de humidade nas espcies estudadas. ................................................................................................................................... 40 Figura 3.4 - Teor de gordura (%) nas espcies estudadas. ........................................................ 41 Figura 3.5 - Teor de cinza (%) nas espcies estudadas. ............................................................ 43 Figura 3.6 - Teor de glicognio (%) nas espcies estudadas. .................................................... 44 Figura 3.7 - Valores energticos (kcal.100 g ) das espcies estudadas. .................................. 45 Figura 3.8 - Teor de cdmio (mg.kg ) nas espcies estudadas (CE, 2008). ............................. 50 Figura 3.9 - Teor de chumbo (mg.kg ) nas espcies estudadas e limite mximo permitido por lei (CE, 2006). ....................................................................................................... 51 Figura 3.10 - Teor de mercrio (mg.kg ) nas espcies estudadas. ........................................... 52
-1 -1 -1 -1
XII
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
XIII
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Lista de Tabelas
Tabela 1.1 - Hierarquia taxonmica do mexilho. Adaptado de ITIS, 2012 (http://www.itis.gov/). ....................................................................................................................................................... 6 Tabela 1.2 - Hierarquia taxonmica da ameijola. Adaptado de ITIS, 2012 (http://www.itis.gov/). 7 Tabela 1.3 - Hierarquia taxonmica da ostra portuguesa. Adaptado de ITIS, 2012 (http://www.itis.gov/). ..................................................................................................................... 9 Tabela 1.4 - Hierarquia taxonmica da amijoa japonesa. Adaptado de ITIS, 2012 (http://www.itis.gov/). ................................................................................................................... 10 Tabela 1.5 - Hierarquia taxonmica da lambujinha. Adaptado de ITIS, 2012 (http://www.itis.gov/). ................................................................................................................... 10 Tabela 1.6 - Valores mdios da composio qumica aproximada (g.100g de parte edvel) e do valor energtico (kcal.100g de parte edvel) de amijoas, mexilhes e ostras. ....................... 12 Tabela 2.1 - Concentraes dos pontos para a curva de calibrao.......................................... 29 Tabela 2.2 - Curva de calibrao para o cdmio e chumbo. ...................................................... 32 Tabela 3.1 Composio qumica aproximada (%) e valor energtico (kcal.100g ) dos moluscos bivalves analisados (mdia desvio padro). ............................................................ 37 Tabela 3.2 - Composio qumica aproximada (%) de alguns moluscos bivalves referenciados na literatura.................................................................................................................................. 38 Tabela 3.3 - Concentraes de cdmio, chumbo e mercrio (mdia desvio padro), expressas em mg.kg , nos moluscos bivalves do esturio do Tejo. ........................................................... 46 Tabela 3.4 - Concentraes de cdmio, chumbo e mercrio (mdia desvio padro), expressas em mg.kg , nos moluscos bivalves de esturio do Sado. .......................................................... 48 Tabela 3.5 - Concentraes de cdmio, chumbo e mercrio (mdia desvio padro) expressas em mg.kg na amijoa japonesa dos esturios do Tejo e do Sado. .......................................... 52 Tabela 3.6 - Teores de cdmio, chumbo e mercrio (mg.kg ) referenciados na literatura para moluscos bivalves. ...................................................................................................................... 53 Tabela 6.1 - Composio qumica aproximada (%) e valor energtico (kcal.100g ), das amostras dos moluscos bivalves estudadas, resultado de duas rplicas de amostras constitudas por 15 a 30 organismos. ......................................................................................... 67 Tabela 6.2 - Concentrao de cdmio, chumbo e mercrio (mg.kg ), dos molsculos bivalves estudados, resultado de duas rplicas de amostras constitudas por 15 a 30 organismos. ...... 68
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
XIV
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
XV
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Lista de Acrnimos
AJS Amijoa japonesa do esturio do Sado AJT Amijoa japonesa do esturio do Tejo ANOVA Anlise de Varincia (Analysis of Variance) AS Ameijola do esturio de Sado BOE Boletim Oficial do Estado Espanhol (Boletn Oficial del Estado) CE Comisso Europeia DDT - Dicloro-Difenil-Tricloroetano EDTA - cido etilenodiamino tetra-actico EU - Unio Europeia (European Union) FAO Organizao para a Alimentao e Agricultura (Food Agriculture Organization of the United Nations) INE Instituto Nacional de Estatstica IPAC Instituto Portugus de Acreditao, I. P. IPMA, I. P. Instituto Portugus do Mar e da Atmosfera, I. P. ISO Organizao Internacional de Normalizao (International Organization for
Standardization) ITIS - Sistema Integrado de Informao Taxonmica (Integrated Taxonomic Information System) MC Mexilho da marina de Cascais MT Mexilho do esturio do Tejo OPS Ostra Portuguesa do esturio do Sado PCB - Bifenilpoliclorado PUFA cidos gordos polinsaturados (polyunsaturated fatty acids)
XVI
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
XVII
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Objetivos
Os produtos de pesca e aquacultura tm um papel de relevo na indstria nacional, quer ao nvel econmico, quer ao nvel social, nomeadamente na gastronomia portuguesa pela tradio e pelas suas caractersticas nutricionais e organolticas. Os bivalves, em particular, so bastantes apreciados, fazendo parte da gastronomia tradicional de algumas regies e de alguns pratos nacionais emblemticos, como a carne de porco alentejana ou as amijoas Bulho Pato. Os objetivos do trabalho realizado consistiram na anlise da composio qumica aproximada de algumas espcies de bivalves provenientes de diferentes localizaes relativamente ao seu teor em protena, humidade, cinza, gordura e carboidratos. Os moluscos bivalves estudados neste trabalho foram, provenientes do esturio do Sado, a amijoa japonesa, a ameijola, a lambujinha e a ostra portuguesa, provenientes do esturio do Tejo, a amijoa japonesa e o mexilho, este ltimo tambm proveniente de Cascais. Os bivalves possuem a particularidade de recorrerem filtrao de grandes quantidades de gua a fim de obterem nutrientes e o oxignio de que necessitam. Consequentemente, podem tornar-se percursores de diversos agentes nocivos, nomeadamente contaminantes qumicos como o mercrio, o cdmio e o chumbo, ou biolgicos, como bactrias, vrus, parasitas e microalgas, suscetveis de causarem diversas doenas, com agravante para os bivalves que se localizam em zonas lagunares, estuarinas e costeiras, frequentemente prximas de centros urbanos. Considerando que o consumo de alimentos contaminados responsvel por uma importante via de exposio dos humanos a elementos txicos, e que os produtos da pesca e da aquicultura so um dos grupos de alimentos que apresenta maior nmero de registos de contaminao por metais txicos em Portugal, o seu controlo analtico e o acompanhamento do teor destes metais de extrema importncia na medida em que a proteo do consumidor apenas eficiente quando esto disponveis dados exatos desses elementos. Desta forma, torna-se imperativo a determinao e avaliao dos nveis de metais pesados em organismos marinhos considerando a sua importncia nutricional, a segurana e a qualidade alimentar. Uma vez que a qualidade ter inevitavelmente de ir ao encontro das atuais exigncias dos consumidores, cada vez mais conscientes da importncia dos produtos alimentares na sua sade e bem-estar, o presente estudo insere-se ainda neste contexto. Foca, assim, alguns aspetos da qualidade dos bivalves, em particular a sua composio qumica aproximada e a contaminao por metais pesados, tais como o mercrio, o cdmio e o chumbo, em funo dos fatores que a podem influenciar, nomeadamente localizao, espcie e a comparao dos resultados face aos limites estabelecidos na legislao vigente.
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
1. Introduo
1.1. Importncia dos bivalves no setor das pescas
O consumo de alimentos, nomeadamente de produtos da pesca, tem sido condicionado ao longo dos tempos devido no s sua disponibilidade, mas tambm a fatores culturais e religiosos. Contudo, no que diz respeito aos bivalves, so muito poucas as comunidades que colocam restries ao seu consumo (Silva e Batista, 2008; Torres, 2011). Em 2010, a nvel mundial, a quantidade de produtos da pesca obtidos por cultura e por apanha foi cerca de 148 milhes de toneladas, com um valor total de aproximadamente 217,5 bilhes de dlares. Com o crescimento sustentado da produo de produtos da pesca e o desenvolvimento dos canais de distribuio, o abastecimento mundial destes produtos tem vindo a crescer dramaticamente nas ltimas cinco dcadas, com uma taxa mdia de crescimento de 3,2% no perodo 1961-2009, superando o aumento demogrfico de 1,7% da populao mundial. O consumo mundial anual de produtos da pesca per capita aumentou de uma mdia de 9,9 kg (peso vivo) em 1960 para 18,4 kg em 2009 (FAO, 2012). O interesse pelos moluscos bivalves aumenta se tivermos em considerao o recurso natural que as reas de crescimento e apanha podem representar, em especial os esturios. Os esturios so reas de alta produtividade, cruciais na histria de vida de muitos peixes, invertebrados e pssaros (Garcs e Costa; 2009). Densas camadas de bivalves (epifauna e infauna) ocorrem em esturios costeiros com elevada produtividade primria, representando uma importante fonte de alimento desde a pr-histria (Silva e Batista, 2008; Oliveira et al., 2010). No entanto, a sobre-explorao do ambiente aqutico tem gerado impactes nos ecossistemas e consequentemente uma reduo dos leitos de marisco naturais, conduzindo necessidade de interveno humana na sua produo. O resultado o desenvolvimento da produo artificial de moluscos bivalves e explorao pela indstria alimentar (Lees, 2000; Helm e Bourne, 2004; Oliveira et al., 2010). Desta forma, a aquacultura tem vindo a ocupar um papel cada vez mais significativo na satisfao das necessidades alimentares da populao, cumprindo ainda objetivos socio-econmicos uma vez que geradora de pequenas e mdias empresas (Helm e Bourne, 2004; INE, 2012). A produo aqucola aumentou exponencialmente nos ltimos 50 anos, tornando-se uma das indstrias de alimentos de mais rpido crescimento (Helm e Bourne, 2004; Silva e Batista, 2008). Em algumas regies do mundo este sector constitui a nica forma de assegurar o fornecimento de pescado s populaes (Helm e Bourne, 2004). Das 148 milhes de toneladas do aprovisionamento mundial de produtos da pesca e aquicultura, em 2010, cerca de 60 milhes de toneladas corresponderam produo em aquicultura (FAO, 2012). Relativo aos moluscos bivalves, comparando a produo dos mesmos por pesca e por aquacultura em 2005, a produo foi de 2,7 milhes de toneladas e 12,9 milhes de toneladas,
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
respetivamente (Helm e Bourne, 2004; Silva e Batista, 2008). Na Europa, em 2010, a produo de bivalves correspondeu a 26,1% da produo aqucola total (FAO, 2012). Em Portugal, a cultura de moluscos bivalves uma atividade cujo incio se perde no tempo e, embora seu o consumo per capita seja inferior a 5 Kg/pessoa/ano, apresentam grande interesse a nvel gastronmico, integrados na gastronomia tradicional de algumas regies e de alguns pratos emblemticos. Alm da sua importncia do ponto de vista gastronmico e cultural, os bivalves apresentam ainda um papel fulcral na indstria da pesca nacional, quer pela produo, quer pelo nmero de pessoas que envolve e depende da sua apanha e comercializao (Silva e Batista, 2008; Torres, 2011). A captura de moluscos no ano de 2010 registou um aumento de 17% em quantidade e 27% em valor face ao ano de 2009 (INE, 2012). Contudo, os valores da produo de moluscos bivalves so irregulares e nem sempre fceis de estimar devido a interdies pontuais da pesca, impostas como medidas de gesto de segurana e ainda devido a ndices variveis de mortalidade que decorrem, entre outros fatores, do maneio nos viveiros, utilizao de semente inadequada e alteraes da qualidade da gua (Silva e Batista, 2008). O grfico que se encontra na Figura 1.1, obtido atravs dos valores disponibilizados pelo INE, vem corroborar as oscilaes e irregularidades referidas na produo de moluscos bivalves em Portugal.
ton 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ton 25000
20000
15000
10000 Amijoas 5000 Mexilho Ostras Moluscos
Figura 1.1 - Capturas nominais anuais em toneladas por espcie em Portugal.
Segundo o INE, no ano 2010, a produo em aquicultura foi de aproximadamente 8 toneladas, representando em valor cerca de 46 milhes de euros, o que corresponde a um aumento de 0,2% em quantidade e de 5,0% em valor face ao ano de 2009. Os moluscos bivalves representaram cerca de 48% desta produo, sendo as amijoas a espcie mais produzida (INE, 2012).
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Relativamente aos estabelecimentos licenciados em aquicultura, no final de 2010 existiam 1561 estabelecimentos, para guas doces, salgadas e salobras, incluindo unidades de reproduo e de engorda, o que significa mais 36 unidades em relao a 2009, apesar de se assistir a uma reduo em cerca de 9% da rea total. Destes, cerca de 89% eram viveiros para produo de moluscos bivalves, representando cerca de mais 1% relativamente a 2009 (INE, 2012). Os moluscos bivalves comercializados em Portugal provm de estabelecimentos de culturas marinhas (vulgo viveiros), da pesca e da apanha efetuada por mariscadores que tem sido praticada principalmente nas zonas entre mars do Algarve (Ria Formosa e Ria de Alvor), Aveiro (Ria de Aveiro), Lagoa de bidos (Foz do Arelho) e esturios dos rios Sado e Tejo. Em Portugal so comercializadas cerca de 16 espcies diferentes de bivalves vivos provenientes das vrias zonas de produo (Silva e Batista, 2008).
1.2. Biologia das espcies
Os bivalves pertencem ao filo Mollusca, um grupo que inclui animais to diversos como os gastrpodes, cefalpodes (lulas e polvos),entre outros. O filo inclui seis classes das quais uma a Lamellibranchia ou Bivalvia. Os organismos includos nesta classe so caracteristicamente comprimidos lateralmente e as partes do corpo moles encontram-se completa ou parcialmente encerradas num exosqueleto sob a forma de uma concha, composta por duas valvas calcrias. As valvas so unidas por ligamentos e msculos adutores e articulam-se numa charneira, que possui, usualmente, dentes (cardinais ou laterais). O bivalve fecha a concha atravs da contrao dos msculos adutores, que podem ser um ou dois, conforme a espcie. A geometria e distribuio das cicatrizes dos msculos adutores no interior da valva um critrio importante na classificao dos bivalves. A maior parte apresenta simetria bilateral, sendo o plano de simetria correspondente ao plano da charneira (Thorp e Covich, 1991; Lees, 2000; Helm e Bourne, 2004). So animais maioritariamente marinhos, bnticos infaunais ou epifaunais, alimentando-se por filtrao, o corpo constitudo essencialmente por um p e uma srie de lminas branquiais e, em alguns organismos, por sifes inalantes e exalantes para a entrada e sada da gua, que traz oxignio e alimento. As brnquias dos animais includos nesta classe esto bem desenvolvidas, sendo rgos especializados tanto para a alimentao, como para a respirao (Helm e Bourne, 2004). So constitudas por dois pares de lminas que possuem pequenos filamentos, os clios, que conduzem a corrente de gua para a cavidade do manto (Silva e Batista, 2008). Existem desde o Cmbrico, tendo sofrido uma expanso significativa a partir do Mesozoico. O grupo atualmente muito diversificado, com cerca de 15 000 espcies. A separao das diferentes subclasses faz-se pelo tipo e estrutura das brnquias nos organismos vivos, e pelas caractersticas das valvas nos bivalves fsseis (Thorp e Covich, 1991; Helm e Bourne, 2004). Os moluscos bivalves podem ser encontrados tanto em gua salobra, como em gua doce. No entanto, as espcies marinhas so as mais abundantes e distribuem-se por todo o globo e por vrias profundidades. Relativamente ao tipo de alimentao, podem ser classificados como
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
suspensvoros ou filtradores no caso de se alimentarem de partculas em suspenso na gua ou detritvoros, caso se alimentem dos detritos da matria orgnica em decomposio sobre o sedimento (Silva e Batista, 2008).
1.2.1.Mytilus edulis (Linnaeus, 1758) Mytilus edulis (Linnaeus, 1758), de nome comum mexilho ou blue mussel em lngua inglesa, um bivalve da famlia Mytilidae (Tabela 1.1). Possui uma concha slida,
equivalve e inequilateral, cilindroide de forma aproximadamente triangular. Apresenta o umbo pontiagudo e encurvado. A superfcie da concha lisa, com grande nmero de finas estrias de crescimento concntricas, e a charneira desprovida de dentes. A marca do msculo adutor anterior pequena enquanto a do posterior larga. Possui as margens internas lisas e 3 a 12 pequenas crenulaes. No possui dentes. A cor exterior negra, azulada ou violcea escura e internamente a concha gris azulada nacarada. Apresenta o peristraco opaco, castanho-escuroesverdeado ou negro. A sua dimenso pode ser entre 30 e 140 mm (FAO, 2005; BOE, 2007; Silva e Batista, 2008).
Tabela 1.1 - Hierarquia taxonmica do mexilho. Adaptado de ITIS, 2012 (http://www.itis.gov/). Figura 1.2 - Mytilus edulis. Fonte: BOE, 2007.
Reino Filo Classe Subclasse Ordem Famlia Gnero Espcie
Animalia Mollusca Bivalvia Pteriomorphia Mytiloida Mytilidae Mytilus Mytilus edulis
Esta espcie unissexual. A fecundao ocorre na gua, onde so depositados os ovos e os espermatozoides. O tempo de incubao depende da temperatura podendo variar entre 1 a 2 semanas. Depois deste perodo nasce a larva que nada durante 20 dias, ao fim do qual comea a segregar uma concha transparente e rudimentar, fixando-se sobre as rochas ou qualquer outro objeto. O ciclo reprodutor ocorre desde maro-abril at setembro-outubro com dois mximos de intensidade na primavera e outro no outono, sendo, no entanto, o primeiro mais intenso (BOE, 2007; Silva e Batista, 2008). O crescimento do mexilho tambm sazonal, sendo quase inexistente no Inverno devido diminuio da temperatura e da disponibilidade de alimento. Pelo contrrio, durante a Primavera e
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Vero, as altas temperaturas provocam o aumento da taxa de alimentao e, consequentemente, o aumento do crescimento (Boyden, 1972; Camacho et al., 1995). So filtradores que se alimentam de pequenas partculas orgnicas flutuantes. Podem ser confundidos com o mexilho mediterrnico Mytiulus galloprovincialis (Lamarck, 1818), uma vez que podem apresentar morfologias muito semelhantes (BOE, 2007; Silva e Batista, 2008). Fixam-se s rochas ou a outro tipo de substrato atravs do bisso, na zona intermars at 40 m, formando grandes colnias. Muito comum em todo o litoral atlntico e mediterrnico, bem como em guas estuarinas, tanto em zonas intertidais como subtidais. Podem viver em guas poludas, como nas reas porturias. Pode ser cultivado em grande escala fixado a estacas enterradas no solo ou em cabos suspensos de jangadas. Pode tambm ser capturado com faca de mariscar. comercializado em fresco, congelado ou em conserva (Silva e Batista, 2008).
1.2.1. Callista chione (Linnaeus, 1758) Callista chione (Linnaeus, 1758), da famlia Veneridae (Tabela 1.2) de nome comum ameijola ou smooth calista em lngua inglesa, um bivalve relativamente grande, com o umbo proeminente e deslocado para o lado interior da concha. A superfcie exterior macia e lustrosa com numerosas linhas de crescimento concntricas e radiais bem visveis. Apresenta uma colorao que pode ir do creme ligeiramente esverdeado a um castanho mais forte, variando provavelmente com a cor do meio envolvente. O interior da concha branco levemente rosado. O tamanho mximo de referncia de 10 mm (Silva e Batista, 2008).
Tabela 1.2 - Hierarquia taxonmica da ameijola. Adaptado de ITIS, 2012 (http://www.itis.gov/).
Reino Filo Classe Subclasse Ordem Superfamlia Famlia Gnero Espcie
Animalia Mollusca Bivalvia Heterodonta Veneroida Veneroidea Veneridae Callista Callista chione
A ameijola pode atingir os 17 anos de idade e efetua posturas unicamente a partir do 2 ano de idade, no entanto pode faz-lo durante o ano desde que presentes condies favorveis de temperatura e alimento.
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Figura 1.3 - Callista chione. Fonte: BOE, 2007.
Trata-se de uma espcie bentnica que se encontra entre 0 e 100 m em fundos de areia. A sua captura feita com ganchorra rebocada por embarcao.
1.2.2. Crassostrea angulata (Lamarck, 1835) Crassostrea angulata (Lamarck, 1835), de nome comum ostra portuguesa ou portuguese oyster em lngua inglesa, um bivalve da famlia Ostreidae, de concha slida oval, irregular e alongada (Tabela 1.3). A valva inferior apresenta pregas radiais
espaadas e o interior em forma de taa, cncava, enquanto a valva superior mais plana e com estrias de crescimento muito lameladas. A charneira desprovida de dentes. Apresenta cor branco-amarelada ou creme, com raios ou flmulas castanhas ou prpura. O interior branco, com impresses musculares prpuras, em forma de feijo, prximas do bordo posterior. Tem uma dimenso mdia de cerca de 150 mm (BOE, 2007; Silva e Batista, 2008). um organismo unissexual. A fecundao ocorre externamente na gua. Do ovo nasce uma pequena larva cilada que durante 15 a 20 dias faz parte do plncton. No final desta fase de metamorfose vai para o fundo onde inicia a sua vida bentnica e sedentria. O ciclo de reproduo amplo, estendendo-se desde a primavera at ao outono, sendo a sua atividade mxima em junho (Silva e Batista, 2008). Este bivalve adapta-se a todos os tipos de substratos e encontra-se preferencialmente nas zonas intermars. uma espcie prpria de esturios e desembocaduras de rios (Silva e Batista, 2008).
Figura 1.4 - Crassostrea angulata. Fonte: ICNF, 2010.
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Tabela 1.3 - Hierarquia taxonmica da ostra portuguesa. Adaptado de ITIS, 2012 (http://www.itis.gov/).
Reino Filo Classe Subclasse Ordem Famlia Gnero Espcie
Animalia Mollusca Bivalvia Pteriomorphia Ostreoida Ostreidae Crassostrea Crassostrea angulata
Esta espcie nativa da costa portuguesa. A nvel nacional distribui-se para sul da Figueira da Foz at ao Algarve com grande incidncia no esturio do Sado. A maior parte da produo atual obtida em viveiros e comercializada em fresco. Em Portugal, no ltimo ano tm-se registado um aumento da produo na regio do rio Sado, que exportada quase na totalidade (Silva e Batista, 2008).
1.2.3. Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850) Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850), de nome comum amijoa-japonesa ou manila clam ou japanese carpet shell em lngua inglesa, um molusco bivalve da famlia Veneridae, de concha slida, equivalve, ovoide e quadrangular, apresentando a margem posterior quase reta (Tabela 1.4). Possui valvas simtricas, com costelas serradas concntricas e radiais, mas com o padro reticulado menos apertado e mais marcado do que em Ruditapes decussatus, a espcie congnere nativa de Portugal. A charneira tem trs dentes cardinais em cada valva, mas no tem dentes laterais. O seio paleal profundo e arredondado, sem chegar ao centro da valva. O bordo das valvas liso. A cor da concha muito varivel, mas geralmente acastanhada, decorada com desenhos diversos, apresentando frequentemente grandes manchas ou bandas escuras concntricas ou irregulares. O interior esbranquiado; ocasionalmente de cor prpura na regio prxima ao umbo. Pode atingir at 80 mm de comprimento (FAO, 2005; BOE, 2007). Esta espcie vive enterrada a cerca de 40 mm da superfcie, em sedimentos arenosos e vasosos das zonas intertidais e subtidais. um organismo eurialino que ocorre na regio inferior dos esturios (Silva e Batista, 2008).
Figura 1.5 - Ruditapes philippinarum. Fonte: BOE, 2007.
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
O perodo de reproduo varia de acordo com a rea geogrfica, mas observa-se normalmente um perodo de repouso sexual desde finais do outono at ao incio do inverno. A gametognese no meio natural dura de dois a cinco meses, seguidos da reproduo. Pode haver um segundo pico de desova dois a trs meses mais tarde. A temperatura e a disponibilidade alimentar so dois parmetros que afetam a gametognese, que ocorre mais rapidamente com o aumento da temperatura (FAO, 2005).
Tabela 1.4 - Hierarquia taxonmica da amijoa japonesa. Adaptado de ITIS, 2012 (http://www.itis.gov/).
Reino Filo Classe Subclasse Ordem Superfamlia Famlia Gnero Espcie
Animalia Mollusca Bivalvia Heterodonta Veneroida Veneroidea Veneridae Venerupis Venerupis phillipinarum; Tapes phillipinarum; Tapes japnica; Venerupis semidecussata; Venerupis japnica; Ruditapes phillipinarum
1.2.4. Scrobicularia plana (Linnaeus, 1758) Scrobicularia plana (Linnaeus, 1758), de nome comum lambujinha ou lamejinha ou ainda peppery furrow em lngua inglesa, da famlia Scrobicularidae (Tabela 1.5). Tem uma concha quebradia, oval e quase equiltera. As valvas so semelhantes, com linhas concntricas finas e estrias de crescimento irregulares, charneira com dois dentes na valva esquerda e um na direita. A cor exterior cinzenta-amarela plida e no interior, branca. Apresenta uma dimenso mdia de 40 mm, mas pode atingir os 70 mm (FAO, 2005; BOE, 2007; Silva e Batista, 2008).
Tabela 1.5 - Hierarquia taxonmica da lambujinha. Adaptado de ITIS, 2012 (http://www.itis.gov/).
Reino Filo Classe Subclasse Ordem Superfamlia Famlia Gnero Espcie
Animalia Mollusca Bivalvia Heterodonta Veneroida Tellinoidea Semelidae Scrobicularia Scrobicularia plana
10
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Espcie bissexuada com poca de reproduo no vero. As larvas nadam livremente (velgeras) e sofrem metamorfoses at adultos. Entre a fase de plncton e o estado adulto decorrem 2-3 semanas. Esta espcie encontra-se enterrada no lodo, areia ou substratos arenovasosos da zona das mars e infralitorais; frequente em guas de salinidade baixa e com detritos orgnicos dos esturios. A lambujinha um bivalve comum no litoral portugus em particular na Ria de Aveiro e rio Tejo. E a sua captura realizada com ganchorra de mo ou rebocada ou ainda com faca de mariscar (BOE, 2007; Silva e Batista, 2008).
Figura 1.6 - Scrobicularia plana. Fonte: BOE, 2007.
1.3. Valor nutricional e importncia dos bivalves na alimentao
Na histria da humanidade, os produtos da pesca tm sido considerados como tendo atributos especiais para a sade, especialmente em vrias populaes tnicas. Recentemente, a pesquisa cientfica confirmou certas reivindicaes e controvrsias em relao a estas propriedades. O peixe e o marisco so uma parte importante de uma dieta saudvel. Peixes e frutos do mar contm protenas de alta qualidade, so pobres em gordura saturada e contm dois cidos gordos mega-3, o cido eicosapentoico (EPA) e cido docosahexanico (DHA) (Hui, et al., 2006). Os bivalves em particular, apresentam um elevado teor de cidos gordos polinsaturados e a relao entre os PUFAs do tipo mega-3 e do tipo mega-6 adequada a uma alimentao saudvel (Fauconneau, 2001; Hui et al., 2006; Silva e Batista, 2008). Desta forma, geralmente recomendado o consumo de, pelo menos, uma refeio, por semana, que inclua produtos derivados da pesca (Fauconneau, 2001; Hui et al., 2006). Os bivalves tm ainda uma grande importncia na dieta humana por serem fonte de nutrientes essenciais (Fauconneau, 2001; FAO, 2012). O consumo de moluscos bivalves fornece uma fonte de protena de elevada qualidade biolgica, que podem ser interessantes para algumas populaes (jovens e idosos), que exigem uma fonte de equilbrio de aminocidos essenciais. Os produtos aquticos so frequentemente a nica fonte de protena animal nos pases em desenvolvimento. Os bivalves so tambm uma fonte de vitaminas (A e D) e minerais essenciais (Fauconneau, 2001; Hui, et al., 2006; Fuentes et al., 2009).
11
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Apesar de apresentarem um baixo teor de gordura, na maioria das espcies capturadas em Portugal situa-se entre 1 e 2%, o perfil de cidos gordos dos bivalves bastante interessante do ponto de vista nutricional (Fauconneau, 2001; Hui, et al., 2006; Silva e Batista, 2008). Os nveis de cidos gordos polinsaturados so superiores aos saturados e, por outro lado, a relao entre o tipo mega-3 e o tipo mega-6 muito adequada a uma alimentao saudvel (Silva e Batista, 2008). De acordo com o teor de gordura, os produtos da pesca so classificados em trs categorias, magro, no caso de o teor ser inferior a 2%, meio-gordo, no caso do teor de gordura se encontrar entre 2 e 5%, e gordo, se o teor de gordura for superior a 5%. Os bivalves, em particular, so classificados como produtos da pesca magros (Nunes et al., 2008). Relativamente aos carboidratos, estes so constitudos na maior parte por glicognio, verificando-se no entanto variaes acentuadas ao longo do ano, relacionadas com o ciclo reprodutivo dos bivalves, registando-se o valor mnimo aps a postura (Hui et al., 2006; Silva e Batista, 2008). Os macro e microminerais constituintes so componentes muito importantes na dieta alimentar e a carncia de um deles pode causar graves problemas de sade, com maior impacto na fase de desenvolvimento e crescimento (Fvaro et al., 2001; Hui et al., 2006). Os minerais como o ferro, o zinco e o magnsio, apresentam um papel muito importante nos sistemas biolgicos, enquanto o mercrio, o cdmio e o chumbo so txicos mesmo em quantidades vestigiais (Nielson 2000; Tkerman et al., 2009). Nos bivalves o teor de substncias minerais pode ser influenciada pela presena de pequenas partculas de areia, contudo, de forma genrica, apresenta uma variao entre 0,8 e 3,0% (Silva e Batista, 2008). Os principais constituintes so a gua e a protena, tal como se verifica na Tabela 1.6.
Tabela 1.6 - Valores mdios da composio qumica aproximada (g.100g energtico (kcal.100g de parte edvel) de amijoas, mexilhes e ostras. Produto (100g) gua (g) 81,8 Amijoas 81,1 79, 80,6 Mexilhes 82,5 80,6 Ostras 82,1 83,0 Protena (g) 12,8 11,7 14.7 11,9 12,1 11,9 9,4 8,6 Gordura (g) 1,0 0,9 1,0 2,2 1,5 2,2 2,3 1,7 Minerais (g) 1,9 1,0 -1,6 2,1 -1,2 0,9 Carboidratos (g) 2,6 2,9 3,6 3,7 2,0 3,7 4,9 3,9
-1
-1
de parte edvel) e do valor
Energia (kcal/kJ) 74/310 66/275 86 86/360 69/290 86 81/339 64/269
Fonte
Silva e Batista, 2008 INSA, 2007 USDA Silva e Batista, 2008 INSA, 2007 USDA Silva e Batista, 2008 INSA, 2007
12
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Tal como para os produtos da pesca, a composio e qualidade dos moluscos bivalves pode ser influenciada por diversos fatores (Haard, 1992; Paterson et al., 1997). Assim sendo, a composio bioqumica varia consideravelmente de espcie para espcie, e mesmo entre indivduos da mesma espcie devido a fatores genticos, fisiolgicos, grau de maturao sexual, idade, sexo, zona geogrfica, poca do ano, dieta e disponibilidade alimentar, ambientais (temperatura da gua, salinidade, oxignio dissolvido), sistema de cultivo, manuseamento e condies de conservao (Haard, 1992; Paterson et al., 1997; Nunes et al., 2008).
1.4. Metais contaminantes
Desde sempre, a vida no planeta dependeu de trs importantssimos fatores: gua, alimento e energia. Com base neles, e conjugados com uma necessidade de conquista de conhecimento e de um territrio, a Humanidade cresceu exercendo uma influncia fsica em larga escala nos delicados equilbrios dos ecossistemas. Desta forma, diversos fenmenos antropognicos so responsveis pelo processo de degradao dos ecossistemas aquticos, sobretudo nas zonas costeiras mais vulnerveis e mais expostas a essa ao negligente. A verdade que a contaminao dos sistemas hdricos hoje uma realidade insofismvel de elevada gravidade (Vasconcelos, 2002). Os metais pesados constituem um importante grupo de contaminantes ambientais que tm vindo a adquirir uma gravidade crescente. Os metais encontram-se distribudos naturalmente no ambiente, inseridos nos respetivos ciclos geolgicos e biolgicos. Contudo, a atividade humana pode ter uma importante influncia na medida em que altera a sua forma de distribuio e disponibilidade. Desta forma, a contaminao do ambiente por substncias orgnicas e inorgnicas, em especial aquelas derivadas das atividades antropognicas, tem sido um assunto de estudo e preocupao por parte de investigadores, gestores e polticos (Mikac et al., 1996; Goyer e Clarkson, 2001; Vasconcelos, 2002; Usero et al., 2005; Silva e Batista, 2008). Estes contaminantes possuem a capacidade de entrar nas cadeias alimentares marinhas e ser acumulados e, nalguns casos, bioamplificados, aumentando, assim, a sua concentrao, de nvel trfico para nvel trfico. Deste modo, a concentrao que estes poluentes podem atingir nos tecidos das espcies que se encontram no topo das cadeias trficas, nomeadamente o Homem, so suficientemente elevados, comprometendo os benefcios decorrentes da sua ingesto e exceder os limites de toxicidade, desencadeando distrbios que podem ser nefastos (Vasconcelos, 2002). Os metais, como por exemplo o cdmio, chumbo e mercrio, diferem de outros compostos txicos por no serem sintetizados ou destrudos pelo organismo humano, so, por isso, considerados no essenciais uma vez que no se conhece at hoje nenhuma funo metablica, (Ruiter, 1995; Fauconneau, 2001;Goyer e Clarkson, 2001; Silva e Batista, 2008; Veiga et al., 2009).
13
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
As fontes antropognicas de maior impacto destes contaminantes so a agricultura, a indstria, os sub-produtos de atividades humanas e industriais entre outras como efluentes municipais e industriais (Ruiter, 1995; Fauconneau, 2001). No caso particular dos efluentes, estes encontram-se concentrados dado que a eficincia de remoo de metais pesados varia, por exemplo, de alguns pontos percentuais para o estrncio at 99% para a prata. Para a maior parte dos metais pesados, a eficincia de remoo durante o tratamento de efluentes no muito elevada ocorrendo uma libertao regular na gua. Consequentemente os organismos marinhos encontram-se mais suscetveis contaminao por metais pesados do que outros produtos alimentares (Fauconneau, 2001). Relativamente aos bivalves, a maioria destes organismos recorre filtrao para obter os nutrientes e o oxignio necessrios, utilizando os clios para criar uma corrente de gua a partir do qual as partculas em suspenso so retidas. Esta capacidade para filtrar grandes quantidades de gua, juntamente com o fato de serem organismos sedentrios e se localizarem em zonas lagunares, estuarinas e costeiras, frequentemente prximas de centros urbanos, assegura a sua oportunidade de exposio e acumulao de uma vasta gama de poluentes potencialmente txicos (Pipe e Coles, 1995; Silva e Batista, 2008). Os bivalves assim conhecidos pela sua capacidade de acumular metais pesados, bem como outras substncias nos seus tecidos, sendo, subsequentemente transferidos para o organismo humano atravs da cadeia alimentar, so largamente utilizados em ambientes marinhos como bioindicadores para a monitorizao da poluio por metais pesados e qumicos em guas costeiras (Ruiter, 1995; Gksu et al., 2005; Bigas et al., 2006; Maanan 2007; Gkolu et al., 2008; Pan e Wang, 2011). No entanto, tal como a composio e qualidade dos produtos de pesca, tambm a acumulao de substncias nocivas depende de fatores endgenos da espcie, como o estado fisiolgico, teor em gordura, capacidade de adaptao e as caractersticas do bitipo nomeadamente da gua, zona geogrfica de distribuio, dos seus organismos e da poluio (Silva e Batista, 2008). Dos metais txicos que apresentam maior perigo para a sade humana destacam-se o chumbo, cdmio e mercrio. A toxicidade destes elementos envolve uma relao causa-efeito que est relacionada com um srie de fatores, nomeadamente dose a que o indivduo est exposto (Ruiter, 1995; Fauconneau, 2001; Silva e Batista, 2008). Em resumo, a qualidade para consumo dos moluscos bivalves est intimamente ligada qualidade do ambiente onde estes se encontram. Em funo da atual degradao ambiental, provocada pelo crescimento populacional, pelo aumento na descarga de efluentes, bem como, pela ausncia de programas de monitorizao da qualidade da gua destinada ao cultivo destes organismos e considerando que a alimentao uma das principais fontes de exposio, tornouse imperativo o estabelecimento de normativos legais, estipulando os seus nveis mximos permitidos nos produtos da pesca (Silva e Batista, 2008).
14
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
1.4.1. Mercrio O mercrio elementar um metal pesado lquido em condies de presso e temperatura normais. A presso de vapor do mercrio depende da temperatura, no entanto este evapora facilmente em condies ambientais. Assim sendo, a maior parte do mercrio encontrado na atmosfera vapor de mercrio elementar, difuso no ar e no encontrado na natureza na forma de lquido puro (EPA, 1997). A contaminao do ambiente aqutico por mercrio tanto direta nas guas de superfcie (natural e industrial) como indiretas, proveniente da poluio atmosfrica global do Hemisfrio Norte (Fauconneau, 2001; Sciama 2001). Este elemento est associado produo de cloro e soda custica, em equipamentos eltricos, aparelhos de controlo, tinta, fungicidas, amlgamas dentrias, lmpadas, leos lubrificantes e catalisadores. O mercrio pode existir em trs estados de oxidao: Hg (metlico), Hg2 Hg
+2 0 2+
(mercuroso), e
(mercrico-Hg). As propriedades e o comportamento qumico do mercrio dependem
fortemente do seu estado de oxidao. No caso de no haver oxidao, o mercrio ocorre na sua forma metlica ou na forma de vapor. Nos seguintes estados de oxidao, em que o tomo perde um e dois eletres, o mercrio pode formar inmeras ligaes com outros compostos. No entanto, raramente o mercrio mercuroso estvel sob condies normais ambientais (EPA, 1997; Goyer e Clarkson, 2001). A maior parte do mercrio presente na gua, no solo, sedimentos e na biota (todos os meios ambientes, exceo da atmosfera) encontra-se na forma de sais inorgnicos de mercrio e compostos orgnicos de mercrio. Estes ltimos so definidos pela presena de uma ligao C-Hg covalente. Os compostos orgnicos de mercrio podem apresentar-se sobre a forma de metilmercrio, dimetilmercrio, etilmercrio, fenilmercrio e metoxietilmercrio. Dos compostos orgnicos, o metilmercrio o composto mais importante considerando a exposio humana (Goyer e Clarkson, 2001). O mercrio elementar ou inorgnico especificamente transformado por bactrias aquticas anaerbias em metilmercrio que um composto altamente txico (Fauconneau, 2001; Sciama 2001). Na gua, o metilmercrio representa 1 a 10% do mercrio total e regularmente complexado no ambiente. Devido sua natureza lipoflica que facilita a sua penetrao nas clulas, e sua afinidade com grupos tiol de certas protenas, o metilmercrio acumula-se nos organismos devido baixa taxa de excreo. Uma vez produzido, o metilmercrio entra na cadeia alimentar aqutica, envolvendo o plncton, peixes herbvoros e, finalmente, peixes carnvoros (Ruiter, 1995; Claisse et al., 2001; Goyer e Clarkson, 2001). Desta forma, o metilmercrio o principal responsvel pela acumulao de mercrio nos organismos (bioacumulao) e pela transferncia do elemento para os seguintes nveis trficos da cadeia (bioamplificao) (Ruiter, 1995; Claisse et al., 2001).
15
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Figura 1.7 - Ciclo biogeoqumico do mercrio no ambiente (adaptado de EPA, 1997).
A toxicologia e o comportamento ambiental do mercrio so bastantes complexos, uma vez que a sua toxicidade, mobilidade e bioacumulao dependem da sua forma qumica. Ou seja, o mercrio o metal que apresenta maior diversidade de efeitos consequente das diversas espcies qumicas que pode formar. A Figura 1.7 mostra as principais vias do ciclo biogeoqumico do mercrio. A exposio prolongada ao metilmercrio tem efeitos neurotxicos e teratognicos, mutagnicos e cancergenos. As manifestaes do seu efeito neurotxico incluem parestesia, dormncia e sensao de formigueiro na boca, lbios e extremidades, particularmente nos dedos dos ps e das mos, ataxia, descoordenao, dificuldade em engolir e em articular palavras, nervosismo, sensao generalizada de fraqueza e fadiga e dificuldade de concentrao, perda de viso e audio, espasmos e tremores. As complicaes incluem edema pulmonar, dispneia, cianose, enfisema e finalmente coma e morte (Goyer e Clarkson, 2001; Fauconneau, 2001; Sciama 2001).
1.4.2. Cdmio Apesar de ser um constituinte da crosta terrestre, a principal fonte de poluio por cdmio industrial. Trata-se de uma substncia com elevada aplicao industrial. Uma vez que no possui caractersticas corrosivas, frequentemente utilizado como um revestimento de outros metais (galvanoplastia), contudo tambm utilizado no fabrico de pilhas e semicondutores, na produo de pigmentos de tintas e plsticos, esmaltes, corantes txteis, lasers, fertilizantes, fotografia e pirotecnia (Belitz, 2004; Klein, 2005).
16
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Genericamente o cdmio encontra-se em nveis baixos, quer no ambiente, quer nos alimentos e geralmente a alimentao a principal fonte de contaminao. Nesta medida, os moluscos bivalves so a maior fonte alimentar de cdmio, uma vez que o cdmio se liga a uma protena (metalotionina) e consequentemente acumula-se nestes organismos (Goyer e Clarkson, 2001; Silva e Batista, 2008). Desta forma, o teor deste contaminante aumenta ao longo do tempo, levando a um fenmeno de bioacumulao, uma vez que a taxa de ingesto geralmente superior de eliminao por excreo (Silva e Batista, 2008). O cdmio, quando presente em baixo teor tolerado no organismo, contudo, este metal tem uma meia-vida longa no corpo (Klein, 2005; Silva e Batista, 2008). A absoro ao nvel gastrointestinal de 5 a 8% e pode aumentar com a carncia de clcio ou ferro ou com dietas baixas em protena (Goyer e Clarkson, 2001). A elevada exposio ao cdmio resulta numa acumulao deste no organismo e origina danos em alguns rgos, nomeadamente no fgado e nos rins, uma vez que aproximadamente 50 a 75% da acumulao de cdmio no corpo ocorre nestes rgos (Goyer e Clarkson, 2001; Klein, 2005; Silva e Batista, 2008). As manifestaes txicas da ingesto de cdmio, nomeadamente consequentes de toxicidade crnica, incluem doenas de obstruo pulmonar e enfisema e doenas crnicas do sistema renal, alm dos efeitos nefrotxicos, verifica-se ainda ocorrncia de osteoporose e dor ssea, formao de clculos no sistema sseo, dor abdominal, vmitos e diarreia, enfisema pulmonar e anemia, bem como outros danos nos sistemas nervoso, imunolgico, heptico e sexual (Goyer e Clarkson, 2001; Klein, 2005). Os efeitos nefrotxicos resultam em disfunes renais como a glicosria e a proteinria. No entanto, pode ainda ocorrer acumulao de cdmio nos rins sem que se verifiquem efeitos nefastos uma vez que este pode ligar-se a uma protena, formando uma metalotionina sem que exera caractersticas txicas, exceo de se verificar uma sobreposio da concentrao crtica de cdmio no organismo (Goyer e Clarkson, 2001; Klein, 2005). A toxicidade deste metal irreversvel dado que no existe, at data, nenhum tratamento aplicvel clinicamente em humanos para a remoo do cdmio do organismo (Goyer e Clarkson, 2001; Silva e Batista, 2008).
1.4.3. Chumbo O chumbo um contaminante ambiental ubquo e txico para a maioria dos seres vivos expostos a elevadas concentraes. As principais vias de emisso e exposio incluem as emisses de combustveis de escape dos automveis, indstrias de extrao petrolfera, tintas e corantes, baterias, cabos e tubulaes (Klein, 2005). Uma vez contaminadas, as culturas, o chumbo conservado por elas, especialmente vegetais de folhas verdes, so concentrados e passados atravs da cadeia alimentar aos peixes, aves e aos seres humanos. Alm disso, o chumbo constituinte dos canos de
17
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
gua soldados podem contaminar a gua da torneira usada para beber ou para a produo de alimentos (Klein, 2005). Os bivalves em particular, absorvem chumbo a partir da gua contaminada, especialmente em esturios contaminados com guas residuais urbanas e industriais. O chumbo, tal como ocorre no cdmio, encontra-se geralmente em maiores concentraes nos moluscos do que nos peixes (Ruiter, 1995). A sua absoro depende do estado do fsico e qumico do metal, bem como da idade e estado fisiolgico e nutricional do organismo. Tal como se verifica no cdmio, indivduos com certas deficincias de macronutrientes e micronutrientes so propensos a uma maior taxa de absoro de chumbo. Isto , a depleo de ferro, zinco e clcio pode promover a absoro de chumbo atravs do trato gastrointestinal (Goyer e Clarkson, 2001; Klein, 2005). Por sua vez, os adultos podem normalmente absorver cerca de 15% do total de chumbo ingerido, enquanto as mulheres grvidas e crianas podem absorver at 3,5 vezes esse valor. A explicao para esta diferena no clara (Klein, 2005). Talvez devido sua maior absoro, as crianas parecem ser mais suscetveis aos efeitos txicos do chumbo. Os efeitos da entrada de chumbo na circulao dependem da sua concentrao. Os rgos considerados crticos, considerando a toxicidade do chumbo, so os rgos constituintes do sistema nervoso, a medula ssea e os rins (Klein, 2005). Os sintomas de encefalopatias derivadas da exposio a este elemento incluem letargia, vmitos, fadiga, dor de cabea, irritabilidade, perda de apetite, disfuno cognitiva e tonturas que evoluem para ataxia e perda de conscincia e, em situao extrema, coma e morte (Goyer e Clarkson, 2001; Klein, 2005). Verificam-se tambm efeitos hematolgicos, como a anemia, nefropatias, imunotoxicidade, carcinogenicidade, entre outros. Destacam-se as dores musculares, proteinria, aminoacidria, clicas, constipao intestinal ou diarreia, arteriosclerose precoce com alteraes
cerebrovasculares e hipertenso, entre outros (Goyer e Clarkson, 2001; Klein, 2005).
1.5. Locais de estudo
1.5.1. Esturio do Tejo e Baa de Cascais O esturio do Tejo um dos maiores esturios da Europa ocupando uma superfcie aproximada de 320 km (Freire et al., 2006). Tem o seu limite a montante perto de Muge, no termo da propagao normal da mar e a jusante, de um modo menos definido, no limite da pluma de gua salobra na zona costeira adjacente (R, 1984; Freire et al., 2006). A superfcie do esturio de cerca de 325 km e o seu comprimento de exatamente 50 km, medidos ao longo do eixo central. A rea intertidal atinge, em mdia, aproximadamente 130 km , ou seja cerca de 41% da rea total considerada (R, 1984).
2 2 2
18
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
O esturio apresenta uma morfologia particular, caracterizada por uma regio interior extensa e pouco profunda, inferior ou igual a cinco metros (R, 1984). As maiores profundidades ocorrem nos troos que estabelecem a comunicao com o rio e com o mar, respetivamente a montante e a jusante. A profundidade mxima do esturio de cerca de 32 metros, sendo a profundidade mdia de 10,6 metros (R, 1984; Freire et al., 2006). O esturio interno caracterizado por formas de acumulao longitudinais, cortadas por canais de mar, e extensas zonas de espraiados, principalmente junto margem esquerda, possibilitando o desenvolvimento de importantes reas de sapal (Freire et al., 2006). A jusante de Alcochete, a margem esquerda caracterizada pela presena de enseadas (Montijo, Barreiro e Seixal), formadas em zonas terminais de afluentes, com importante sedimentao vasosa. Outro aspeto importante nesta regio do esturio a presena de praias e restingas de areia ao longo da margem esquerda, entre Alcochete e Alfeite (Freire et al., 2006). O esturio do Tejo um sistema mesotidal sujeito a uma mar com perodo semi-diurno, com uma ligeira diferena entre os tempos de vazante e de enchente, sendo os de enchente mais longos (R, 1984). A amplitude mdia no Terreiro do Pao de 3,2 metros em mar viva e 1,5 metros em mar morta, aumentando para montante, sendo 3,6 metros e 1,6 metros em Alcochete, respetivamente, em guas vivas e guas mortas (Freire et al., 2006). A amplitude trmica anual superior nas estaes a montante relativamente s estaes a jusante (R, 1985).
Cascais
Figura 1.8 - Representao da localizao do esturio do Tejo (adaptado de Google Earth ).
TM
19
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
A componente fluvial do sistema estuarino deve-se quase exclusivamente contribuio do rio Tejo. Os valores de caudal variam entre 30 m .s
3 -1
no estio e 18 000 m .s
-1
em cheias
excecionais (Freire et al., 2006). No que diz respeito circulao das guas no esturio, o sentido da corrente nitidamente longitudinal, com ligeiras inflexes comandadas pelas linhas de maiores fundos situadas sensivelmente no eixo do canal de sada e na regio de montante. No canal de sada regista-se, quer na enchente, quer na vazante, um desvio gradual da corrente para Sul (R, 1984). A Baa de Cascais localiza-se a cerca de 40 km a oeste de Lisboa (este do Atlntico Norte), a sul da maior descontinuidade costeira, o Promontrio da Estremadura. A hidrografia desta baa influenciada pela morfologia costeira, a topografia dos fundos e pela descarga de gua doce proveniente do rio Tejo (Ribeiro e Amorim, 2008). A baa de Cascais representa uma importante descontinuidade na orientao Norte-Sul da linha costeira e considerada como uma zona de sombra de afloramento (Graham e Largier, 1997). Mais de 2,5 milhes de pessoas vivem na rea de Lisboa, e ainda so drenados para o rio efluentes tratados parcialmente, contribuindo em grande parte para a quantidade de material dissolvido e particulado que atinge a zona costeira (Ribeiro e Amorim, 2008).
1.5.2. Esturio do Sado O esturio do Sado o segundo maior esturio de Portugal, com uma rea de aproximadamente 24.000 ha (Figura 1.9). Encontra-se localizado na costa oeste de Portugal (Caeiro et al., 2005; Garcs e Costa, 2009). A maior parte do esturio classificada como uma reserva natural, segundo o Decreto-Lei n. 430/80, excetuando a cidade de Setbal, o seu porto e periferia. A nvel internacional o esturio encontra-se protegido pela Conveno de Ramsar, devido ao seu elevado valor ecolgico e grande diversidade de espcies animais e vegetais (Caeiro et al., 2005; Garcs e Costa, 2009). No entanto, o esturio desempenha ainda um papel importante na economia local e nacional, uma vez que alberga muitas indstrias, principalmente na margem norte do esturio. O esturio do Sado um bom exemplo de onde a presso humana e os valores naturais competem uns com os outros. As indstrias mais poluentes so aquelas que envolvem papel e celulose, pesticidas, fertilizantes, fermento, alimentos e estaleiros. Alm disso, as atividades associadas ao porto e cidade de Setbal, bem como as minas de cobre sobre a bacia hidrogrfica do Sado, utilizam o esturio para fins de eliminao de resduos (Caeiro et al., 2005). Em outras reas ao redor do esturio, a agricultura intensiva, principalmente de arroz, representa o principal uso do solo, juntamente com salinas tradicionais e as intensas atividades de explorao de recursos pisccolas (Caeiro et al., 2005; Garcs e Costa, 2009). O esturio do Sado caracterizado por um canal a norte, com tenso de cisalhamento e correntes residuais fracas.
20
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Isto aumenta a acumulao de sedimentos permitindo que os poluentes introduzidos localmente se depositem e fixem em vez de serem transportados para fora.
Figura 1.9 - Representao da localizao do esturio do Sado (adaptado de Google Earth
TM
).
O canal a sul, separado do canal do Norte por bancos de areia, altamente dinmico, com as mars como principal causa de circulao de gua. Caractersticas geomorfolgicas distinguem o esturio interior, que corresponde a um canal estreito (Canal de Alccer), do esturio exterior. A parte interna do esturio exterior, ou seja, a entrada de guas de Moura e Canal de Alccer, bastante rasa e o mar liso (Caeiro, 2005).
21
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
22
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
2. Materiais e mtodos
2.1. Amostragem / Matria-prima
Para a realizao deste trabalho foram utilizadas 49 amostras de bivalves provenientes de diferentes locais da costa portuguesa, nomeadamente do esturio do Sado, do esturio do Tejo e da marina de Cascais. A amostragem constituda por amijoa japonesa (AJT) e mexilho (MT) do esturio do Tejo, mexilho da marina de Cascais (MC) e amijoa japonesa (AJS), lambujinha (LS) e ostra portuguesa (OPS) recolhidos no esturio do Sado no perodo que decorreu entre maro e julho de 2012 e ameijola (AS) do esturio do Sado foi colhida entre setembro de 2011 e julho de 2012. Os animais vivos foram colhidos, acondicionados e transportados para o laboratrio em transporte refrigerado. Aps chegada ao laboratrio, os exemplares foram identificados (nmero e data) e procedeu-se preparao das amostras para anlise. A composio de cada uma das 49 amostras era constituda entre 15 a 30 indivduos de cada espcie. A preparao das amostras consistiu na remoo da parte edvel (todos os tecidos moles) dos indivduos e na homogeneizao, atravs da utilizao de um moinho Grindomix (GM 200). As anlises qumicas foram efetuadas em polpas homogneas da parte edvel dos moluscos. As tomas de amostra para as diferentes determinaes foram pesadas numa balana com resoluo de 0,1 mg.
2.2. Determinaes analticas
2.2.1.Composio qumica aproximada
2.2.1.1.
Humidade
c
O teor de humidade foi determinado com base no mtodo descrito na NP 2282 (IPQ, 2009 ) e no procedimento tcnico em uso na U-VPPA do IPMA, I. P. O processo de determinao do teor de humidade consiste na disperso da amostra e secagem temperatura de 105 2C e arrefecimento at peso constante.
23
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Aparelhos e utenslios Material de uso corrente no laboratrio Balana analtica de preciso (Mettler Toledo, AG 204) Cpsulas Estufa de secagem, regulvel a 105 2C (Memmert, ULE 500) Exsicador
Tcnica / Processo analtico Pesou-se cerca de 10 g da amostra homogeneizada, com rigor de 0,001 g, para uma cpsula previamente tarada e colocou-se na estufa a 105 2C a secar durante 1 noite. No dia seguinte, a cpsula foi transferida para um exsicador, onde arrefeceu durante pelo menos 30 minutos, e procedeu-se pesagem. O contedo em gua do produto, expresso em grama por 100 g de amostra dado pela expresso: ( Sendo: : a massa, em gramas, da cpsula; : a massa, em gramas da toma para anlise; : a massa, em gramas, do conjunto cpsula e toma para anlise aps secagem. )
Os resultados so calculados com base na determinao de pelo menos duas rplicas para a mesma amostra e so arredondados s dcimas.
2.2.1.2.
Protena
O teor de protena bruta foi determinado de acordo com o mtodo de Dumas (Kirsten e Hesselius, 1983) e com o procedimento tcnico em usos na U-VPPA do IPMA, I. P. num aparelho de anlise de azoto. O mtodo consiste na combusto da amostra na presena de O 2 num tubo de combusto e, consequentemente libertao de CO2, H2O e N2. Enquanto o dixido de carbono e a gua so removidos por absoro em colunas, o teor de azoto medido por uma clula de condutividade trmica para o azoto.
24
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Reagentes e solues EDTA (LECO)
Aparelhos e utenslios Material de uso corrente no laboratrio Balana analtica de preciso (Mettler Toledo, AG 204) Folhas ou cpsulas de estanho Aparelho de anlise de azoto (Leco FP 528) Pesou-se cerca de 0,3 g da amostra homogeneizada para uma folha de estanho previamente tarada e colocou-se no auto-analisador do aparelho previamente programado. Efetuou-se a leitura de acordo com as instrues do aparelho. Os resultados so calculados com base na determinao de pelo menos duas rplicas para a mesma amostra.
2.2.1.3.
Gordura livre
O teor de gordura livre foi determinado baseado no mtodo descrito na NP 1972 (IPQ, 2009) e no procedimento tcnico em uso na U-VPPA do IPMA, I. P. Para o clculo do teor de matria gorda livre recorreu-se extrao da matria gorda com ter etlico e, posteriormente, eliminao por recuperao do solvente no extrator, secagem e pesagem do balo.
Reagentes e solues Sulfato de sdio anidro 99,8% (m/m) (Panreac) ter etlico (Jos M. Vaz Pereira)
Aparelhos e utenslios Material de uso corrente no laboratrio Balana analtica de preciso (Mettler Toledo, AG 204) Papel de filtro, isento de gordura Cartucho de extrao em papel de filtro isento de gordura Aparelho de extrao constitudo por bateria de aquecimento (SBS, PC 6L), bales de fundo plano (250 ml) e extratores de Soxhlet
25
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Estufa regulvel a 103 2C (Memmert, ULE 500) Exsicador
Tcnica / Processo analtico Pesou-se cerca de 10 g de amostra homogeneizada, com o rigor de 0,001 g. Adicionou-se uma quantidade equivalente de sulfato de sdio anidro toma para anlise e transferiu-se quantitativamente para o
cartucho de extrao, arrastando todos os vestgios da toma com papel de filtro humedecido em solvente de extrao, que se introduziu tambm no cartucho. Fechou-se o cartucho com papel de filtro isento de Figura 2.1 - Unidades de extrao de gordura formadas por gordura e colocou-se no extrator. Num balo destilador, extrator, balo e bateria de placas de
aquecimento (SBS PC 6L).
previamente seco em estufa, durante uma hora, e arrefecido em exsicador e tarado, colocou-se 80 ml de solvente, bem como no extrator, uma quantidade de solvente suficiente para cobrir o cartucho. Colocou-se o balo com o extrator no aparelho de extrao durante sete horas (Figura 2.1). Aps extrao, retirou-se o balo e procedeu-se recuperao do solvente no extrator. Em seguida, secou-se o balo com o extrato em estufa durante 1 hora e, aps arrefecimento no exsicador, pesou-se o balo. As operaes de aquecimento, arrefecimento e pesagem foram repetidas at que duas pesagens no diferissem entre si em mais do que 0,1% da massa da toma do ensaio. A matria gorda livre, expressa em gramas por 100 g de amostra dada por: ( Sendo: : a massa, em gramas, da toma para ensaio; : a massa, em gramas do balo de extrao; : a massa, em gramas, do balo de extrao com o extrato aps secagem. )
Os resultados so calculados com base na determinao de pelo menos duas rplicas para a mesma amostra e so arredondadas s dcimas.
26
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
2.2.1.4. Cinza total
b
O teor de cinza total foi determinado baseado no mtodo descrito na NP 2032 (IPQ, 2009 ) e no procedimento tcnico em uso na U-VPPA do IPMA, I. P. O mtodo consiste na secagem da amostra, incinerao a uma temperatura de 500 25C e determinao da massa do resduo. Aparelhos e utenslios Material de uso corrente no laboratrio Balana analtica de preciso (Mettler Toledo, AG 204) Cpsulas de porcelana Estufa de secagem, regulvel a 103 2C (Memmert, ULE 500) Placa de aquecimento (Schott SLK2) Mufla, regulvel a 500 25C (Heraeus, tipo MR 170 E) Exsicador
Tcnica / Processo analtico Pesou-se cerca de 5 g de amostra homogeneizada, com rigor de 0,001 g, para uma cpsula previamente tarada. Colocou-se a cpsula na estufa a pelo menos 100C durante uma noite, para secagem da amostra. Posteriormente transferiu-se o cadinho para uma mufla e aumentou-se progressivamente a temperatura at 500 25C. Deixou-se a cpsula na mufla durante uma noite para incinerao. O cadinho foi retirado da mufla, arrefecido em exsicador e pesado. As operaes de incinerao, arrefecimento e pesagem foram repetidas at que duas pesagens no diferissem entre sim mais do 0,001 g. O teor de cinza total, expresso em gramas por 100 g de amostra, dado por: ( ( Sendo: : a massa, em gramas, do cadinho; : a massa, em gramas do cadinho com a toma para anlise; : a massa, em gramas, do cadinho com o resduo. ) )
Os resultados foram calculados com base na determinao de pelo menos duas rplicas para a mesma amostra e foram arredondados s centsimas.
27
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
2.2.1.5. Glicognio
O teor de glicognio foi determinado de acordo com o mtodo descrito por Viles e Silverman (1949) e por Seifter et al. (1950) e com o procedimento tcnico em usos na U-VPPA do IPMA, I. P. num aparelho de anlise de azoto. O glicognio determinado na amostra homogeneizada e liofilizada. Assim sendo, para a determinao do glicognio procedeu-se hidrlise da amostra liofilizada, seguida de precipitao do glicognio. Fez-se reagir o glicognio precipitado em gua e antrona e procedeu-se leitura da absorvncia do complexo glicognio-antrona, num espectrofotmetro, num comprimento de onda de 620 nm.
Reagentes e solues Soluo de hidrxido de potssio a 30% (m/v) (Hidrxido de sdio em pastilhas (Riedel-de Hen) cido sulfrico concentrado 95-97% (m/m) (Fluka) Soluo saturada de sulfato de sdio (sulfato de sdio anidro 99,8% (m/m) (Panreac)) Glicognio tipo II (Sigma) (o padro de glicognio foi preparado com 10 mg de glicognio e perfez-se o volume at 10 ml com gua ultra-pura) Etanol absoluto (Panreac) Antrona (Merck) (o reagente de antrona foi preparado em 45 ml de gua qual se adicionou 114 ml de cido sulfrico concentrado e 0,225 g de antrona)
Aparelhos e utenslios Material de uso corrente no laboratrio Liofilizador (Hetp LL3000) Tubos de vidro com tampa de rosca Agitador vrtex (Snijders) Balana analtica de preciso (Mettler Toledo, AG 204) Centrifugadora refrigerada (Sigma 2K15) Espectrofotmetro de absoro UV/Vis de duplo feixe (UNICAM) Banho termostatizado (Memmert) Agitador magntico (Snijders)
28
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Tcnica / Processo analtico Distribuiu-se uma frao de amostra numa caixa de Petri e congelou-se. Posteriormente colocou-se no liofilizador durante 48 horas a uma temperatura de -45 C e uma presso de aproximadamente 10 atmosferas. Aps liofilizadas, as amostras foram novamente homogeneizadas e procedeu-se sua hidrlise. Hidrolisou-se a amostra liofilizada (25 mg) com 15 ml hidrxido de potssio a 33% durante 15 minutos num banho de gua em ebulio. Aps arrefecimento, recolheu-se 0,250 ml e diluiu-se com 0,250 ml de gua. Adicionou-se 50 l de uma soluo saturada de sulfato de sdio anidro, agitou-se no vrtex, adicionou-se 2 ml de etanol e colocou-se em banho de gelo, durante 30 minutos, para precipitao do glicognio. Aps centrifugao (10 minutos a 3000 rpm), decantou-se o sobrenadante e dissolveu-se novamente o precipitado em 0,5 ml de gua, agitando no vrtex, e adicionou-se 1 ml de etanol. Levou-se novamente centrfuga nas mesmas condies e decantou-se o sobrenadante. Redissolveu-se o precipitado em 0,4 ml de gua, agitando no vrtex. Em seguida, adicionou-se 3 ml de soluo de antrona previamente preparada, agitou-se no vrtex e colocou-se em banho de gua a 90C durante 20 minutos. Aps retirar-se do banho deixou-se arrefecer e fezse a leitura no espectrofotmetro a 620 nm contra o branco.
-1
Curva de calibrao Preparou-se uma curva de calibrao usando a soluo de glicognio como padro com as concentraes indicadas na Tabela 2.1. Aos padres adicionou-se 3 ml de soluo de antrona. Seguidamente, colocou-se em banho de gua a 90C durante 20 minutos e deixou-se arrefecer antes de se fazer a leitura.
Tabela 2.1 - Concentraes dos pontos para a curva de calibrao.
[g/ml] 25 50 100 150 200
Soluo 10 l 20 l 40 l 60 l 80 l
H2O 390 l 380 l 360 l 340 l 320 l
Traou-se a curva de calibrao a partir das leituras obtidas para os padres no espectrofotmetro a 620 nm contra o branco. A concentrao de glicognio (g/ml) foi obtida a partir da equao da curva de calibrao.
29
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
O teor de glicognio em base seca dado por:
Sendo: : a concentrao de glicognio obtido a partir da equao da curva de calibrao; : a massa, em gramas, da toma para ensaio.
O teor de glicognio em base hmida dado por: ( )
Sendo: : o teor de glicognio em base seca; : o teor de humidade da amostra inicial. Os resultados so calculados com base na determinao de pelo menos duas rplicas para a mesma amostra.
2.2.2.Quantificao de metais contaminantes
2.2.2.1.
Cdmio e chumbo
Os teores de cdmio e chumbo foram determinados pelo mtodo espectrofotomtrico de absoro atmica de chama, baseado na metodologia proposta por Jorhem (2000) e nos procedimentos tcnicos em uso na U-VPPA do IPMA, I. P. O mtodo de determinao de cdmio e chumbo por absoro atmica de chama requer a secagem e incinerao da amostra seguida de solubilizao em cido ntrico. Aps a diluio da amostra, efetuou-se a determinao do teor do elemento no espectrofotmetro de absoro atmica de chama.
Reagentes e solues cido ntrico a 65% (m/m) (Merck) Soluo de cido ntrico a 15% (v/v) Soluo de cido ntrico a 10% (v/v) Soluo de cido ntrico a 5% (v/v)
30
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Soluo padro de cdmio 1000 mg/l (Nitrato de cdmio em 0,5 M de cido ntrico) (Merck) Soluo padro de chumbo 1000 mg/l (Nitrato de cdmio em 0,5 M de cido ntrico) (Merck)
Preparao das solues padro para o cdmio e chumbo Preparou-se 100 ml de uma soluo padro de concentrao 10 g/ml a partir da soluo padro (1000 mg/l) de cada um dos elementos, utilizando como solvente cido ntrico a 5%. A partir desta prepararam-se as restantes solues padro utilizadas na reta de calibrao.
Aparelhos e utenslios Material de uso corrente no laboratrio Balana com preciso de 0,0001 g (Mettler Toledo, AG 204) Cadinhos de porcelana Estufa de secagem, regulvel a 105 2C (Memmert, ULE 500) Placa de aquecimento (Schott, SLK 2) Mufla, regulvel a 500 25C (Heraeus, tipo MR 170 E) Exsicador Bales volumtricos de 10 ml em vidro Filtros (Macherey-Nagel 640w, = 70 cm). Espetrofotmetro de absoro atmica de chama (Varian, Spectr AA 55B) com utilizao de chama de ar-acetileno. Lmpada de ctodo oco (Varian), para leitura do cdmio (comprimento de onda de 228,8 nm) Lmpadas de ctodo oco (Varian), para leitura do chumbo (comprimento de onda de 217,0 nm)
Tcnica / Processo analtico Pesou-se 10 g de amostra homogeneizada com o rigor de 0,001 g para um cadinho de porcelana. Colocou-se o cadinho na estufa a pelo menos 100C durante uma noite, para secagem da amostra. Depois da secagem, transferiu-se o cadinho para uma mufla e fez-se aumentar progressivamente a temperatura at 500 25 C onde permaneceu durante 1 noite (16 horas) para
31
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
incinerao. A cpsula foi removida da mufla e arrefecida em exsicador. Posteriormente, humedeceram-se as cinzas com cido ntrico a 65% e promoveu-se a evaporao do cido cuidadosamente, at secura numa placa de aquecimento. Levou-se novamente a cpsula mufla a 400 C durante 30 minutos para se obter a cinza branqueada. Adicionou-se 3 ml de cido ntrico a 15% para dissoluo da cinza e transferiu-se, com recurso a um filtro, para um balo volumtrico de 10 ml. Lavou-se ainda com 2 ml do mesmo cido e posteriormente com gua ultra pura. De seguida perfez-se o volume com gua ultra pura e agitou-se de forma a homogeneizar a soluo.
Figura 2.2 - Espectrofotmetro de absoro atmica de chama (VARIAN, Spectr AA 55B).
Curva de calibrao Em ambos os metais, para configurar a curva de calibrao, preparou-se 100 ml de uma concentrao de 10 g/ml utilizando cido ntrico a 5% (v/v) como solvente. A partir dessa soluo, tambm designada por soluo intermdia, preparou-se 6 solues padronizadas no caso do cdmio e 5 no caso do chumbo, como se verifica na Tabela 2.2, para serem usadas na curva de calibrao (solues de calibrao).
Tabela 2.2 - Curva de calibrao para o cdmio e chumbo. Padro de Cdmio (g/ml) 0,01 0,02 0,06 0,1 0,5 Padro de Chumbo (g/ml) 0,1 0,15 0,2 0,3 0,5 1,0
A curva de calibrao a partir das leituras obtidas das solues de calibrao.
Ensaio em branco A leitura do branco foi efetuada com cido ntrico a 5%.
32
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
O clculo do teor de cdmio ou chumbo, expresso em miligramas por quilograma, dado por:
Sendo: : leitura, em g/ml, dada pelo analisador; : volume da dissoluo da amostra, em ml; : a massa, em grama, da toma para anlise.
O resultado dado pela mdia aritmtica de pelo menos duas determinaes paralelas. No caso do chumbo o resultado arredondado s dcimas, no caso do cdmio, o resultado arredondado s centsimas.
2.2.2.2.
Mercrio total
A determinao do teor de mercrio foi baseada no mtodo descrito na norma US EPA 7473 (EPA, 1998) e no procedimento tcnico em uso na U-VPPA do IPMA, I. P. Este mtodo consiste na decomposio da amostra, oxidao e arrastamento dos produtos por fluxo de oxignio, seguida da captao dos xidos de halogneos, azoto e enxofre e formao de uma amlgama com ouro a qual aps aquecimento, liberta o mercrio sob a forma de vapor. Por ltimo, este arrastado por uma corrente de oxignio at clula do espectrofotmetro procedendo-se leitura da absoro no comprimento de onda de 253,7 nm.
Reagentes e solues xido de alumnio 90 ativo, bsico 0,063-0,200 (m/m) (Merck) cido ntrico 65% (m/m) (Merck) Soluo padro de mercrio 1000 mg/l (Nitrato de mercrio II em 0,5 M de cido ntrico) (Merck)
Preparao da soluo padro Preparou-se 100 ml de uma soluo padro de concentrao 10 g/ml a partir da soluo padro de mercrio (1000 mg/l), utilizando como solvente cido ntrico a 1%. A partir da soluo a 10 g/ml preparou-se uma soluo padro de 0,1 g/ml e uma de 0,005 g/ml.
33
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Aparelhos e utenslios Material de uso corrente no laboratrio Balana analtica de preciso (Mettler Toledo, AG 204) Barquinha de nquel Analisador de mercrio (Leco, AMA 254)
Tcnica / Processo analtico Pesou-se at 100 mg da amostra para uma barquinha e adicionou-se xido de alumnio at cobrir a amostra.
Posteriormente colocou-se a barquinha no analisador de mercrio e efetuou-se a leitura da absoro no comprimento de onda de 253,7 nm. Retirou-se a
Figura 2.3 - Analisador de mercrio (LECO, AMA 254).
barquinha e limpou-se. Em cada sesso de trabalho realizou-se o ensaio em branco, que consistiu em colocar unicamente o xido de alumnio na barquinha e efetuar a leitura no equipamento. No fim da sesso, para proceder descontaminao, colocou-se a barquinha a 700C durante uma hora na mufla. A curva de calibrao utilizada foi a que se encontra introduzida no software de analisador (0,10; 0,30; 1,00; 3,00; 10,00; 20,00; 30,00; 36,00 ng de mercrio). Os resultados do teor de mercrio, expressos em miligramas por quilograma, so dados pelo equipamento baseando-se na seguinte equao:
Sendo: : a massa, em miligrama, da toma para anlise; : leitura, em nanogramas, dada pelo analisador.
Os resultados so calculados com base na determinao de pelo menos duas rplicas para a mesma amostra.
34
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL 2.3. Valor energtico
Para o clculo do valor energtico, expresso em kcal.100 g , utilizou-se a frmula descrito pela FAO (1989). Desta forma, o calor energtico dado por: ( Sendo: : a percentagem de gordura : a percentagem de protena : a percentagem de carboidratos (considerado como sendo essencialmente glicognio). ) ( ) ( )
-1
2.1. Validao das tcnicas analticas
As tcnicas realizadas na U-VPPA do IPMA, I. P., encontram-se validadas de acordo com o Guia da Relacre 2000, com Normas ISO 5725 (1994) (Accuracy (Trueness and Precision) of measurement methods and results) e com os Guias do IPAC (Instituto Portugus de Acreditao) sobre acreditao, nomeadamente o Guia para Acreditao de Laboratrios de Qumica). O laboratrio Fsico-Qumico Sensorial, rea de Bromatologia, da U-VPPA, onde se realizaram as tcnicas utilizadas para a determinao da humidade, cinza, gordura e mercrio total, est acreditado pelo IPAC para a realizao das mesmas. Na anlise de mercrio, foi testado um material de referncia certificado nas mesmas condies que as amostras, a fim de avaliar a preciso do mtodo analtico (TORT-2, hepatopncreas de lagosta), do National Research Council of Canada.
2.2. Anlise estatstica
Todos os resultados obtidos a partir do doseamento so expressos como mdia desvio padro. Para a realizao dos referidos testes decorrentes da anlise estatstica utilizou-se o software STATISTICA 7 (Stat-sof, Inc. USA, 2004). O nvel de significncia (), par a todos os testes estticos efetuados, foi de 0,05. De modo a verificar se existia diferenas entre espcies no teor dos diversos parmetros estudados utilizou-se o teste HSD para N diferentes para dados cuja normalidade foi confirmada. Os pressupostos destas aplicaes, normalidade e homogeneidade de varincias, foram efetuados, utilizando os testes de Levenes F-test e HSD para N diferentes. Foi ainda utilizado o teste no paramtrico Kruskal-Wallis em conjunto com o Mtodo de comparaes mltiplas nos dados onde no se verificaram aqueles pressupostos.
35
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
36
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
3. Resultados
3.1. Composio qumica aproximada
Nos moluscos, tal como ocorre noutros produtos da pesca, a composio qumica varia de espcie para espcie e, inclusive, entre indivduos da mesma espcie (Okumu e Sterling, 1998; Vernocchi et al., 2007; Silva e Batista, 2008; Anbal et al., 2011; Orban et al., 2002). A composio qumica aproximada (humidade, gordura, protena e cinza) da parte edvel que compe as espcies estudadas encontra-se descrita na Tabela 3.1. Os valores individuais de cada amostra esto expostos na Tabela I.1 em anexo, sendo que os resultados para a mesma espcie correspondem a diferentes meses.
Tabela 3.1 Composio qumica aproximada (%) e valor energtico (kcal.100g ) dos moluscos bivalves analisados (mdia desvio padro). Valor Espcie Humidade Protena Gordura Cinza Glicognio energtico AJT AJS AS LS MC MT OPS 81,61,4 82,82,0
,b ,b
-1
12,70,8 11,41,7 14,10,5
,b ,b b
0,750,12
,b
3,000,09 3,120,23 3,020,13 3,260,19 2,820,17 3,170,17 2,990,50
1,20,7 1,40,9
,b
62,53,7 54,57,7 70,62,8 61,68,6 57,27,0 50,88,4 68,65,2
0,380,11 0,520,27 0,510,10 1,000,14 0,790,28 1,070,23
b ,b b
, b, c b, c c
79,51,1 81,12,0 84,22,4 83,42,5 80,50,5
,b b b ,b
2,40,7
11,31,9 11,41,5
,b
3,00,5
0,60,6 0,50,2 2,20,8
b, c
10,41,9 12,51,7
,b
Valores com letras sobrescritas iguais para um mesmo elemento, indica que no h diferenas estatsticas entre a espcie (p> 0,05).
A gua o componente mais abundante e facilita as reaes qumicas, enzimticas e microbianas (Cabello et al., 2004). O teor de humidade nas amostras estudadas variou entre 79,5%, para a ameijola do esturio do Sado e 84,2%, para o mexilho de Cascais (Figura 3.1). Os dados revelam uma diferena significativa entre a ameijola do esturio do Sado, com 79,5%, e os mexilhes de Cascais e do esturio do Tejo analisados, que contm 84,2% e 83,4% de humidade, respetivamente.
37
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
95,0 90,0 85,0 % Humidade 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 AJT MC MT AJS AS LS OPS Figura 3.1 - Teor de humidade (%) nas espcies estudadas. Mdia
Genericamente, os valores do teor de humidade obtidos so similares aos registados por outros autores, para as mesmas e para outras espcies de moluscos bivalves, como se pode verificar comparando este parmetro nas Tabelas 3.1 e 3.2.
Tabela 3.2 - Composio qumica aproximada (%) de alguns moluscos bivalves referenciados na literatura. Espcie
1
Localizao
%H
%P
%G
%C
% Glic.
Autor
Buttenberg e Noel (In Fraga, 1959)
Mytilus edulis
Mar do Norte
86,5
8,7
1,10
1,49
Mytilus edulis Mytilus edulis Mytilus edulis
Mar Bltico Ria de Vigo, Espanha Cushing, Maine, USA Hamburgo, Alemanha Izmir, Turquia Ria Formosa, Portugal
86,4 81,1
8,6 10,8
1,52 1,57
1,37 2,34
2,8 Fraga, 1959 Sabyj et al., 1978 Dincer, 2006 Dincer, 2006 Anbal et al., 2011 Erkan et al., 2011 Martino e Cruz, 2004 Cabello et al., 2004)
73,0
18,5
3,07
2,30
3,1
Ruditapes 1 phillipinarium Ruditapes 1 decussatus Ruditapes 2 decussatus Ostrea edulis Crassostrea 2 rizophorae Pinctada 1 imbricate
1 2
84,0
9,6
0,98
3,30
1,1
85,9
8,7
0,78
3,10
1,1
82,6-86,9
5,9-8,5
0,07-1,20
3,10-3,60
0,4-2,6
Istambul, Turquia Rio de Janeiro, Brasil Sucre, Venezuela
71,1-80,6
6,8-10,3
1,47-2,40
3,42-9,45
1,5-9,2
81,1-83,0
9,3-10,2
1,50-2,00
2,80-3,70
2,7-4,4
81,4
12,8
1,77
2,78
Valores mdios anuais de cada parmetro Valores mximos e mnimos de cada parmetro
38
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Dincer (2006) obteve valores de 84,0% e 85,9% para a amijoa japonesa e para a amijoaboa, respetivamente, recolhidas em Hamburgo, Alemanha. Para o mexilho recolhido na ria de Vigo, em Espanha, Fraga (1959) obteve um teor de humidade mdio anual de 81,1%. Reconhece-se a existncia de alguma variabilidade entre os valores da mesma espcie, que se reflete nos valores do desvio padro, em especial as amostras de mexilho. Este fenmeno poder dever-se ao fato de as amostras terem sido colhidas em diferentes alturas do ano, ou seja, a influncia da sazonalidade, como explicam alguns autores (Sabyj, et al., 1978; Martino e Cruz, 2004; Anbal, 2011; Erkan et al., 2011). Alm deste fator, Fraga (1956) refere que o tempo de escorrimento das amostras tambm um fator de grande influncia para o teor de humidade, e consequentemente para outros constituintes. Para evitar este problema, alguns autores optam pela anlise relativa ao produto seco, isto , em matriz seca. No entanto, esta abordagem tambm errnea na medida em que a composio qumica depende igualmente do lquido intervalvar escorrido. Isto , se o tempo de escorrimento insuficiente, encontram-se valores elevados de humidade e de cinza devido presena de sal. No entanto, se o tempo de escorrimento for elevado, h perda de complexos proteicos que se perdem com o lquido intervalvar (Fraga, 1956).
18,0 16,0 14,0 12,0 % Protena 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 AJT MC MT AJS AS LS OPS Mdia
Figura 3.2 - Teor de protena (%) nas espcies estudadas.
A protena o segundo maior constituinte presente nos moluscos bivalves analisados (Tabela 3.1). As protenas destes organismos apresentam na sua constituio todos os aminocidos essenciais e igualmente reconhecida a sua digestibilidade, o que faz com que estes organismos em termos nutricionais sejam importantes e devam estar presentes numa dieta equilibrada (Nunes et al., 2008).
39
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
O valor mais baixo para o teor de protena obtido corresponde ao mexilho do esturio do Tejo, com 10,4% de protena, e o valor mais alto corresponde ameijola do esturio do Sado com 14,1% (Figura 3.2). Curiosamente, uma ordem inversa de valores foi observada para os teores de humidade, em que 79,5% e 84,2% de humidade foram obtidos para a ameijola do esturio do Sado e para o mexilho de Cascais, respetivamente. Verifica-se ainda que esta tendncia no ocorre unicamente nos valores de extremos mas sim de uma forma generalizada. Isto , o teor de protena varia de forma inversa ao teor de humidade, como se pode observar na Figura 3.3, o que significa que quando ocorre o aumento do teor de humidade, se verifica consequentemente uma diminuio do teor de protena. Esta tendncia pode decorrer do fato de os teores de humidade influenciarem significativamente o teor de protena, em termos percentuais.
90,0 85,0 % Humidade 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 AJT MC MT AJS AS LS OPS
20,0 18,0 16,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Humidade Protena % Protena 14,0
Figura 3.3 - Comparao entre os teores de protena e de humidade (%) nas espcies estudadas.
Nunes et al. (2008) refere que nalgumas espcies se verifica que a maturao das gnadas ou longos perodos de privao de alimento provocam uma diminuio do teor proteico e, consequente aumento da gua no msculo. Anbal et al. (2011), na anlise da amijoa-boa proveniente da Ria Formosa, Algarve, verificaram a existncia de uma correlao negativa entre o teor de protena e a pluviosidade e o teor de humidade. Ou seja, o aumento da pluviosidade ou do teor de humidade levaram a uma diminuio do teor de protena. Da leitura da Tabela 3.2 e da Figura 3.3, e tal como ocorre com a humidade, verifica-se que existe alguma variabilidade nos valores de protena, no s entre espcies, como dentro da mesma espcie, como se pode observar pelos valores do desvio padro. A variao que entre espcies pode ser resultado da especificidade da composio prpria da espcie ou localizao
40
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
geogrfica. Em relao variao dentro da mesma espcie, esta pode resultar da variao sazonal, do ciclo de maturidade dos bivalves ou da disponibilidade de alimentos. Silva e Batista (2008) afirmam que a percentagem mdia de protena presente na maioria das espcies inferior a 13,0%. Contudo, vrios autores (Okumu e Sterling, 1998; Vernocchi et al. 2007; Anbal, 2011; Orban et al., 2002) referem o perodo correspondente ao incio de vero como sendo o que apresenta o pico mximo de teor de protena, normalmente associado com o desenvolvimento dos gmetas, ocorrendo em seguida uma queda, maioritariamente devido desova. Desta forma, o elevado teor de protena obtido pode ser consequncia da variao sazonal resultante do ciclo sexual dos moluscos bivalves. O elevado teor de protena pode ser ainda explicado pela localizao geogrfica e pela disponibilidade de alimentos uma vez que a privao de alimentos pode levar diminuio ou aumento do teor de protena em determinadas espcies (Albentosa et al., 2007, Silva e Batista, 2008).
1,60 1,40 1,20 % Gordura 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 AJT MC MT AJS AS LS OPS Mdia
Figura 3.4 - Teor de gordura (%) nas espcies estudadas.
O teor mdio em gordura dos moluscos bivalves baixo, geralmente no excedendo os 3,00% e, na maioria das espcies capturadas em Portugal, situa-se entre 1,00% e 2,00% (Silva e Batista, 2008). Relativamente aos resultados obtidos para o teor de gordura, a ostra portuguesa do esturio do Sado a que apresenta o valor mdio mais elevado, com 1,07%, enquanto a amijoa japonesa do esturio do Sado aquela que apresenta menor teor, com 0,38%, como se verifica na Figura 3.4. Verifica-se que existem diferenas significativas entre a amijoa japonesa, a ameijola e a lambujinha do Sado, que apresentam os valores mais baixos, bem como entre o mexilho de Cascais e a ostra portuguesa do Sado, que apresentam os valores mais elevados.
41
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Comparativamente aos teores de gordura indicados na literatura (Tabela 3.2), os valores obtidos e dispostos na Tabela 3.1 so genericamente mais baixos. Contudo so semelhantes aos valores obtidos por Dincer (2006), que achou um teor mdio anual de gordura de 0,98% e 0,78% para a amijoa japonesa de Hamburgo, Alemanha, e para a amijoa-boa de Izmir, Turquia, respetivamente. Os valores encontrados no presente estudo so tambm semelhantes aos obtidos por Anbal et al. (2011) que observaram uma grande variao no teor de gordura, reportando cerca de 0,07%, em Abril, e cerca de 1,20%, entre Outubro e Novembro, para a amijoa boa da ria Formosa, Algarve. As diferenas observadas entre espcies e segundo alguns autores podem dever-se especificidade da espcie na acumulao de gordura, localizao geogrfica e temperaturas de crescimento dos bivalves e ainda ao fator da variao sazonal. Alm das diferenas que se verificam entre espcies, ainda possvel observar a existncia de variabilidade dentro da mesma espcie. Esta variabilidade, expressa no desvio padro, poder ser explicada pelas variaes sazonais e pela alterao da composio deste tipo de organismos consoante o estado de maturao sexual em que se encontra. Desta forma, uma vez que os valores foram obtidos em diferentes meses, poder da decorrer uma variao nos teores de gordura consoante estes se encontravam em fase de desova ou de desenvolvimento dos gmetas. Tal como ocorre com os restantes constituintes, tambm o teor de gordura influenciado por fatores intrnsecos, como a idade, o sexo, o tamanho e a forma de vida, e por fatores extrnsecos, como a salinidade, a dieta, a temperatura, a localizao e a sazonalidade (Riisgrd, 1985; Martino e Cruz, 2004; Anbal et al., 2011). De fato, a gordura em alguns moluscos bivalves, o constituinte mais influenciado pelo ciclo reprodutivo devido sua relao com o desenvolvimento e maturao das gnadas (Anbal et al., 2001). Isto , o teor de gordura est fortemente relacionado com a desova, que por sua vez est relacionada com a espcie e a temperatura. Okumu e Sterling (1998) e Anbal et al. (2011) verificaram teores mnimos de gordura para o mexilho Mytilus edulis na Esccia, e para amijoaboa (Ruditapes decussatus) no Algarve, respetivamente, no ms de abril. Vernocchi et al. (2007) obtiveram os valores mnimos em maio e novamente em junho para o mexilho Mytilus galloprovincialis no mar Adritico. exceo da ameijola, todas as amostras foram recolhidas entre maro e julho, que, segundo os autores acima referidos, o perodo onde ocorrem os teores mnimos de gordura. A ameijola, por seu lado, pode efetuar postura durante todo o ano, a partir do segundo ano, no caso de se encontrar em condies de temperatura e disponibilidade de alimento favorveis. Desta forma, a desova de fato uma possvel justificao para os baixos valores obtidos para o teor de gordura e para a sua variabilidade uma vez que diferentes espcies em diferentes locais apresentam diferentes pocas de desova.
42
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Contudo, tal como ocorre com os restantes constituintes, tambm o teor de gordura influenciado por fatores alm do perodo de maturao sexual, nomeadamente, por fatores intrnsecos, como a idade, o sexo, o tamanho e a forma de vida, e por fatores extrnsecos, como a salinidade, a dieta, a temperatura, a localizao e a sazonalidade (Riisgrd, 1985; Martino e Cruz, 2004; Anbal et al., 2011).
4,00 3,50 3,00 % Cinza 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 AJT MC MT AJS AS LS OPS Mdia
Figura 3.5 - Teor de cinza (%) nas espcies estudadas.
Inversamente ao que ocorre com o teor de humidade, no teor de cinza verifica-se um valor mnimo de 2,82% para o mexilho de Cascais, e um valor mximo de 3,26% para a lambujinha do esturio do Sado (Figura 3.5). No que concerne aos valores encontrados na literatura, possvel observar teores semelhantes aos obtidos nas anlises realizadas, como se pode verificar por comparao entre os valores das Tabelas 3.1 e 3.2. Dincer (2006) obteve teores mdios de cinza de 3,30% e 3,10% para a amijoa japonesa, em Hamburgo, e para a amijoa-boa, em Izmir, respetivamente. No Brasil, nas amostras recolhidas no Rio de Janeiro, Martino e Cruz (2004) obtiveram valores para o teor de cinza que variaram entre 2,82% e 3,70% para a ostra Crassostrea rizophorae. Em anlise aos resultados obtidos, verificou-se que no existem diferenas significativas entre as amostras, da mesma forma como no se verifica grande variabilidade entre amostras da mesma espcie. Alguns autores referem no encontrarem diferenas significativas no teor de cinza em funo da variabilidade sazonal ou de possveis perodos de privao de alimento (Martino e Cruz, 2004; Feng et al., 2010). A espcie que apresenta maior variabilidade a ostra portuguesa proveniente do esturio o Sado, cujos teores de cinza variam entre 2,37% e 3,62% e, segundo a anlise dos valores individuais, verifica-se um aumento gradual ao longo do perodo de recolha de amostras.
43
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Martino e Cruz (2004) verificaram a mesma tendncia crescente no teor de cinza de 2,80% para 3,70%, correspondentes primavera e ao vero, respetivamente, na ostra Crassostrea rhizophorae, proveniente da Barra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, Brasil. O aumento do teor de cinza no vero pode ser explicado pelo aumento da temperatura e diminuio da pluviosidade que ocorre nesta estao.
4,5 4,0 3,5 % Glicognio 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AJT MC MT AJS AS LS OPS Figura 3.6 - Teor de glicognio (%) nas espcies estudadas. Mdia
Os valores mdios de glicognio variaram entre 0,5% no caso do mexilho do esturio do Tejo, e 3,0%, no caso da lambujinha do esturio do Sado (Figura 3.6). Este parmetro o que apresenta maior variabilidade entre espcies e dentro da mesma espcie, nomeadamente o mexilho de Cascais que apresenta valores entre 0,2 e 1,4%. Acresce ainda que no se verifica nenhuma tendncia em relao sazonalidade uma vez que h uma grande variabilidade. Esta tendncia confirmada pela literatura onde, por exemplo, para o mexilho com teor mdio de 2,8% de glicognio, Fraga (1959) obteve um valor mximo de 7,6% em outubro e 0,2% em fevereiro. Anbal et al. (2001) tambm verificaram que as reservas de glicognio na amijoaboa da Ria Formosa, Algarve, variavam significativamente, tendo obtido valores entre 0,4 e 2,6% ao longo do ano sem verificar uma tendncia em relao sazonalidade ou uma correlao com outros parmetros analisados, como os restantes parmetros da composio qumica, a temperatura, a precipitao, os ndices de condio a percentagem de comestibilidade. semelhana da gordura livre, os valores mdios obtidos para o teor de glicognio apresentaram resultados muito baixos em relao literatura. Contudo, de realar que os valores verificados na literatura referem-se a valores mdios de colheitas anuais, e no caso do presente estudo so valores mdios obtidos entre os meses de fevereiro e julho, exceo da ameijola recolhida de agosto a julho.
44
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Os valores energticos obtidos variam entre 50,8 kcal.100 g , para o mexilho do esturio do Tejo, e 70,6 kcal.100 g , para a ameijola do esturio do Sado. Considerando que a gordura e o glicognio so os constituintes com maior contribuio para o valor energtico e que ambos os teores destes constituintes apresentam variabilidade, de esperar que, tambm o contedo calrico apresente alguma variabilidade, quer entre espcies, quer dentro da mesma espcie.
-1 -1
90,0 Valor energtico kcal.100g-1 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 AJT MC MT AJS AS
-1
Mdia
LS
OPS
Figura 3.7 - Valores energticos (kcal.100 g ) das espcies estudadas.
Cabello et al., publicou valores para o contedo calrico do mexilho verde ( Perna viridi) e para a ostra (Pinctada imbricata) de 67,6 kcal.100 g e 67,1 kcal.100 g , respetivamente (Figura 3.7). De igual forma os valores referidos por Silva e Batista (2008), pelo INSA (2007) e pelo USDR so genericamente superiores a 65,0 kcal.100g . Comparativamente aos valores obtidos, verifica-se que apenas a ameijola e a ostra portuguesa, ambas as espcies provenientes do esturio do Sado, apresentam valores superiores aos descritos anteriormente. Para estas espcies obtiveram-se valores de 68,8 kcal.100g para a ameijola e 70,6 kcal.100 g no caso da ostra portuguesa do esturio do Sado. Os menores valores obtidos devem-se ao fato de os constituintes responsveis pelo aporte energtico, nomeadamente a gordura e o glicognio, se encontrarem em menor quantidade, como o caso do mexilho do esturio do Tejo, que tem na sua constituio apenas 0,79% de gordura e 0,5% de glicognio. Os teores dos diferentes constituintes dos bivalves variam consideravelmente entre diferentes espcies e, inclusive, entre indivduos da mesma espcie, dependendo da idade, sexo, tamanho, meio ambiente e altura do ano, temperatura e alimento disponvel (Cabello et al., 2004; Anbal et al., 2006). Estes fatores relacionam-se entre si, formando uma sucesso de ligaes subordinantes em que um fator dependente de outro direta ou indiretamente. Como exemplo, a
-1 -1 -1 -1 -1
45
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
temperatura um dos fatores que tem maior influncia no ciclo reprodutivo dos bivalves e est relacionada com a sazonalidade, a composio bioqumica e as condies e disponibilidade de nutrientes (Anbal et al., 2006). Nos bivalves, os principais constituintes destas matrizes que so afetados pelas variaes sazonais so a humidade, a gordura e os carboidratos, mais especificamente o teor de glicognio. Isto , o consumo energtico dos bivalves depende do tipo de metabolismo ativo no organismo num determinado momento, este depende de variaes sazonais e, consequentemente, do ciclo reprodutivo, da maturidade, da dimenso, sexo, temperatura e da disponibilidade de alimento. Uma vez que os moluscos dependem do alimento presente nas correntes filtradas dado que so organismos sedentrios, a composio aproximada depende ainda da localizao geogrfica uma vez que esta vai influenciar o gradiente de temperaturas, a disponibilidade de alimento e as caractersticas do habitat em que os bivalves se encontram em desenvolvimento (Karakoltsidis, et al., 1995; Orban et al., 2002; Cabello et al., 2006; Albentosa et al., 2007).
3.2. Metais contaminantes
Dos metais txicos que se encontram nos gneros alimentcios e apresentam maior perigo para a sade humana, destacam-se o cdmio, o chumbo e o mercrio, o que levou ao estabelecimento de normativos legais que estipulam os nveis mximos permitidos. Para a garantia de que os produtos comercializados e consumidos se encontram dentro dos limites estabelecidos necessrio recorrer monitorizao destes metais txicos. Os teores de metais, nomeadamente, de cdmio, chumbo e mercrio, obtidos para as sete espcies de moluscos bivalves analisadas, encontram-se descritos, respetivamente para os esturios do Tejo e do Sado, nas Tabelas 3.3 e 3.4, e representados graficamente em funo do elemento nas Figuras 3.8, 3.9 e 3.10. Os valores individuais das concentraes dos elementos txicos analisados para cada uma das amostras podem ser encontrados na Tabela I.2, em anexo. Na Tabela 3.3 encontram-se as concentraes dos metais analisados nos bivalves recolhidos no esturio do Tejo e na baa de Cascais.
Tabela 3.3 - Concentraes de cdmio, chumbo e mercrio (mdia desvio padro), expressas em mg.kg , nos moluscos bivalves do esturio do Tejo. Amostra AJT MC MT N 9 7 4 Cdmio 0,16 0,05 0,14 0,11 0,13 0,08 Chumbo 0,70 0,15
b
-1
Mercrio 0,05 0,02 0,05 0,01 0,03 0,01
0,33 0,14 0,46 0,18
,b
Valores com letras sobrescritas iguais para um mesmo elemento, indica que no h diferenas estatsticas dentro da espcie (p> 0,05).
46
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Em relao ao cdmio presente nos organismos provenientes do esturio do Tejo e Cascais, atravs dos valores mdios obtidos neste estudo verifica-se que no existem diferenas significativas entre os valores obtidos neste estudo. Os resultados da contaminao para este elemento, em mexilhes do esturio do Tejo, descritos por Loureno et al., (2006), com 0,13 mg.kg , so semelhantes aos encontrados para os mexilhes analisados, localizados no esturio do Tejo e em Cascais. O chumbo, tal como referido por Silva e Batista (2008), o metal que se encontra presente em maior quantidade nos moluscos bivalves capturados no Tejo. Pode-se observar que, relativamente aos teores de contaminao por chumbo, este o nico elemento analisado para o qual existem diferenas significativas entre as amostras do esturio do Tejo. A anlise estatstica indica-nos que a contaminao inferior para o mexilho de Cascais, em comparao com a amijoa japonesa recolhida no esturio. O mexilho proveniente do esturio no apresenta diferenas significativas com os outros dois organismos recolhidos neste local. Verifica-se ainda que apesar de no existirem diferenas significativas entre os mexilhes do esturio e da baa de Cascais, pode-se observar uma tendncia para a diminuio do teor de contaminao de chumbo para o mexilho de Cascais. Este fato pode ser indicador de propenso para a diminuio do teor de contaminao sada do esturio. Este acontecimento pode deverse menor recirculao de gua do que nas zonas mais costeiras e mais prximas do oceano, como o caso da baa de Cascais (Silva e Batista, 2008). Foram reportados por alguns autores padres semelhantes na anlise de sedimentos, onde a concentrao diminui com o aumento do caudal ou da massa de gua (Wright e Mason, 1999; Pereira et al., 2008). Em comparao com a anlise feita aos mexilhes do esturio do Tejo realizada em 2006 por Loureno et al., verifica-se um acrscimo na contaminao dos mexilhes por chumbo. O aumento de 0,20 mg.kg em 2006 para o valor atual de 0,46 mg.kg no mexilho do esturio do Tejo, pode ser consequncia de uma maior contaminao ou acumulao deste metal no esturio. Pode ainda ser resultado de novos focos de contaminao ou dragagem e remoo de sedimentos que leva libertao de metais que se encontravam acumulados e presos aos sedimentos. A contaminao por mercrio baixa e muito inferior ao limite mximo regulado pela CE (2006; 2008) de 0,50 mg.kg . Alm de se encontrar em baixas concentraes, no se verificaram diferenas significativas entre os valores obtidos para os trs organismos provenientes do esturio do Tejo. Contudo o teor, no caso dos mexilhes encontram-se ligeiramente superiores aos obtidos por Loureno et al. no ano de 2006 que aponta para um valor mdio de 0,02 mg.kg , em comparao com 0,05 mg.kg . A Tabela 3.4 refere-se s concentraes de cdmio, chumbo e mercrio nas espcies recolhidas no esturio do Sado. Verifica-se que, exceo da amostra da ostra portuguesa do esturio do Sado, a contaminao por cdmio nas diferentes espcies recolhidas no esturio do
-1 -1 -1 -1 -1 -1
47
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Sado baixa em relao ao limite admissvel legislado de 1,00 mg.kg em peso fresco para as espcies em questo (CE, 2008).
-1
Tabela 3.4 - Concentraes de cdmio, chumbo e mercrio (mdia desvio padro), expressas em mg.kg , nos moluscos bivalves de esturio do Sado. Amostra AJS AS LS OPS N 3 6 6 8 Cdmio 0,14 0,06
,b
-1
Chumbo 0,08 0,04 0,10 0,05
,b ,b b
Mercrio 0,03 0,01
b, c a c
0,10 0,03 0,10 0,08 1,05 0,42
b
0,01 0,00
0,69 0,15
0,03 0,01 0,02 0,00
0,04 0,03
Valores com letras sobrescritas iguais para um mesmo elemento, indica que no h diferenas estatsticas dentro da espcie (p> 0,05).
Loureno et al. (2006) reportou uma diferena na contaminao por cdmio entre a ostra portuguesa (Crassostrea angulata) e a ameijola (Callista chione) do esturio do Sado. Isto , os valores obtidos para o teor de cdmio para a ostra portuguesa e para a ameijola foram 1,05 e 0,10 mg.kg , respetivamente, enquanto Loureno et al. (2006) obteve 1,30 e 0,06 mg.kg mesmas espcies. O valor obtido neste estudo para lambujinha idntico ao da ameijola. Contudo, Blasco (1999) obteve uma discrepncia semelhante entre amostras na anlise do teor de cdmio para a lambujinha e a ostra portuguesa no esturio de Guadalquivir, em Espanha, com valores de 1,30 e 0,24 mg.kg , respetivamente. Este fato pode significar uma maior apetncia para a ostra na absoro e acumulao de cdmio, em relao aos restantes bivalves estudados. A ostra um bivalve capaz de filtrar partculas em suspenso. Assim, os altos nveis de cdmio podero ainda ser indicadores de que os sedimentos contm altos teores desse metal e, possivelmente, que tambm o fitoplncton e zooplncton do esturio do Sado estaro contaminados com este elemento. Este foi o nico molusco bivalve que apresentou um valor mdio de contaminao superior ao teor mximo legislado, assim sendo devem ser tomadas medidas de gesto relativamente a esta espcie. Este dado vai de encontro com o que referido por Silva e Batista (2008) que indicam que os limites mximos propostos pela UE para os diferentes metais no tm sido excedidos no esturio do Sado, exceo de alguns casos de contaminao por cdmio na ostra capturada no esturio do Sado, sendo este, o metal de maior preocupao neste local e nos moluscos bivalves da provenientes. Caeiro et al. (2005) avaliaram a contaminao por metais em sedimentos no esturio do Sado e concluram que o metal cujas concentraes eram mais preocupantes era o cdmio, enquanto o chumbo e, posteriormente, o mercrio apresentaram apenas vestgios de contaminao.
-1 -1 -1
para as
48
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Relativamente ao chumbo, verifica-se um baixo teor deste contaminante especialmente na amijoa japonesa, na ameijola e na ostra portuguesa provenientes do esturio do Sado, cujos valores obtidos foram inferiores ou iguais a 0,10 mg.kg . Em 2006 foram obtidos os mesmos valores para a ameijola colhida no esturio do Sado (Loureno et al., 2006). No entanto, verifica-se uma reduo na contaminao da ostra portuguesa no local, cujo teor de contaminao passou de 0,10 mg.kg para 0,04 mg.kg . Existem no esturio do Sado determinadas reas que se encontram sob forte influncia das guas residuais e de escoamento provenientes da atividade industrial e, consequentemente, ricas em metais pesados. No caso especifico do chumbo, este largamente utilizado na produo de tintas, pigmentos e vidro e existem pontos de contaminao por chumbo localizados perto da cidade de Setbal e dos portos de pesca (Caeiro et al., 2005) Porm, a reduo que se verifica no teor de contaminao por chumbo pode ser explicada pelo desenvolvimento e gradual incorporao que se tem verificado de efluentes nos sistemas de tratamento de gua no distrito de Setbal. Apesar de apenas se verificarem diferenas significativas entre a lambujinha e a amijoa ou a ameijola, verifica-se uma propenso para a contaminao da lambujinha por chumbo, em relao s restantes espcies. O mesmo fenmeno foi descrito por Blasco (1999), Loureno et al. (2006), e Ruiz e Saiz-Salinas (2000), nos esturios de Guadalquivir, Tejo e Bilbao respetivamente, sendo que Blasco (1999) e Ruiz e Saiz-Salinas (2000) obtiveram valores superiores aos admissveis, em legislao, pela Unio Europeia. A lambujinha considerada uma espcie escavadora e um bivalve suspensvoro, o que pode explicar os nveis elevados de chumbo e o que traduz numa necessidade de especial ateno na monitorizao deste bivalve. Tal como ocorre no esturio do Tejo, a contaminao por mercrio no esturio do Sado baixa e muito inferior ao limite legislado. Em sntese, de forma genrica, tal como se verifica na Figura 3.8, a contaminao por cdmio baixa em ambos os esturios e para as espcies em geral. Contudo, necessrio ter em considerao que o comportamento dos metais ao longo dos esturios est relacionado com a rea de deposio, fazendo com que ocorram alguns pontos crticos encontrados perto de zonas industrializadas e em reas com sedimentos ricos em matria orgnica na entrada de canais (Caeiro et al., 2005).
-1 -1 -1
49
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Cdm io
1,60
1,40
1,20 Limite Cd Mdia Mdia Min-Max
1,00
mg.kg -1
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00 AJT AJS LS MC Espcie MT OPS AS
Figura 3.8 - Teor de cdmio (mg.kg ) nas espcies estudadas e limite mximo permitido por lei (CE, 2008).
-1
Foram encontrados valores semelhantes aos obtidos, para diferentes autores, localizaes e moluscos bivalves, como se pode verificar na Tabela 3.4. Destacam-se a ameijola (Callista chione) no Mar Adritico (Storelli e Marcotrigiano, 2010), o mexilho ( Mytilus edulis) no esturio do Tejo (Loureno et al. 2006) e a amijoa japonesa (Ruditapes philippinarum) no Mar de Bohai (Liang et al., 2004).
50
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Chum bo
1,60 Limite Pb 1,40
1,20
1,00
mg.kg -1
0,80
Mdia Mdia Min-Max
0,60
0,40
0,20
0,00 AJT AJS LS MC Espcie MT OPS AS
Figura 3.9 - Teor de chumbo (mg.kg ) nas espcies estudadas e limite mximo permitido por lei (CE, 2006).
-1
Os teores de chumbo encontram-se inferiores a 1,50 mg.kg , ou seja, abaixo do limite definido pela Comisso Europeia (CE, 2006) para todas as espcies em ambos os esturios, como se verifica na Figura 3.9. A amijoa japonesa do Tejo e a lambujinha do Sado so os moluscos bivalves que apresentam disposio para teores relativamente mais elevados, contudo, como foi j referido, todas possuem teores inferiores ao teor admissvel por lei. Valores semelhantes aos obtidos foram indicados por outros autores, em outros locais de estudo, nomeadamente para o mexilho ( Mytilus edulis) no Golfo do Maine (Chase et al., 2001), nos esturios de Orwell e Stour (Wright e Mason, 1999), e na amijoa japonesa ( Ruditapes philippinarum) e para o mexilho (Mytilus edulis) no mar de Bohai, China (Liang et al., 2004). Genericamente, verifica-se uma baixa contaminao das amostras por mercrio, sendo que a ameijola do esturio do Sado a amostra que apresenta menor concentrao de mercrio com 0,01 mg.kg e a amijoa japonesa do esturio do Tejo, bem como o mexilho de Cascais, so as que apresentam maior teor de mercrio, com 0,05 mg.kg
-1 -1 -1
-1
(Figura 3.10). Estes resultados so
bastante inferiores ao valor legislado pelo Regulamento n. 1881/2006 que determina como valor mximo admissvel o teor de 0,50 mg.kg , dez vezes superior aos valores mximos obtidos em anlise.
51
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Mercrio
0,12
0,10
0,08
mg.kg -1
0,06
Mdia Mdia Min-Max
0,04
0,02
0,00 AJT AJS LS MC Espcie MT OPS AS
Figura 3.10 - Teor de mercrio (mg.kg ) nas espcies estudadas.
-1
possvel encontrar valores semelhantes referidos por vrios autores, como se pode verificar na Tabela 3.4, nomeadamente, para a ameijola (Callista chione) e para a ostra portuguesa (Crassostrea angulata) nos esturio do Sado, para a lambujinha ( Scrobicularia plana) e para o mexilho (Mytilus edulis) no esturio do Tejo (Loureno et al., 2006) e ainda para o mexilho (Mytilus edulis) no Golfo do Maine (Chase et al., 2001) e nos esturios de Stour e Orwel (Wright e Mason, 1999) e para a lambujinha ( Scrobicularia plana) da Ria de Aveiro (Coelho et al., 2006).
Tabela 3.5 - Concentraes de cdmio, chumbo e mercrio (mdia desvio padro) expressas em mg.kg na amijoa japonesa dos esturios do Tejo e do Sado. Amostra AJS AJT N 3 9 Cdmio 0,14 0,06 0,16 0,05 Chumbo 0,08 0,04 0,70 0,15
b
-1
Mercrio 0,03 0,01 0,05 0,02
Valores com letras sobrescritas iguais para um mesmo elemento, indica que no h diferenas estatsticas dentro da espcie (p> 0,05).
A bioacumulao e bioconcentrao de metais por bivalves est diretamente dependente das concentraes dos metais no ambiente aqutico (Martini et al., 1984). A comparao dos estados de contaminao nos diferentes locais foi efetuada por testes estatsticos na nica espcie em comum aos dois locais, a amijoa japonesa, como se pode verificar na Tabela 3.5. Atravs da anlise estatsticas dos resultados, verifica-se que no existem diferenas significativas entre os dois locais para a contaminao por cdmio e por mercrio. Contudo, pode
52
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
ser observado que a contaminao por chumbo superior nos bivalves colhidos no esturio do Tejo do que no esturio do Sado. Um estudo realizado aos sedimentos localizados na plataforma continental de ambos os esturios do Tejo e do Sado demonstrou que os dois rios que alimentam as margens continentais sofrem impactos distintos resultantes da atividade antropognica. Foram analisados trs metais, um dos quais o chumbo, e verificou-se que o contedo de metais contaminantes apresenta um impacto claramente mais elevado no esturio do Tejo (Jouanneau et al., 1998). Tal como foi j referido, o chumbo um dos contaminantes que merece especial ateno no esturio do Tejo uma vez que existe j um histrico relativamente sua presena e anlise de bivalves com teores de chumbo superiores aos limites definidos pela Unio Europeia (Silva e Batista, 2008). Na Tabela 3.6 refere-se aos teores de contaminao por cdmio, chumbo e mercrio, referenciados na literatura, por diferentes autores, para alguns moluscos bivalves de diferentes origens.
Tabela 3.6 - Teores de cdmio, chumbo e mercrio (mg.kg ) referenciados na literatura para moluscos bivalves. Bivalve Localizao Cd Hg Pb Referncia
Callista chione Callista chione Crassostrea angulata Crassostrea angulata Mytilus edulis Mytilus edulis Mytilus edulis Mytilus edulis Ruditapes philippinarum Ruditapes philippinarum1 Scrobicularia plana Scrobicularia plana1 Scrobicularia plana Scrobicularia plana
1
-1
Mar Adritico, Itlia Esturio do Sado, Portugal Esturio de Guadalquivir, Espanha Esturio do Sado, Portugal Golfo do Maine, Canad/USA Mar de Bohai, China Esturios de Orwell e Stour, UK Esturio do Tejo, Portugal Mar de Bohai, China Hong Kong, China Esturio de Guadalquivir, Espanha Esturio de Bilbao, Espanha Esturio do Tejo, Portugal Ria de Aveiro, Portugal
0,09-0,3 0,06 1,3 0,37 0,29 0,34-1,96 0,18-0,52 0,13 0,14-0,63 0,24 5-18 0,03 -
0,03 0,04 0,08 0,04-0,12 0,02 47,4 15,3 0,04 0,0050,061
0,20-0,41 0,1 0,37 0,1 0,47 0,16-0,6 0,15-1,5 0,2 0,13-0,33
Storelli e Marcotrigiano, 2010 Loureno et al., 2006 Blasco et al., 1999 Loureno et al., 2006 Chase et al., 2001 Liang et al., 2004 Wright e Mason, 1999 Loureno et al., 2006 Liang et al., 2004 Pan e Wang, 2011
2,28 16-36 1,4 -
Blasco et al., 1999 Ruiz e Saiz-Salinas, 2000 Loureno et al., 2006 Coelho et al., 2006
Valores referentes matriz em base seca.
53
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
As concentraes dos trs metais estudados neste trabalho, demonstra claramente que os diferentes organismos so diferencialmente seletivos para os diferentes metais. As diferenas entre os valores de concentraes dos elementos txicos estudados podem ser explicadas, em primeira instncia, pelo fato de se tratar de diferentes espcies, seguido do fato de que as diferentes espcies podem apresentar diferentes hbitos de alimentao e/ou diferenas na regulao de metais filtrados (Wright e Mason, 1999; Sarkar et al., 2008). Isto , a concentrao dos metais nos tecidos dos moluscos bivalves depende da estratgia de acumulao adotada por cada espcie, para cada metal. Esta estratgia resulta da diferena entre as taxas de absoro e excreo do metal, medida que so afetadas pelas alteraes nos tecidos. As taxas de absoro e excreo so afetadas pelas caractersticas biolgicas do organismo, incluindo a permeabilidade da superfcie externa, a natureza do alimento e a eficincia dos sistemas de osmorregulao (Sarkar et al., 2008). Como exemplo, de acordo com a literatura, as ostras so descritas como organismos com maior capacidade de acumulao de metais quando comparadas com mexilhes (Martini et al., 1984). Tal como ocorre na composio qumica aproximada, as diferenas que se encontram nos teores de metais de contaminantes dentro da mesma amostra e que influenciam os valores do desvio padro, podem ser explicadas por diferentes estgios de maturao dos indivduos, que refletem a idade e o tamanho do organismo, bem como variaes sazonais, tal como foi observado por diferentes autores (Wright e Mason, 1999; Astorga Espaa et al., 2007). As variaes sazonais de concentraes de metal podem ser causadas por fatores tais como drenagem de solos para o esturio, disponibilidade de alimentos, a temperatura, salinidade e o seu ciclo reprodutivo e condio do organismo (Martini et al., 1984; Wright e Mason, 1999). Alm disso, as alteraes em variveis fsico-qumicas, como o pH, a temperatura ou a salinidade, podem influenciar as propores relativas de espcies metlicas e podem modificar a biodisponibilidade dos metais pesados para a absoro por organismos marinhos (Mantoura et al., 1978; Blasco, 1999).
54
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
4. Consideraes finais
conhecido que o consumo de produtos da pesca em algumas zonas do globo apresenta valores bastante elevados, representando, em muitos desses locais, a principal fonte de protenas de origem animal. Os moluscos bivalves analisados apresentaram teores de humidade entre 79 e 85%, sendo este o constituinte maioritrio. Nos dados obtidos neste trabalho verificou-se que a protena o segundo maior constituinte dos bivalves estudados, com teores entre 10 e 14%, e que apresentaram valores relativamente elevados quando comparados com alguns autores. As protenas destes organismos apresentam na sua constituio todos os aminocidos essenciais e reconhecida a sua digestibilidade, o que faz com que estes organismos apresentem uma elevada importncia do ponto de vista nutricional. A cinza foi o constituinte que apresentou menos variao, com teores entre 2 e 4%. Em relao gordura e ao glicognio, estes foram os componentes com menos representatividade com teores entre 0,3 e 1,5% no caso da gordura e 0,5 e 2,5% no caso do glicognio. Os valores energticos obtidos
-1
nos
bivalves
analisados
encontram-se
entre
aproximadamente 50 e 70 kcal.100mg . Existem algumas diferenas entre as espcies analisadas no que concerne ao teor dos diferentes constituintes. Estas so reflexo das condies do meio envolvente ao longo do seu desenvolvimento e da sua maturidade. Devido aos seus hbitos sedentrios, a composio qumica dos bivalves est igualmente relacionada com a disponibilidade de alimentos e com a poca de captura. Assim sendo, observando globalmente os resultados obtidos, os bivalves apresentaram um baixo teor de glicognio e de gordura, e um baixo valor energtico podendo ser, por isso, considerado gneros alimentcios de consumo benfico. Sendo amplamente conhecidos os diversos benefcios do consumo destes produtos, cada vez mais divulgados por diversas organizaes mundiais, de extrema importncia a investigao do grau de contaminao por metais pesados e a avaliao dos riscos em oposio aos benefcios do seu consumo como parte essencial de uma dieta saudvel. Os nveis de metais pesados analisados encontram-se abaixo dos limites da Comisso Europeia, com exceo da ostra portuguesa capturada no esturio do Sado, que poder representar um risco para o consumo humano. A ostra portuguesa do Sado apresentou um nvel de contaminao de cdmio superior ao limite imposto na legislao, exigindo desta forma, uma ao por parte das autoridades competentes relativamente apanha e consumo deste bivalve.
55
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Tal como outros esturios, os esturios do Sado e do Tejo apresentam uma atividade muito intensa, recebendo mltiplos inputs de diversas fontes, tornando-se por isso reas muito vulnerveis. Verificou-se que apenas o chumbo apresentou diferenas entre os dois locais de amostragem, sendo que o esturio do Tejo o que apresenta valores mais elevados Ainda que os resultados obtidos sejam indicadores de alguma poluio que se reflete nos bivalves que habitam esta rea, esta informao necessita de ser complementada com outros parmetros essenciais, como a frequncia e quantidade que costuma ser colhida e includa na dieta da populao. Apesar dos teores obtidos serem inferior aos limites mximos legislados, exceo da ostra portuguesa do esturio do Sado, estes metais continuam a ser potencialmente prejudiciais, e dado possurem a capacidade de bioacumulao, apresentam ainda um maior risco potencial para a populao. Como uma medida de precauo, esforos devem ser feitos para reduzir as entradas de metais, alm das medidas corretivas como a interdio da apanha de ostra no esturio do Sado. Deve ainda dar-se continuidade ao estudo da contaminao da flora macrobentnica atravs de uma monitorizao continua destes sistemas aquticos. De forma genrica e considerando os restantes resultados obtidos neste estudo sugerem que num quadro de uma alimentao diversificada o consumo destas espcies no constitui um perigo para a populao. So uma boa fonte de protenas com um baixo teor de gordura e baixo valor energtico, o que proporciona um elevado interesse do ponto de vista nutricional, podendo continuar a fazer parte integrante no s da gastronomia tradicional, mas tambm como matriaprima da nouvelle cuisine.
4.1. Perspetivas futuras
Ao longo da realizao deste trabalho foi possvel detetar alguns ajustes que podero ser feitos em futuros estudos e investigaes de modo a maximizar a quantidade e qualidade dos resultados obtidos. Uma das alternativas seria a realizao de um perodo de amostragem mais prolongado para a obteno de um espectro de resultados mais alargado. Seria tambm benfico o estudo de bivalves de outros locais dos esturios ou de outros esturios e ainda de outras espcies de importncia comercial. Em relao composio qumica dos bivalves, apesar de existirem j alguns estudos nesse sentido, seria de elevado interesse o aprofundamento dos conhecimentos referentes composio da frao lipdica ou o perfil de minerais dos bivalves, nomeadamente em funo da espcie, da localizao e da sazonalidade. Alm deste aspeto, outra perspetiva de anlise engloba as alteraes sofridas na composio, consequentes de tratamentos trmicos ou de diferentes mtodos de conservao. No que respeita a contaminao por metais, reala-se a necessidade de um planeamento mais adequado da monitorizao dos nveis de metais pesados nos produtos da pesca, para que os dados possam ser analisados numa perspetiva global que contemple no s os requisitos
56
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
legais mas tambm os aspetos da eventual exposio continuada dos consumidores a estes metais. ainda de interesse o estudo da relao entre a acumulao de metais contaminantes e as caractersticas do meio envolvente, bem como os dados biomtricos dos bivalves em estudo. Desta forma, seria benfico a anlise de parmetros como a temperatura, a salinidade e o pH da gua e dos sedimentos, a determinao do fator de bioconcentrao, isto , a razo entre a concentrao de um contaminante no organismo e a concentrao no meio envolvente, e o registo de dados morfomtricos e o ndice de condio dos bivalves. A experincia mostra que a constante divulgao da informao cumpre um papel essencial na preparao, estruturao e aplicao das aes de gesto de riscos. Estas aes devem ser ponderadas face ao valor nutricional dos bivalves e sua importncia econmico-social. Assim sendo, qualquer ao que se pretenda realizar ou medida a implementar dever ter em considerao a eventual contaminao dos moluscos bivalves com metais pesados em funo dos parmetros associados captura e aos benefcios do consumo de bivalves. As opes de desenvolvimento futuro e as diferentes formas de atuao so responsveis pela implementao de um sistema que garanta a segurana, bem como de propostas de legislao, normas e inspeo. Assim sendo, fundamental que o sector das pescas tenha como suporte as atividades de investigao como forma de previso, de preveno, de sugestes e de solues para possveis irregularidades.
57
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
58
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
5. Bibliografia
Albentosa, M., Fernndez-Reiriz, M. J., Labarta, U., Prez-Camacho, A., 2007. Response of two species of clams, Ruditapes decussatus and Venerupis pullastra, to starvation: Physiological and biochemical parameters. Comparative Biochemistry and Physiology, 146(B): 241249. Anbal, J., Esteves, E., Rocha, C., 2011. Seasonal Variations in Gross Biochemical Composition, Percent Edibility, and Condition Index of the Clam Ruditapes decussatus Cultivated in the Ria Formosa (South Portugal). Journal of Shellfish Research, 30(1):17-23. Astorga Espaa, M. S., Rodrguez, E. M. R., Romero, C. D., 2007. Comparison of mineral and trace element concentrations in two molluscs from the Strait of Magellan (Chile). Journal of Food Composition and Analysis, 20: 273-279. Belitz, H.-D., Grosch, W., Schieberle, P., 2004. Food Chemistry, Fourth Edition. Springer-Verlag, Berlin, 1070 p. Bigas, M., Durfort, M., Poquet, M., 2006. Cytological response of hemocytes in the European flat oyster, Ostrea edulis, experimentally exposed to mercury. Biometals, 19: 659-673. Blasco, J., Arias, A. M., Senz, V., 1999. Heavy metals in organism of the river Gualquivir estuary: possible incidence of the Aznalcllar disaster. Science of Total Environmental, 242: 249-259. BOE, 2007. Base de datos terminolgicos y de identificacin de especies pesqueras de las costas de Cdiz y Huelva. In: Listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en Espaa. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin, [online]. Madrid. Atualizado em 2007. [Consultado a 31 de julho 2012]. Disponvel em: <http://www.ictioterm.es/referencia_bibliografica.php?rb=23>. Cabello, A. M., Lezama, R. V. V., Garca, B. E. F., Marcano, M. C. R., Figueroa, Y. V. M., Gonzlez, O. M. V., 2004. Parmetros de Frescura de moluscos (Freshness Parameters of Mollusks). Revista Cientfica FCV/LUZ, 14(5): 457- 466. Caeiro, S., Costa, M. H., Ramos, T. B., Fernandes, F., Silveira, N., Coimbra, A., Medeiros, G., Painho, M., 2005. Assessing heavy metal contamination in Sado Estuary sediment: An index analysis approach. Ecological Indicators, 5: 151-169. Camacho, A. P., Labarna, U., Beiras, R., 1995. Growth of mussel Mytilus edulis galloprovincialis on cultivation rafts: influence of seed source, cultivation site and phytoplankton availability. Aquaculture, 138: 349-362. CE, 2006. Regulamento (CE) n. 1881/2006 da Comisso de 19 de dezembro que fixa os teores mximos de certos contaminantes presentes nos gneros alimentcios. JO L 364 20-122006 pp.5-24.
59
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
CE, 2008. Regulamento (CE) n. 629/2008 da Comisso de 2 de julho que altera o Regulamento (CE) n. 1881/2006 que fixa os teores mximos de certos contaminantes presentes nos gneros alimentcios. JO L 173 03-07-2008 pp. 6-9. CEN, 2003. European Standard EN 14084: Foodstuffs Determinations of trace elements Determinations of lead, cadmium, zinc, copper rand iron by atomic absorption spectrometry (AAS) after microwave digestion. CEN European Committee for standardization, 16 p. Chase, M. E., Jones, S. H., Henningar, P., Sowless, J., Harding, G. C. H., Freeman, K., Wells, P. G., Coombs, K., Crawford, R., Pederson, J., 2001. Gulfwatch: Monitoring spatial and temporal patterns of trace metal and organic contaminants in the gulf of Maine (1991-1997) with the blue mussel, Mytilus edulis L. Marine Pollution Bulletin, 42:491-505. Claisse, D., Cossa, D., Bretaudeau-Sanjuan, J., Touchard, G., Bombled, B., 2001. Methylmercury in Molluscs along the French coast. Marine Pollution Bulletin, 42(4): 329-332. Coelho, J. P., Rosa, M., Pereira, E., Duarte, A., Pardal., M. A., 2006. Pattern and anual rates of Scrobicularia plana Mercury bioaccumulation in a human induced Mercury gradient (Ria de Aveiro, Portugal). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 69: 629-635. Decreto-Lei n. 430/80 de 1 de Outubro de 1980 que cria a Reserva Natural do Esturio do Sado. Srie I, 227/80, pp. 3066-3068. Deslous-Paoli, J.-M., Hral, M., 1988. Biochemical composition and energy value of Crassostrea gigas (Thunberg) cultured in the bay of Marennes, Olron. Aquatic Living Resources, 1: 239249. Dincer, T., 2006. Differences of Turkish clam (Ruditapes decussates) and Manila clam (Ruditapes philippinarum) according to their proximate composition and heavy metal contents. Journal of Shellfish Research, 25(2):455-459. EPA, 1997. Mercury Study Report to Congress. Volume III: Fate and Transport of Mercury in the Environment. Environment Protection Agency, Estados Unidos da Amrica, 376 p. EPA, 1998. Test method 7473: Mercury in solids and solutions by thermal decomposition, amalgamation and atomic absorption spectrometry, Environment Protection Agency, Estados Unidos da Amrica, 14 p. Erkan, N., zden, ., Ulusoy, S., 2011. Seasonal Micro- and Macro-Mineral Profile and Proximate Composition of Oyster (Ostrea edulis) Analyzed by ICP-MS. Food Analytical Methods, 4: 35 40. FAO, 1989. Yield and nutritional value of the commercially more important fish species. Vol. 309, FAO Fisheries Technical Papers, 187 p. FAO, 2005. Cultured Aquatic Species Information Programme. Ruditapes philippinarum. Cultured Aquatic Species Information Programme. Goulletquer, P. In: FAO Fisheries and
60
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Aquaculture Department [online]. Rome. Atualizado a 1 de janeiro de 2005. [Consultado a 31 de julho 2012]. http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/en FAO, 2012. The State of World Fisheries and Aquaculture 2012. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy. 209 p. Fauconneau, B., 2002. Health value and safety quality of aquaculture products. Revue de Mdecine Vtrinaire, 153(5): 331-336. Fvaro, D. I. T., Chicourel, E. L., Maihara, V. A., Zangrande, K. C., Rodrigues, M. I., Barra, L. G., Vasconcellos, M. B. A., Cozzolino, S. M. F., 2001. Evaluations of some essential and trace elements in diets from 3 nurseries from Juiz de Fora, M. G., Brazil, by neutron activation analysis. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 249: 15-19. Feng, Y., Tuo, Y., Zhongming, H., Yuehuan, Z., Xiwu, Y., Guofan, Z., 2010. Effects of starvation on growth, survival, and body biochemical composition among different sizes of Manila clam Ruditapes philippinarum. Acta Ecologica Sinica, 30: 135-140. Fraga, F., 1956. Variacin estacional de la composicin qumica del mejilln (Mytilus edulis). I. Investigacion Pesquera, 4: 109-125. Freire, P., Taborda, R., Andrade, C., 2006. Caracterizao das praias estuarinas do Tejo. 8 Congresso da gua, Figueira da Foz, APRH (Associao Portuguesa dos Recursos Hdricos), 12 p. Garcs, J. e Costa, H., 2009. Trace metals in populations of Marphysa sanguinea (Montagu, 1813) from Sado estuary: effect of body size on accumulation. Scientia Marina, 73(3): 605-616. Gkolu, N., Yerlikaya, P., Gkolu, M., 2008. Trace elements in edible tissues of three shrimps species (Penaeus semisulcatus, Parapenaeus longirostris and Paleomon serratus). Journal of the Science Food and Agriculture, 88: 175-178. Gksu, M. Z. L., Akar, M., evik, F., Findik, ., 2005. Bioaccumulation of some heavy metals (Cd, Fe, Zn, Cu) in two bivalvia species (Pinclada radiada Leach, 1814 and Brchidontes pharaonis Fischer, 1870). Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 29: 89-93. Goyer, R. A., Clarkson, T. W., 2001. Toxic effects of metals. In: Casarett and Doulls Toxicology: The basic science of poisons, C. D. Klaassen (Ed.), McGraw-Hill, NY USA, pp. 811-867. Graham, W. M., Largier, J.L., 1997. Upwelling shadows as nearshore retention sites: the example of northern Monterey Bay. Continental Shelf Research, 17: 509-532. Gner S., Diner, B., Alemda N., olak, A., Tfeki, M., 1998. Proximate composition and selected mineral content of commercially important fish species from the Black Sea. Journal of the Science Food and Agriculture, 78: 337-342. Haard, N.F., 1992. Control of chemical composition and food quality attributes of cultured fish. Food Research International, 25: 289-307.
61
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Helm, M. M., Bourne, N., 2004. Hatchery culture of bivalves: a practical manual. FAO Fisheries technical paper 471. Food and Agriculture Organization, Rome, 201 p. Hui, Y. H., Cross, N., Kristinsson, H. G., Lim, M. H., Nip, W. K., Siow, L. F., Stanfield, P. S., 2006. 16 Biochemistry of Seafood Processing. In: Food Biochemistry and Food Processing, Hui, Y. H., Nip, W.-K., Nollet, L. M.L., Paliyath, G., Simpson, B. K. (Eds.). Blackwell Publishing, Iowa, pp. 351-378. ICNF, 2010. A Ostra Portuguesa Recuperao de um patrimnio. Estudos, projectos e conservao conservao da natureza e biodiversidade. Atualizado em 2010. [Consultado a 23 de Agosto de 2012]. Disponvel em: <http://www.icnf.pt/ICNPortal/ vPT2007-APEstuarioSado/A+Reserva/Estudos+Projectos+e+Accoes+de+Conservacao/ Conservacao+da+Natureza+e+Biodiversidade/?res=1366x768> INE, 2011. Estatsticas da Pesca 2010. Direco Geral das Pescas e Aquicultura. Instituto Nacional de Estatstica I. P., Lisboa-Portugal, 101 p. INE, 2012. Estatsticas da Pesca 2011. Direco Geral das Pescas e Aquicultura. Instituto Nacional de Estatstica I. P., Lisboa-Portugal, 130 p. IPQ, 2009 . NP 1972 Produtos da pesca e da aquicultura: Determinao do teor de matria gorda livre. Instituto Portugus da Qualidade, Caparica, 7 p. IPQ, 2009 . NP 2032 Produtos da pesca e da aquicultura: Determinao do teor de cinza total. Instituto Portugus da Qualidade, Caparica, 7 p. IPQ, 2009 . NP 2282 Produtos da pesca e da aquicultura: Determinao da humidade. Instituto Portugus da Qualidade, Caparica, 7 p. INSA (2006). Tabela da composio de alimentos. Centro de Segurana Alimentar e Nutrio INSA (Eds.). Instituto Nacional de Sade Dr. Ricardo Jorge, Lisboa, 355 p. ITIS, 2012. Integrated Taxonomic Information System on-line database. Atualizado a 19 de julho. [Consultado a 9 de agosto de 2012] Disponvel em: <http://www.itis.gov> Jorhem, L., 2000. Determination of metals in food by atomic absorption spectrometry after dry ashing: NMKL Collaborative study. JAOAC International, 83: 1204-1211. Jouanneau, J. M., Garcia, C., Oliveira, A., Rodrigues, A., Dias, J. A., Weber, O., 1998. Dispersal and deposition of suspended sediment on the shelf off the Tagus and Sado estuaries, S.W. Portugal. Progress in Oceanography 42: 233257. Karakoltsidis, P. A., Zotos, A., Constantinides, S. M., 1995. Composition of the commercially important mediterranean finfish, crustaceans and molluscs. Journal of Food Composition and Analysis, 8: 258-273. Kirsten, W.J., Hesselius, G. U., 1983. Rapid automatic, high capacity Dumas determination of nitrogen. Microchemical Journal 28: 529-547.
c b a
62
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Klein, G. L., 2005. Heavy Metals. In: Encyclopedia of Human Nutrition. 2
nd
Ed. Caballero, B., Allen,
L., Prentice, A. (Eds.) Elsevier Academic Press, Oxford, pp. 344-350. Lees, D., 2000. Viruses and bivalve shellfish. International Journal of Food Microbiology, 59: 81116. Liang, L. N., He, B., Jiang, G. B., Chen, D. Y., Yao, Z. W., 2004. Evaluation of molluscs as biomonitors to investigate heavy metal contaminations along the Chinese Bohai Sea. Science of Total Environment, 324:105-113. Loureno, H., Lima, C., Oliveira, A., Gonalves, S., Afonso, C., Martins, M. F., Nunes, M. L., 2006. Concentrations of Mercury, lead and cadmium in bivalves from the Portuguese coast. In: Seafood research from fish to dish Quality, safety and processing of wild and farmed fish. Luten, J. B., Jacobsen, C., Beakaert, K. (Eds.) Wageningen Academic Publishers, Wageningen, Netherland, 497-502. Maanan M., 2007. Biomonitoring of heavy metals using Mytilus gallopprovinvialis in Sati Coastal Waters, Morroco, Inc. Environmental Toxicology, 22: 525-531. Mantoura, R. F. C., Dickson A., Riley J. P., 1976. The complexation of metals with humic materials in natural waters. Estuarine Coastal Marine Science, 6: 387-408. Martini, D., Niirnberg, H. W., Stoeppler, M., Branica, M., 1984. Bioaccumulation of heavy metals by bivalves from Lim Fjord (North Adriatic Sea). Marine Biology, 81: 177-188. Martino, R. C., Cruz, G. M., 2004. Proximate Composition and Fatty Acid Content of the Mangrove Oyster Crassostrea rhizophorae Along the Year Seasons. Brazilian Archives of Biology and Technology, 47(6): 955-960. Mikac, N., Kwokal, Z., Martincic, D., Branica, M., 1996. Uptake of mercury species by transplanted mussels Mytilus galloprovincialis under estuarine conditions (Krka river estuary). Science of the Total Environment, 184: 173-182. Nielsen, S. S., 2010. Food Analysis, Fourth Edition. Springer, London, 602 p. Nunes, M. L., Batista, I., Bandarra, N.M., Morais, M. G., Morais, M. G., Rodrigues, P. O., 2008. Produtos da pesca: valor nutricional e importncia para a sade e bem-estar dos consumidores. Publicaes avulsas do IPIMAR 18, 77 p. Okumu, ., Stirling, H. P., 1998. Seasonal variations in the meat weight, condition index and biochemical composition of mussels (Mytilus edulis L.) in suspended culture in two Scottish sea lochs. Aquaculture, 159: 249-261. Oliveira, J., Cunha, A., Castilho, F., Romalde, J. L., Pereira, M. J., 2010. Microbial contamination and purification of bivalve shellfish: Crucial aspects in monitoring and future perspectives A mini-review. Food Control, 22(6): 805-816.
63
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Orban, E., Di Lena, G., Nevigato, T., Casini, I., Marzetti, A., Caproni, R., 2002. Seasonal changes in meat content condition index and chemical composition of mussels (Mytilus galloprovincialis) cultures in two different Italian sites. Food Chemistry, 77: 57-65. Pan, K., Wang, W. X., 2011. Mercury accumulation in marine bivalves: Influences of biodynamics and feeding niche. Environmental Pollution, 159: 2500-2506. Paterson, B., Goodrick, B., Frost, S., 1997. Controlling the quality of aquacultured food products. Trends in Food Science and Technology, 8: 253-257. Pereira, M. E., Lilleb, A. I., Pato, P., Vlega, M., Coelho, J. P., Lopes, C. B., Rodrigues, S., Cachada, A., Otero, M., Pardal, M. A., Duarte, A. C., 2009. Mercury pollution in Ria de Aveiro (Portugal): a review of the system assessment. Environmental Monitoring and Assessment, 155(1-4): 39-49. Pipe, R. K., Coles, J. A., 1995. Environmental contaminants influencing immune function in marine bivalve molluscs. Fish & Shellfish Immunology, 5: 581-595. R, P., 1984. Ictioplncton da regio central da costa portuguesa e do esturio do Tejo. Ecologia da postura e da fase planctnica de Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) e de Engraulis encrasicolus (Linn, 1758). Tese, Universidade de Lisboa, 425 p. Ribeiro, S., Amorim, A., 2008. Environmental drivers of temporal succession in recent dinoflagellate cyst assemblages from a coastal site in the North-East Atlantic (Lisbon Bay, Portugal). Marine Micropaleontology, 68: 156-178. Riisgrd, H. U., Kirboe, T., Mhlenberg, f., Drabk, I., Madsen, P. P., 1985. Accumulation, elimination and chemical speciation of mercury in the bivalves Mytilus edulis and Macoma balthica. Marine biology, 86: 55-62. Ruiter, A., 1995. Contaminants in fish. In: A. Ruiter (ed.), Fish and fishery products composition, nutritive properties and stability, Cab internacional, UK, pp. 261-285. Ruiz, J. M., Saiz-Salinas, J. I., 2000. Extreme variation in the concentration of trace metals in sediments and bivalves from the Bilbao estuary (Spain) caused by the 1989-90 drought. Marine Environmental Research, 49:307-317. Sabyj, B. M., Creamer, D. L., True, R. H., 1979. Seasonal effect on yeld, proximate composition, and quality of blue mussel, Mytilus edulis, meats obtained from cultivated and natural stock. Marine Fisheries Riview, 1321: 18-23. Sarkar, S. K., Cabrla, H., Chatterjee, M., Cardoso, I., Bhattacharya, A. K., Satpathy, K. K., Alam, M. A., 2008. Biomonitoring of Heavy Metals Using the Bivalve Molluscs in Sunderban Mangrove Wetland, Northeast Coast of Bay of Bengal (India): Possible Risks to Human Health. Clean 36(2): 187-194. Seifter, S., Dayton, S., Novic, B., Muntwyler, E., 1950. The estimations of glycogen with anthrone reagent. Archives of Biochemistry, 25(1): 191-200.
64
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Silva, H.A., Batista, I. (Eds.), 2008. Produo, salubridade e comercializao dos moluscos bivalves em Portugal, Publicaes avulsas do IPIMAR 20, 171 p. Storelli, M. M., Marcotrigiano, G. O., 2001. Consumption of bivalve mollusc in Italy: estimated intake of cadmium and lead. Food Additives and Contaminants, 18(4): 303-307. Thorp, J. H., Covich, A. P., 1991. Ecology and Classification of North American Freshwater Invertebrates. Academic Press, Inc., California, 927 p. USDA, 2012. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. Nutrient Data Laboratory, Agricultural Research Service, U.S. Department of Agriculture, USA. Atualizado em Setembro de 2012. [Consultado em Setembro de 2012]. Disponvel em:
<http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl>. Usero, J., Morillo, J., Garcia, I., 2005. Heavy metal concentrations in molluscs from the Atlantic coast of southern Spain. Chemosphere, 59: 1175-1181. Vasconcelos, M. S., 2002. A Condio Humana e os Oceanos. Brevirio de Meditao. IPIMAR, Lisboa, 370 p. Veiga, A., Lopes, A., Carrilho, E., Silva, L., Dias, M. B., Seabra, M. J., Borges, M., Fernandes, P., Nunes, S., 2009. Perfil de risco dos principais alimentos consumidos em Portugal. Autoridade de Segurana Alimentar e Econmica, 330 p. Vernocchi, P., Maffei, M., Lanciotti, R., Suzzi, G., Gardini, F., 2007. Characterization of Mediterranean mussels (Mytilus galloprovincialis) harvested in Adriatic Sea (Italy). Food Control, 18: 1575-1583. Viles, P., Silverman, J., 1949. Determination of starch and cellulose with anthrone. Analytical Chemistry, 21(8): 950-953. Wright, P., Mason, C. F., 1999. Spatial and seasonal variation in heavy metals in the sediments and biota of two adjacent estuaries, the Orwell and the Stour, in eastern England. The Science of the Total Environment, 226:139-156.
65
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Anexos
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
I.
Dados
-1
Tabela I.1 - Composio qumica aproximada (%) e valor energtico (kcal.100g ), das amostras dos moluscos bivalves estudadas, resultado de duas rplicas de amostras constitudas por 15 a 30 organismos. Valor energtico 58,0 45,6 59,8 67,6 59,2 65,3 60,5 60,0 73,5 66,3 69,5 73,7 70,9 69,6 66,6 69,0 46,0 65,9 64,7 57,4 61,0 61,3 56,0 45,4 62,1 61,8 52,1 42,1 47,3 68,3 63,3 73,6 75,2 62,4 68,8
Amostra AJS
Nmero 3
Humidade 82,1 85,1 81,2
Protena 12,8 9,6 11,9 13,9 12,3 11,9 12,6 13,0 13,9 13,7 14,3 14,9 14,0 13,5 12,7 12,3 8,0 11,8 12,7 10,2 13,0 11,5 11,6 9,0 12,0 12,7 11,3 8,7 9,0 12,8 11,6 13,7 15,2 10,7 11,1
Gordura 0,32 0,50 0,31 0,87 0,6 0,87 0,74 0,69 0,30 0,30 0,30 0,50 0,90 0,80 0,59 0,49 0,44 0,68 0,42 0,43 0,88 1,24 0,98 0,95 0,94 1,05 0,46 0,65 0,99 1,38 0,89 1,14 0,85 0,87 1,28
Cinza 2,91 3,09 3,36 3,14 2,95 2,96 2,91 3,02 3,02 3,00 2,8 3,01 3,14 3,16 3,32 3,21 3,55 3,06 3,36 3,08 2,6 2,9 2,81 3,05 2,73 3,11 3,41 3,03 3,13 2,37 2,42 3,04 3,14 3,32 3,62
Glicognio 1,0 0,7 2,4 1,0 1,2 2,5 0,9 0,5 3,8 2,2 2,4 2,4 1,7 2,1 2,7 3,8 2,6 3,2 2,5 3,2 0,3 1,0 0,2 0,2 1,5 0,4 0,7 0,4 0,7 1,2 2,2 2,1 1,7 2,9 3,2
AJT
80,4 82,2 80,5 81,2 83,6
AS
78,5 80,3 79,4 78,4 79,3 81,2
LS
79,3 79,9 84,6 80,3 80,0 82,5
MC
82,3 82,5 84,4 88,1 83,8
MT
81,4 83,6 86,5 85,3
OPS
80,4 81,2 79,8 80,9 80,5 80,0
Faculdade de Cincias e Tecnologia - UNL
Tabela I.2 - Concentrao de cdmio, chumbo e mercrio (mg.kg ), dos moluscos bivalves estudados, resultado de duas rplicas de amostras constitudas por 15 a 30 organismos. Amostra AJS Nmero 1 2 3 AJT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AS 1 2 3 4 5 6 LS 1 2 3 4 5 6 7 MC 1 2 3 4 5 6 7 MT 1 2 3 4 OPS 1 2 3 4 5 6 7 8 Cdmio 0,18 0,07 0,16 0,28 0,21 0,16 0,18 0,11 0,15 0,13 0,13 0,13 0,12 0,14 0,10 0,10 0,10 0,05 0,09 0,05 0,03 0,13 0,03 0,24 0,39 0,10 0,07 0,10 0,13 0,05 0,12 0,25 0,14 0,07 0,07 1,50 0,59 0,36 1,40 1,36 1,32 0,98 0,87 Chumbo 0,09 0,04 0,12 0,39 0,77 0,91 0,80 0,66 0,75 0,80 0,61 0,63 0,09 0,16 0,11 0,10 0,02 0,14 0,76 0,62 0,56 0,45 0,89 0,76 0,76 0,10 0,32 0,41 0,45 0,50 0,23 0,33 0,62 0,60 0,34 0,28 0,00 0,03 0,02 0,02 0,10 0,07 0,03 0,07 Mercrio 0,04 0,02 0,03 0,10 0,04 0,05 0,05 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,06 0,03 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02
-1
Você também pode gostar
- Avaliação Profop Unifaveni - GenéticaDocumento5 páginasAvaliação Profop Unifaveni - GenéticaAline LaudelinoAinda não há avaliações
- Plano Anual 4º Ano Ensino FundamentalDocumento10 páginasPlano Anual 4º Ano Ensino FundamentalLauren Guy100% (6)
- 2 - Resident Evil - O Incidente de Caliban Cove PDFDocumento50 páginas2 - Resident Evil - O Incidente de Caliban Cove PDFJonatas VazAinda não há avaliações
- Prova Mestrado em EcologiaDocumento6 páginasProva Mestrado em EcologiamanoelprestesAinda não há avaliações
- Guia - Os 3 Primeiros Passos para Dominar Luminotécnica PDFDocumento24 páginasGuia - Os 3 Primeiros Passos para Dominar Luminotécnica PDFigor dias100% (1)
- Texto Motivacional O CARPINTEIRODocumento2 páginasTexto Motivacional O CARPINTEIROLida PereiraAinda não há avaliações
- Exercicios de ProbabilidadeDocumento182 páginasExercicios de Probabilidaderogrijo50% (2)
- CURSO - Avaliação de Impactos AmbientaisDocumento55 páginasCURSO - Avaliação de Impactos AmbientaisGabi Martins100% (1)
- Araujo, R.S., Silva, G.V., Freitas, D., Klein, A.H.F.2008 Georreferenciamento de Fotografias Aereas e Analise Da Variacao Da Linha de CostaDocumento17 páginasAraujo, R.S., Silva, G.V., Freitas, D., Klein, A.H.F.2008 Georreferenciamento de Fotografias Aereas e Analise Da Variacao Da Linha de CostaFilipeAinda não há avaliações
- Almanaque Astronômico - 2023Documento158 páginasAlmanaque Astronômico - 2023baguedesAinda não há avaliações
- Ementas Das Disciplinas - Geografia UFPRDocumento13 páginasEmentas Das Disciplinas - Geografia UFPRClevissonAinda não há avaliações
- Biogeografia de Roraima PDFDocumento15 páginasBiogeografia de Roraima PDFSantiago Vasquez100% (1)
- Anatomia Do OlhoDocumento5 páginasAnatomia Do Olhoca150587Ainda não há avaliações
- A Paisagem Da BordaDocumento20 páginasA Paisagem Da BordaTayane AraujoAinda não há avaliações
- Manual Cal JetDocumento17 páginasManual Cal Jetmarcos_ayala_12Ainda não há avaliações
- L6766-79 - Parcelamento Do Solo UrbanoDocumento12 páginasL6766-79 - Parcelamento Do Solo UrbanocbjrnmgAinda não há avaliações
- Uma Tartaruga Chamada DostoievskiDocumento11 páginasUma Tartaruga Chamada DostoievskiMenina EvaAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios - IpgDocumento7 páginasLista de Exercícios - IpgLuíza N.Ainda não há avaliações
- Serrao, Daniel A Etica Medica Ao Longo Do TempoDocumento10 páginasSerrao, Daniel A Etica Medica Ao Longo Do TempojorgemppachecoAinda não há avaliações
- Os Trabalhos Mais Importantes de BrentanoDocumento4 páginasOs Trabalhos Mais Importantes de BrentanoGoncalvesMarceloAinda não há avaliações
- Ficha de Trabalho - Relações Inter-Específicas IDocumento3 páginasFicha de Trabalho - Relações Inter-Específicas Iarm.bio100% (1)
- Estuario Do Tejo - Aves2Documento80 páginasEstuario Do Tejo - Aves2Lídia100% (1)
- Edital Concurso SESIDocumento28 páginasEdital Concurso SESILeandro De Andrade ArrudaAinda não há avaliações
- Anexo B Ato 8459 CBTDocumento42 páginasAnexo B Ato 8459 CBTPedro AguiarAinda não há avaliações
- Estranhos - Dean Ray Koontz PDFDocumento386 páginasEstranhos - Dean Ray Koontz PDFGuilherme SilvaAinda não há avaliações
- Questoes Mestre Com Respostas MarcadasDocumento28 páginasQuestoes Mestre Com Respostas MarcadasAndré FariaAinda não há avaliações
- Impactos Ambientais Do Caulim em Nova FlorestaDocumento7 páginasImpactos Ambientais Do Caulim em Nova FlorestaWallace DantasAinda não há avaliações
- Camas ElevadasDocumento7 páginasCamas ElevadasFlorbela BarretoAinda não há avaliações
- E Bookbiosseguranca Enfconcursos PDFDocumento46 páginasE Bookbiosseguranca Enfconcursos PDFDayanneGuterresAinda não há avaliações
- Grade Curricular de AgronomiaDocumento3 páginasGrade Curricular de AgronomiaLarissa StarlingAinda não há avaliações