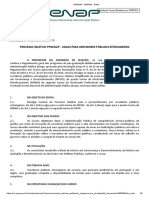Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Anotações de KAZADI WA MUKUNA. Sobre A Busca Da Verdade Na Etnomusicologia
Anotações de KAZADI WA MUKUNA. Sobre A Busca Da Verdade Na Etnomusicologia
Enviado por
daniel_avila42510 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
12 visualizações5 páginasAnotações de KAZADI WA MUKUNA. Sobre a Busca Da Verdade Na Etnomusicologia
Título original
Anotações de KAZADI WA MUKUNA. Sobre a Busca Da Verdade Na Etnomusicologia
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
TXT, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoAnotações de KAZADI WA MUKUNA. Sobre a Busca Da Verdade Na Etnomusicologia
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato TXT, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
12 visualizações5 páginasAnotações de KAZADI WA MUKUNA. Sobre A Busca Da Verdade Na Etnomusicologia
Anotações de KAZADI WA MUKUNA. Sobre A Busca Da Verdade Na Etnomusicologia
Enviado por
daniel_avila4251Anotações de KAZADI WA MUKUNA. Sobre a Busca Da Verdade Na Etnomusicologia
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato TXT, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 5
Anotaes de KAZADI WA MUKUNA.
Sobre a busca da verdade na etnomusicologia: um ponto
de vista. Revista USP
Bonnie Wade (2006): Ns [etnomusiclogos] mudamos de um mtodo predominante e explicita
mente comparativo para a pesquisa predominantemente etnogrfica; de um enfoque ini
cial na msica na histria humana em termos evolutivos para um enfoque na msica em co
ntato cultural; da anlise de estruturas de itens e sistemas para um enfoque na anl
ise de estruturas de significados; de uma compreenso da msica como reflexo de uma
cultura para msica como fora de
influncia dentro de uma cultura e agente de sentido social; de um enfoque no luga
r para um enfoque no espao; com nossas antenas alertas s importantes idias de outra
s disciplinas, as quais estamos prontos a explorar e com as quais esperamos cont
ribuir por meio de nossos estudos musicais.
questo primria do porqu da msica ser como (Merriam, 1964, p. 7).
Cincia sem um projeto nico, central ou hegemnico, Uma disciplina em busca de consol
idao: "O exame de sua histria revela que, a despeito das mudanas e por um longo perod
o desde sua concepo, a etnomusicologia esteve voltada principalmente para sua prpri
a definio, para a demarcao da natureza de seu campo de pesquisa e seus objetivos sua
meta final ou sua raison dtre." (p. 14)
Alan Merriam: coloca a etnomusicologia juntamente com as cincias sociais e as hum
anidades. Seus procedimentos e metas, escreve Merriam (1964, p. 25), voltam-se p
ara o lado das cincias sociais, enquanto seu eixo temtico
um aspecto humanstico da existncia humana.
John Ellis Alexandre (1885): Para legitimar sua existncia como campo de investigao
cientfica, a etnomusicologia se valeu grandemente da concluso a que chegou o fillog
o ingls em seu estudo sobre a existncia de vrias tradies musicais e seus sistemas de
escalas, as quais eram baseadas em princpios diferentes dos encontrados na Europa
. Durante os anos que se seguiram, foi publicado um grande nmero de trabalhos, os
quais revelaram a
variedade de tradies musicais do mundo, e a maioria deles apontava a diferena em es
calas e corroborava a teoria formulada no estudo de Alexandre.
A maioria das publicaes dessa categoria inclua em seus ttulos o prefixo identificado
r A msica de, como por exemplo: J-B du Halde, On the Music of
China, 1735; B. J. Gilman, Zuni Melodies, 1889; Charles Russell Day, The Music and
Musical Instruments of Southern India and the Deccan, 1891; Sir Francis Taylor
Piggott, The Music and Musical Instruments of Japan, 1893.
Merriam - The Anthropology of Music (1964): enfoque e interesse novos direcionad
os ao comportamento humano, com isso dotando essa disciplina de um objetivo mais
significativo.
msica um produto cultural - Merriam (1964, p. 7) faz a primeira definio etnomusicolg
ica da msica: A msica um produto do comportamento humano e possui estrutura, mas su
a estrutura no pode ter existncia prpria se divorciada do comportamento que a produ
z.
Kazadi wa Mukuna, 1999, p. 184: "a meta final do campo da etnomusicologia, como
disciplina scio-humana, contribuir para a compreenso dos humanos no tempo e no esp
ao por meio de suas expresses musicais." (p. 14)
Meriam: a msica seu objeto e no seu objetivo. Portanto, a ateno dos etnomusiclogos de
ve incluir mas no se limitar ao entendimento da estrutura fsica da expresso musical
. Estes devem se empenhar em decifrar o fenmeno cultural que influenciou o compor
tamento produtor de tal estrutura musical. (...) Na equao a ser decifrada, a msica
o elemento conhecido, enquanto o desconhecido o sentido/verdade existe abaixo de
camadas de uma variedade de fenmenos que constituem o vcu (experincia de vida) de
um indivduo e que influenciam seu comportamento.
O diagrama a seguir, extrado da definio de Merriam, faz uma interpretao em sentido in
verso, a partir do conhecido para o desconhecido
(Kazadi wa Mukuna, 1999, pp. 182-5).: Msica (conhecido) -> Comportamento/Ao -> Conc
eito/Pensamento -> Rede de relaes
a etnomusicologia exige uma investigao meticulosa alm do estudo da msica em seus prpr
ios termos, conforme sugerido por William Bright quando distingue a busca pelo nv
el endo-semntico da msica, que enfoca a anlise musical simplesmente, e seu nvel exo-
semntico, o qual revela as fontes de influncia extramusicais, e que leva ao seu se
ntido/verdade. (p. 15)
REFLETIVIDADE OU ANLISE CONTEXTUAL
refletividade: revelao da extenso do reflexo de uma manifestao cultural na msica, ou a
ue ponto o processo criativo musical determinado pelas atividades culturais de u
ma comunidade. (...) um
modelo excelente de refletividade encontrado em Musical Practice and Creativity:
an African Traditional Perspective, de 1991. Nesse estudo, Meki Nzewi demonstra
como o conceito que rege o processo de oferenda de objetos de arte na cerimnia M
bari, entre o povo igbo da Nigria, fornece a prpria
essncia de seu processo criativo musical. Nzewi d a entender que o processo criati
vo de improvisao em msica instrumental, como a arte Mbari, uma realizao em si mesma.
Existe como um processo de realizao durante a criao e deixa de existir depois que co
mpletado.
"Embora o paralelismo entre manifestao cultural e processo criativo musical possa
ser corroborado com exemplos de vrias culturas africana" (p. 16). o (...) preciso
distinguir entre as variadas categorias de composio musical
para se descobrir que as composies para representao pertencentes s categorias de cont
extos religiosos e sociais, para as quais a eficcia de seus rituais exige fidelid
ade estrita reproduo da msica e da dana, seguem um conjunto diferente de normas. Nes
se contexto, prossegue Meki Nzewi
(1991, p. 12), a composio musical ou a dana existe em perpetuidade e no se torna nec
essariamente uma estrutura de referncia passada para uma nova experincia criativa a
cada ocasio de representao subseqente (...) a msica espelha elementos do contexto no
qual foi produzida; e esses elementos tambm fornecem sua anlise contextual. A imp
ortncia da anlise contextual reside tambm no fato de que voltada para a elucidao do o
bjeto de estudo da etnomusicologia, que entender o porqu da msica de uma certa cul
tura ser da maneira que . (p. 16)
SEMIOLOGIA E MSICA
"o entendimento da msica como um signo um ponto de partida para se explorar a sem
iologia musical e aceitar que esse signo pode ser traduzido em outros sistemas d
e comunicao fora da linguagem verbal. Em outros termos, a criao musical est profundam
ente relacionada ao processo de construo de significado baseado em signos cultural
mente aceitos.
Proposta metodolgica para a Etnomusicologia: semiologia profunda?: A etnomusicolo
gia opera com o conceito dinmico de signo tal como proposto por Jean-Jacques Natt
iez (1990)2 e por Charles Peirce (apud Jakobson, 1973). Alm disso, esses aspectos
analticos dos signos propostos por Nattiez tm servido para o estudo da msica em ge
ral. (...) Nattiez prope um paradigma analtico que inclui uma abordagem tripartite
: 1) anlise do processo poitico, similar ao procedimento criativo do produtor; 2)
anlise do processo estsico, o qual enfoca o produto a partir da perspectiva do rec
eptor; 3) anlise do trao ou em nvel neutro, o qual examina
a manifestao fsica, material simblico como o texto, a partitura, gravao e coisas do gne
ro. Mesmo esse paradigma precisa ser modificado antes de sua aplicao pela investig
ao etnomusicolgica. O propsito desta levar o contexto em grande considerao, ou seja, o
comportamento total de toda a rede de relaes que influenciou o compositor. O pont
o fraco desse modelo
paradigmtico tal qual sugerido por Nattiez reside no fato de que o foco central c
olocado no ouvinte da msica, de forma que ignora a influncia da experincia cultural
do ouvinte no produto. O perigo desse modelo que a opinio expressa pelo ouvinte
a respeito da msica revela a sua experincia pessoal (vcu), mas no corresponde necess
ariamente ao compositor ou a seu tecido cultural. Uma observao mais cuidadosa do m
odelo analtico proposto por Nattiez deve ser comparada sugerida pela definio de msic
a de
Alan Merriam citada anteriormente. Em sua definio, a msica o elemento conhecido da
equao. O objetivo desse exerccio encontrar o desconhecido, que o vcu do compositor.
Nessa segunda definio, a equao est resolvida, o sentido oculto da msica decifrado pelo
entendimento do
que constitui a experincia que influenciou o conceito o qual, por sua vez, influe
nciou o comportamento do compositor a ponto de fazer com que ele compusesse a msi
ca de uma determinada maneira. Isso nos daria a resposta questo do porqu ser a msica
do jeito que . apenas pela aplicao desse paradigma de pesquisa que a meta primordia
l da etnomusicologia
pode ser alcanada a contento e, com isso, tambm se chegar revelao da verdade que se b
usca. (p. 17-18)
preocupao fundamental que continua a assombrar os etnomusiclogos: a delimitao do parme
tro no qual um signo opera, considerando que a msica criada em um contexto cultur
al, e que tanto o processo criativo quanto sua interpretao esto enraizados no mesmo
contexto. Portanto, um etnomusiclogo deve concordar com a observao feita por Boils
(1982), segundo a qual a maioria das culturas no-ocidentais ainda no desenvolveram
um conceito para
a discusso de um comportamento musical.
Quem deve dizer algo sobre a msica a propria sociedade: John Blacking (1981) afirm
a que necessrio criar um paradigma analtico que tenha um norteamento antropolgico q
ue incorpore todas as concepes tnicas. Dessa maneira, continua Blacking, a anlise te
m de comear com a classificao do que socialmente aceito, mesmo que isso implique um
conflito com a idia que a etnomusicologia tem acerca da natureza da msica em uma
determinada cultura. Para Blacking (1981, p. 189), cdigo e mensagem so inseparveis
na msica: Na anlise das tradies orais, o produto musical no pode ser visto como um niv
eau neutre [nvel neutro] isolado
dos sentidos performticos que possui e daqueles que o esto produzindo e sentindo. E
le sustenta que a abordagem ideal da semiologia da msica est na observao das diferen
tes estruturas entre seus contingentes. somente dessa maneira que se pode alcanar
um entendimento de sua realidade. Assim, o conceito musical o produto dos proce
ssos de interao nos quais seu significante/sentido conseguido com a soma de seus s
ignificados/interpretantes em uma comunidade. Isso justifica a preocupao com o des
envolvimento da semiologia da msica, definindo o que considerado msica e o que no .
Em outras palavras, se a definio de msica derivada culturalmente ou variada de acor
do com o compositor, intrprete, ouvinte e com o analisador do fenmeno em questo, Bl
acking (1981) sugere que devemos incorporar todas as vises tnicas sobre msica para
observar como elas se
encontram relacionadas.
Essa preocupao deve ser relativizada com seu contexto? No seria menos uma orientao ter
ica que uma forma de resistncia a tendncias eurocntricas (sobretudo na avaliao formal
e esttica das tradies no ocidentais?
em etnomusicologia a meta da semiologia se ater aos padres mais que ao contedo, pr
ocurar a estrutura mais que a interpretao de sentidos (Monelle, 1992, p. 5). A etn
omusicologia se aproveita da anlise profunda fornecida
pela semiologia para contribuir para o entendimento do ser humano por meio do
entendimento da configurao estrutural de sua criao (humana) musical. Portanto, em et
nomusicologia a semiologia deve ser compreendida como uma cincia que estuda os si
gnos musicais em seu contexto cultural que leva compreenso do produto musical, e
no como uma cincia que estuda os signos da msica (Boils, 1982, p. 28).
SEMNTICA E MSICA
Stravinsky (1936, p. 53) afirma: Considero a msica, por sua natureza,
basicamente impotente para exprimir o que quer que seja: um sentimento, uma atit
ude mental, um estado psicolgico, um fenmeno da natureza, etc. [] A [expresso] nunca
foi uma propriedade inerente msica. por isso que no de forma alguma o propsito de
sua existncia.
Pode-se afirmar ento que, como reflexo de valores culturais e sociais pertencente
s a um determinado grupo, a msica incorpora a interpretao enraizada no vcu (experinci
a de vida) do produtor individual. Portanto, a fim de obter uma interpretao que se
ja mais prxima da realidade do signo
musical a verdade , o etnomusiclogo precisa levar em considerao vrios aspectos (memria
individual), a soma destes enquanto agregados (memria coletiva) e reconstruir um
quadro que seja o mais prximo possvel da verdade (Halbwachs 1968). De acordo com
Nattiez (1990, p. 109), a msica marcada pela complexa rede de interpretantes. Mon
elle (1992, p. 12) aponta: Se a msica uma linguagem inerente, baseada em correspon
dncias naturais entre sons e sentidos, ento o que os semilogos chamariam de signo i
ndexical.
Index (Peirce): A diferencia del cono, el ndice goza de interrelacin con algn objeto
semitico en virtud de una conexin natural que existe entre los dos (CP 2.248, 190
3). Y el smbolo est interrelacionado con su respectivo 'objeto semitico' por medio
de una convencin social que requiere una interpretacin en cuanto a su papel como s
igno general (signo que tiene implicaciones para toda una clase de signos del mi
smo tipo) (CP 2.249, 1903).
Los ndices son ms bien signos de Segundidad. Ellos (1) se definen como signos en i
nterrelacin existencial (fsica, natural, o intencional si el signo es imaginario)
con su objeto, (2) esta interrelacin le dota al signo de la capacidad para llamar
la atencin sobre la existencia del objeto de alguna forma u otra, y (3) una vez
que el objeto de la significacin cumpla con su funcin de llamar la atencin, entonce
s se le puede dar un valor (nombre), lo que es un paso esencial para que se reem
place al ndice con un smbolo. Un ndice es por tanto un signo cuyo carcter representa
tivo consiste en su condicin de Segundidad. Por ejemplo, un termmetro es un ndice e
n el sentido de que indica -lo que es la funcin indexical- el nivel de calor en e
l ambiente. Seala a otra cosa distinta de s mismo, y por lo tanto no es una entida
d auto-contenida y auto-suficiente, como el cono. Adems, ya que la interrelacin ent
re el termmetro como ndice y su otro, el aire, es una interrelacin natural o fsica,
existe en contradistincin a la interrelacin de semejanza que existe entre un cono y
su otro.
Un signo indexical existe en espera de un intrprete y un interpretante, que puede
n emerger en el momento en que se establezca alguna interrelacin causal o natural
, gracias a alguna mente (intrprete). Entonces el signo sale a la luz como si hub
iera tambin obligado al intrprete a fijarse en cierta conexin y no en otras. En las
palabras de Peirce, el ndice es 'como un pronombre demostrativo o relativo, que
forzosamente dirige la atencin hacia un objeto particular sin que se describa' (C
P 1.369, c.1885). De este modo, cualquier cosa 'que enfoque la atencin hacia algo
es un ndice' (CP 2.285, 1893). Al hacer hincapi en la funcin del ndice, trasladamos
el punto de enfoque de la atencin desde el signo como posibilidad (Primeridad),
la mera sensacin de algo sin que haya consciencia de alguna propiedad de este alg
o, hacia el signo como actualidad (Segundidad), ya que el intrprete ha alcanzado
la consciencia del signo como algo con ciertos atributos especficos.
Eficcia musical: O Trenzinho do Caipira (Bachianas Brasileiras, no 2), Heitor Villa-L
obos produz o som de um trem em movimento por meio do uso de instrumentos musica
is. A questo que pode ser colocada aqui : seria esse som
reconhecido por todos os ouvintes, mesmo os que jamais o ouviram antes? Teriam e
les a mesma reao emotiva? Caso contrrio, o que seria? Tudo isso depende do vcu do ou
vinte individual que, conforme afirmei em outro lugar, a msica apenas opera semant
icamente como um veculo de comunicao em um determinado permetro cultural (Kazadi wa M
ukuna, 1997).
Wade (2006, p. 196) escreve: J samos de um entendimento de cultura com um complexo
unificado de elementos que trabalham em conjunto para criar um
todo homogneo e integrado, para a viso de cultura como um sistema ordenado de sent
ido e de smbolos em relao ao qual a interao social ocorre.
Você também pode gostar
- Apx2 - História Da América IDocumento4 páginasApx2 - História Da América IGabriel MartinsAinda não há avaliações
- Anotações RitmoDocumento1 páginaAnotações Ritmodaniel_avila4251Ainda não há avaliações
- Anotações de Vera Bloch Wrobel - Acerca Do Ritornello e Musicalização InfantilDocumento1 páginaAnotações de Vera Bloch Wrobel - Acerca Do Ritornello e Musicalização Infantildaniel_avila4251Ainda não há avaliações
- Anotações de Eduardo Henrik Aubert. A Música Do Ponto de Vista Do Nativo Um Ensaio Bibliográfico.Documento5 páginasAnotações de Eduardo Henrik Aubert. A Música Do Ponto de Vista Do Nativo Um Ensaio Bibliográfico.daniel_avila4251Ainda não há avaliações
- Anotações de Laznik-Penot - Interações Sonoras Entre Bebês Que Se Tornaram Autistas e Seus PaisDocumento2 páginasAnotações de Laznik-Penot - Interações Sonoras Entre Bebês Que Se Tornaram Autistas e Seus Paisdaniel_avila4251Ainda não há avaliações
- Anotações de Sara Revilla Gútiez - Música e Identidad. Adaptación de Un Modelo TeóricoDocumento3 páginasAnotações de Sara Revilla Gútiez - Música e Identidad. Adaptación de Un Modelo Teóricodaniel_avila4251Ainda não há avaliações
- Anotações de Renata Dinardi Rezende Andrade - DISCUSSÃO X CONSTRUÇÃO DO CASO CLÍNICODocumento2 páginasAnotações de Renata Dinardi Rezende Andrade - DISCUSSÃO X CONSTRUÇÃO DO CASO CLÍNICOdaniel_avila4251Ainda não há avaliações
- Anotações de Trevarthen e Malloch - Communicative MusicalityDocumento5 páginasAnotações de Trevarthen e Malloch - Communicative Musicalitydaniel_avila4251Ainda não há avaliações
- A Biomecânica de MeyerholdDocumento35 páginasA Biomecânica de MeyerholdPatricia LealAinda não há avaliações
- História Do DireitoDocumento33 páginasHistória Do DireitoNeemias GomesAinda não há avaliações
- Artigo Zila Mesquita TerrirorioDocumento16 páginasArtigo Zila Mesquita TerrirorioThaisLuzTeixeiraAinda não há avaliações
- Lista de Verificação Das Condições de Trabalho Movimentação Manual de CargasDocumento4 páginasLista de Verificação Das Condições de Trabalho Movimentação Manual de CargasPaulo CruzAinda não há avaliações
- Apostila Revestimento Argamassa 01 - 59Documento156 páginasApostila Revestimento Argamassa 01 - 59Irmã Do JorginhoAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios 5Documento12 páginasLista de Exercícios 5Dannan cenouritahAinda não há avaliações
- PolímerosDocumento8 páginasPolímerosmaAinda não há avaliações
- Artigo Semana Zero Fabio FrançaDocumento17 páginasArtigo Semana Zero Fabio FrançaFelipe Alexandre100% (1)
- Antropoceno e Colapso Sistêmico GlobalDocumento61 páginasAntropoceno e Colapso Sistêmico GlobalJose Eustáquio Diniz AlvesAinda não há avaliações
- MD Magno - Bandeja Do Heroi (Velut Luna)Documento29 páginasMD Magno - Bandeja Do Heroi (Velut Luna)Carlos LinharesAinda não há avaliações
- 1livro - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocumento1 página1livro - Wikipédia, A Enciclopédia LivreFabrizioAinda não há avaliações
- Processo Seletivo Ppgenap - Vagas para Servidores Públicos EstrangeirosDocumento9 páginasProcesso Seletivo Ppgenap - Vagas para Servidores Públicos EstrangeirosRamon SantosAinda não há avaliações
- Fichamento Thomas More - UtopiaDocumento4 páginasFichamento Thomas More - UtopiaZainab Ali100% (1)
- 600F 96-9750 STSDocumento39 páginas600F 96-9750 STSKalist Kilin100% (1)
- Manual Do Homem de ValorDocumento8 páginasManual Do Homem de ValorConta TesteAinda não há avaliações
- Tabela Contact ID JFLDocumento1 páginaTabela Contact ID JFLAlexandre MacielAinda não há avaliações
- Redação TécnicaDocumento12 páginasRedação TécnicaRicardo ValençaAinda não há avaliações
- Fórum - Desenho Técnico - SergioDocumento3 páginasFórum - Desenho Técnico - SergioSérgio FelixAinda não há avaliações
- Ged - CPFL DesenhosDocumento39 páginasGed - CPFL DesenhosedmarrobAinda não há avaliações
- Modelos de Auto AvaliacaoDocumento2 páginasModelos de Auto AvaliacaoveigafernandaAinda não há avaliações
- Narrativas KarajaDocumento82 páginasNarrativas KarajaAionara PreisAinda não há avaliações
- Entrevista Concedida Por Martin Heidegger A Revista Alemã Der SpiegelDocumento32 páginasEntrevista Concedida Por Martin Heidegger A Revista Alemã Der Spiegelfradiquemendes240Ainda não há avaliações
- Marcelo Santiago de Oliveira 2023 CurriculoDocumento1 páginaMarcelo Santiago de Oliveira 2023 CurriculoFelipe MoreiraAinda não há avaliações
- Conteúdo Programático Detran CEDocumento1 páginaConteúdo Programático Detran CEElino LuckAinda não há avaliações
- Resolucao 18-2019 - Atividades ComplementaresDocumento9 páginasResolucao 18-2019 - Atividades ComplementaresAldenora Conceição de MacedoAinda não há avaliações
- Relatório - Seminário de I. A PedagogiaDocumento6 páginasRelatório - Seminário de I. A PedagogiaGabrielle Bonfim LimaAinda não há avaliações
- Be Gramatica 1ano Renata-6270-512e2a4c69387 PDFDocumento5 páginasBe Gramatica 1ano Renata-6270-512e2a4c69387 PDFAnonymous lSaukRMa100% (1)