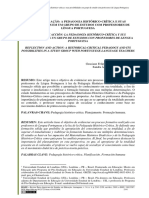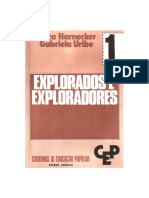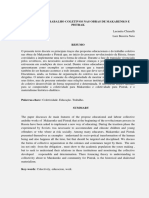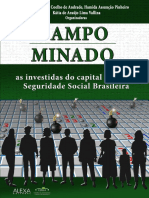Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Pesquisa e Serviço Social Da Concepção Burguesa de Ciências Sociais À Perspectiva Ontológica
Pesquisa e Serviço Social Da Concepção Burguesa de Ciências Sociais À Perspectiva Ontológica
Enviado por
Espiral Dialética0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações10 páginasTítulo original
Pesquisa e Serviço Social Da Concepção Burguesa de Ciências Sociais à Perspectiva Ontológica
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações10 páginasPesquisa e Serviço Social Da Concepção Burguesa de Ciências Sociais À Perspectiva Ontológica
Pesquisa e Serviço Social Da Concepção Burguesa de Ciências Sociais À Perspectiva Ontológica
Enviado por
Espiral DialéticaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 10
73
Pesquisa e Servio Social: da concepo burguesa de
cincias sociais perspectiva ontolgica
Ricardo Lara
Curso de Servio Social da Universidade de Uberaba (UNIUBE)
Centro Universitrio da Fundao Educacional Guaxup
(UNIFEG)
Pesquisa e Servio Social: da concepo burguesa de cincias sociais perspectiva ontolgica
Resumo: Este artigo tem como objetivos questionar a concepo burguesa de cincias sociais, apresentar um breve histrico da pesquisa
em Servio Social e expor os primeiros passos da perspectiva ontolgica enquanto referncia terico-metodolgica, com enfoque na
produo do conhecimento no mundo acadmico atual. As consideraes alertam que a pesquisa e o esclarecimento terico para os
assistentes sociais, na atual conjuntura, tornaram-se seus principais meios de trabalho, pois a partir da sistematizao da realidade
social que o profissional tem condies de agir com mais segurana e dar possveis respostas que sejam aceitas pela objetividade social.
O ponto de partida situar o Servio Social como profisso que vem assegurando o seu espao no mbito da pesquisa, principalmente,
no que diz respeito aos estudos sobre as expresses da questo social. Destarte, acredita-se que os objetos de investigao do Servio
Social emergem de uma realidade concreta e estabelecem suas mediaes numa sociedade que se produz e reproduz por meio de
contradies inconciliveis.
Palavras-chave: cincias sociais, Servio Social, pesquisa, produo do conhecimento, perspectiva ontolgica.
Research and Social Work: From the Bourgeois to the Ontologic Perspective of Social Science
Abstract: The purpose of this article is to question the bourgeois concept of social sciences, to present a brief history of research in
Social Work and to present the first steps of the ontologic perspective as a theoretical-methodological reference, with a focus on the
production of knowledge in the current academic world. The considerations warn that research and theoretical clarification for social
assistants in the current situation become their principal means of work, because it is from the systematization of the social reality that
the professional has the ability to act with greater security and to give possible responses that would be accepted by the social
objectivity. The study begins by locating Social Work as a profession that has been guaranteeing its space in the realm of research,
principally in relation to studies about expressions of social issues. Thus, it maintains that the objects of social science research emerge
from a concrete reality and establish their mediations in a society that produces and reproduces by means of unreconcilable contradictions.
Key words: social sciences, Social Work, research, production of knowledge, ontological perspective.
Recebido em 18.01.2007 . Aprovado em 03.04.2007 .
ENSAIO
Rev. Katl. Florianpolis v. 10 n. esp. p. 73-82 2007
74 Ricardo Lara
Rev. Katl. Florianpolis v. 10 n. esp. p. 73-82 2007
Introduo
A questo de saber se cabe ao pensamento
humano uma verdade objetiva no uma
questo terica, mas prtica. na prxis que o
homem deve demonstrar a verdade, isto , a
realidade e o poder, o carter terreno de seu
pensamento. A disputa sobre a realidade ou
no-realidade do pensamento isolado da prxis
uma questo puramente escolstica.
Marx, 1999, p. 12
O Servio Social contemporneo responde por
uma significativa produo de conhecimentos nas
mais diversas reas e subreas das cincias sociais.
A partir dos anos de 1980, com maior evidncia, a
profisso se inseriu como interlocutora das demais
reas do conhecimento e comeou a responder pela
sua prpria produo terica, permitindo maior des-
taque pesquisa acadmica.
A pesquisa que, necessariamente, gera a produo
do conhecimento tornou-se pr-requisito ao assistente
social, sendo que por meio da investigao cientfica,
que na verdade a sistematizao de uma determina-
da realidade social, o profissional consegue apreender
as intrincadas conexes do real e, assim, construir um
caminho mais seguro para aproximar-se de respostas
concretas to almejadas nas suas intervenes.
No presente texto, temos como objetivo discutir
brevemente a concepo burguesa de cincias soci-
ais, os caminhos da pesquisa e da produo do co-
nhecimento na Universidade Moderna
1
e, ousamos
apresentar os primeiros passos da perspectiva
ontolgica enquanto referncia terico-metodolgica,
para apreenso e sistematizao da realidade social.
Prolegmenos crtica da concepo burguesa
de cincias sociais
A pesquisa cientfica e suas metodologias esto
submetidas concepo burguesa de cincia, a qual
potencializa o desenvolvimento do conhecimento se-
gundo a tica do capital. O conhecimento, ou melhor,
a sistematizao da realidade social est voltada para
interesses produtivos, o que torna limitada a rela-
o do saber com o mundo dos homens. Em favor
desta concepo, adota-se, freqentemente, o argu-
mento de que a extenso da cincia moderna sin-
nimo de especializaes em todas as reas do saber.
O conhecimento est fragmentado e acentuado pela
falta de dilogo entre as reas, o que, conseqente-
mente, colabora para a compreenso do homem e da
sociedade como partes isoladas da dinmica social e
da tecedura histrica.
Nosso intuito, neste momento, abrir o deba-
te sobre a fragmentao a que as cincias soci-
ais foram submetidas, diante da concepo bur-
guesa de cincia.
Segundo Lukcs (1981, p. 122),
O fato de que as cincias sociais burguesas no
consigam superar uma mesquinha especializao
uma verdade, mas as razes no so as apontadas.
No residem na vastido da amplitude do saber hu-
mano, mas no modo e na direo de desenvolvimen-
tos das cincias sociais modernas. A decadncia da
ideologia burguesa operou nelas uma intensa modi-
ficao, que no se podem mais relacionar entre si, e
o estudo de uma no serve mais para promover a
compreenso de outra. A especializao mesquinha
tornou-se o mtodo das cincias sociais.
As cincias sociais tm dificuldades de se afir-
marem diante da cincia moderna, pela sua inefici-
ncia em apresentar respostas prticas. O seu modo
especfico de produzir conhecimento questionado
pelo pragmatismo dos filisteus capitalistas, os quais
s objetivam as cincias que buscam os resultados
para o avano das foras produtivas.
Tal questo justifica o ceticismo da cincia bur-
guesa em relao s cincias sociais, pois a cincia
positivista se contentou, em sua maioria, em conhe-
cer o universo singular de um determinado fenme-
no emprico, sem preocupaes de questionar as con-
tradies histricas que o engendram.
Quando Lukcs afirma que a especializao
mesquinha tornou-se o mtodo das cincias sociais,
na verdade ele est preocupado com os caminhos
das cincias sociais, mais especificamente com a in-
fluncia do pensamento conservador que pretende
separar e criar inmeras reas do saber, tais como: a
sociologia
2
, a economia, a histria.
Essas reas correm o risco de no conseguirem
comunicar-se, tornando-se estranhas entre si, ape-
sar de terem o mesmo ponto de partida nas suas cons-
trues tericas, ou seja, a produo e a reproduo
da vida social.
A fragmentao foi criada e permaneceu no cr-
culo acadmico ao longo do sculo 20, contribuindo
para o desenvolvimento da Universidade enquanto
Instituio, que tem como um de seus principais ob-
jetivos formar especialistas.
Mszros (2004, p. 291) destaca trs aspectos
relevantes sobre a constituio das cincias burgue-
sas e a produo do conhecimento no mbito da
organizao e da diviso capitalista de trabalho:
a parcialidade e a fragmentao da produo
intelectual;
as diferenas de talento e motivao, assim
como uma tendncia competio a elas as-
sociadas;
um antagonismo social historicamente espec-
fico, articulando em uma rede de complexos
75 Pesquisa e Servio Social: da concepo burguesa de cincias sociais perspectiva ontolgica
Rev. Katl. Florianpolis v. 10 n. esp. p. 73-82 2007
sociais hierrquicos que integram, em seu qua-
dro, as tendncias em si e por si ainda inde-
finidos dos dois primeiros, dando-lhes um
sentido de acordo com suas determinaes e
imperativos estruturais.
O conhecimento est fragmentado pelas condi-
es de existncia das instituies de pesquisa, com
destaque Universidade, que responsvel, dentro
da diviso social do trabalho, pela sistematizao do
saber. O conhecimento moderno, fragmentado, re-
sume-se numa dimenso de amparo s justificativas
ideolgicas conservadoras. Isso explicado pelo cres-
cimento das cincias naturais que, necessariamente,
so voltadas para interesses prticos, ou seja, suas
pesquisas potencializam o desenvolvimento industri-
al, tecnolgico e as ramificaes do desenvolvimen-
to do capital e, por conseguinte, negam radicalmente
a condio do trabalho em favor da lgica do capital.
Nesse processo, as cincias sociais tm dificuldades
de objetivar pragmaticamente os seus estudos e so
deixadas em segundo plano no mbito cientfico.
Todavia, a principal questo em jogo a seguinte:
em cincias sociais, ao se realizar pesquisas e produ-
zir conhecimentos, no se deve deixar fora da pauta
as bases objetivas da sociedade que, infelizmente, tm
propsitos voltados somente para a produo e repro-
duo da riqueza. Isto tem a ver com o sistema do
capital ser orgnico, dotado de lgica prpria e de um
conjunto objetivo de imperativos, que subordina a si
para o melhor e para o pior, conforme as alteraes
das circunstncias histricas todas as reas da ativi-
dade humana, desde os processos econmicos mais
bsicos at os domnios intelectuais e culturais mais
mediados e sofisticados (MSZROS, 2004).
No entanto, uma das caractersticas das cincias
sociais edificar uma proposta que tem suas premis-
sas no pensamento crtico, o qual pe em cheque o
metabolismo social. Dessa forma, o modo de siste-
matizar a realidade social tem que passar, necessari-
amente, pelo crivo da crtica, tendo por base um di-
agnstico da sociedade burguesa, a qual, felizmente,
no se sustenta, principalmente pelas suas bases
objetivas de produo e distribuio da riqueza.
Pesquisa e Servio Social necessrio um
posicionamento?
Encontramos na Universidade um avolumado de
pesquisas, que em sua maioria so exigncias para a
obteno da titulao de um determinado estgio da
formao profissional, mas, em alguns casos, deixam
a desejar com suas construes tericas. A pesqui-
sa, para muitos acadmicos, o caminho mais vi-
vel para conseguirem os ttulos de mestres, doutores,
etc. Ao negarmos a pesquisa que visa somente os
ttulos, perguntamos: qual o verdadeiro sentido da
pesquisa na Universidade Moderna? Cremos que,
em princpio, ela deveria advir da realidade social
com a qual os pesquisadores deparam-se no cotidia-
no e, num momento de indagao, comeam a
observ-la como movimento cognoscvel.
A observao sobre a realidade social no sim-
plesmente um incmodo subjetivo, que apenas satis-
faz a curiosidade do pesquisador; ao contrrio, o ser
que indaga, procura inquirir sobre algo que advm da
objetividade social, a qual carece do conhecimento
para ser desvendada. Nas pesquisas, devemos saber
fazer a pergunta, pois so as respostas que se trans-
formam em artigos, dissertaes, teses ou livros; e, se
a pergunta for mal formulada, o trabalho de pesquisa
perder, conseqentemente, resplandecncia.
Setubal (1995, p. 34) faz o seguinte comentrio
sobre a objetividade da pesquisa:
No raro encontrar pesquisas, sobretudo no meio
acadmico, que tratam de problemas remotos e so
destitudas de interpretao mais ampla e acurada.
Muitas so as que se voltam para a elaborao do
conhecimento apenas como conhecimento, isto , um
conhecimento que vagueia pela realidade sem contu-
do dar conta dela no concretismo da sua histria.
A humanidade social carece de respostas ao con-
junto dos problemas econmicos, polticos, sociais e
culturais que a assolam, pois so inmeros, alguns de
sculos, como a pobreza e outros contemporneos,
como a sexualidade, a tica e tantas outras expres-
ses da questo social
3
, que o Servio Social, auxili-
ado pelas cincias sociais, objetiva investigar. Na in-
vestigao, os pesquisadores estudam as questes por
eles enfocadas e, a partir dos recortes de estudo,
criam as teorias para explicar determinadas realida-
des sociais. Na maioria dos casos, h um demasiado
devaneio nas teorias, nas leis, nos modelos, que se
descolam do objetivo inicial da investigao e fazem
da pesquisa uma abstrao sem retorno ao real e, con-
seqentemente, desembocam num estranhamento ou
misticismo do real por parte do pesquisador.
Nesse momento de total estranhamento entre
pesquisador e objeto de estudo que encontramos a
falta de rigor na pesquisa, pois muitos que se pro-
pem a investigar talvez no estejam preparados o
suficiente, ou no consigam visualizar a necessidade
objetiva cobrada da pesquisa, que no seu caminho
mais seguro objetiva desnudar o cotidiano contrastante
das relaes sociais da sociedade burguesa, bem como
seu modo de produo e reproduo social,
desencadeador das mais diversas expresses da
questo social, que a cada nova manifestao di-
lacera milhares de vidas
4
.
Sugerimos, no entanto, aos assistentes sociais que,
ao indagarem sobre o real, indaguem com o objetivo
76 Ricardo Lara
Rev. Katl. Florianpolis v. 10 n. esp. p. 73-82 2007
de tratar a questo social entendida como defor-
midades desenvolvidas no interior das relaes so-
ciais, as quais so protoformadas pela sociabilidade
capitalista na sua integridade, ou seja, estudem as
expresses da questo social e, posteriormente, fa-
am o esforo de retornar o conhecimento produzido
aos sujeitos envolvidos. Acreditamos, pois, que a fun-
o da cincia desvendar o no-aparente, ou
melhor, nas palavras de Marx: Toda cincia seria
suprflua se a essncia das coisas e sua forma
fenomnica coincidissem diretamente(MARXapud
LUKCS, 1979, p. 26).
O assistente social pesquisador, que objetiva o
rigor terico exigido pela cincia autntica, deve per-
quirir as intrincadas conexes do real. Investigar
e, em conseqncia, tornar cientificamente aceito o
trabalho, no mbito acadmico, o princpio funda-
mental no caminho da probidade terica do pesqui-
sador. Ele deve levar consigo, no percurso da pes-
quisa, as seguintes caractersticas: honestidade, pa-
cincia, criatividade, criticidade, audcia, humilda-
de, diligncia e, principalmente, a tica na pesquisa,
para tornar-se um sujeito que indaga sobre o real,
tendo por finalidade contribuir humanidade soci-
al com suas inquietaes e construes tericas, e
no apenas saciar a fome voraz de ttulos exigidos
pela Universidade Moderna.
Outro fator importante para a pesquisa, diz res-
peito aos milhes de teorias existentes sobre um
determinado assunto. Quando
isso acontece, surge a necessi-
dade do confronto de idias
que, no caso, torna-se inadivel,
pois pensamentos que analisam
uma mesma questo com con-
cluses totalmente diferentes
devem ser submetidos ao di-
logo para percorrerem a verda-
deira explicao do assunto in-
vestigado. No estamos aqui
defendendo o pensamento ni-
co, que tanto emburrece, mas
cobrando o debate que enrique-
ce o conhecimento cientfico. O confronto de diferen-
tes concepes enriquece a cincia e o que plausvel,
faz cair por terra explicaes equivocadas da realidade
social, ou seja, falsas interpretaes do mundo dos ho-
mens. A crtica,
5
portanto, surge como uma arma cer-
teira para desmascarar o cientificismo vulgar que paira
atualmente sobre a Universidade Moderna. O conhe-
cimento crtico a nica arma que os estudiosos possu-
em para exigir o rigor terico e, assim, negar definitiva-
mente a pseudocincia.
Segundo Demo (1997a, p. 10),
Pesquisa pode significar condio de conscincia
crtica e cabe como componente necessrio de toda
proposta emancipatria. Para no ser mero objeto
de presses alheias, mister encarar a realidade
com esprito crtico, tornando-a palco de possvel
construo social alternativa. A, j no se trata de
copiar a realidade, mas de reconstru-la conforme
os nossos interesses e esperanas. preciso cons-
truir a necessidade de construir novos caminhos,
no receitas que tendem a destruir o desafio da
construo.
No entanto, nesse contexto de produo de co-
nhecimentos na Universidade Moderna que o Servi-
o Social se insere com seus programas de ps-gra-
duao, seus ncleos de pesquisa e, por conseguinte,
comea a responder por uma determinada produo
cientfica nas mais diversas reas do conhecimento.
De acordo com Iamamoto e Carvalho (1998, p. 88),
O Servio Social em sua trajetria no adquire o status
de cincia, o que no exclui a possibilidade de o profis-
sional produzir conhecimentos cientficos, contribuin-
do para o acervo das cincias humanas e sociais, numa
linha de articulao dinmica entre teoria e prtica.
A produo de conhecimentos na rea do Servio Social
acelerou a partir de 1970, momento em que iniciaram
os primeiros cursos de ps-graduao na rea de ci-
ncias sociais e, especificamente, em Servio Social.
Desde ento, a produo bibliogrfica teve um aumento
considervel, sendo alimentada pelas dissertaes de
mestrado e teses de doutorado. Mas, foi somente a
partir dos anos de 1980
6
que o
Servio Social obteve reconhe-
cimento pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento
Cientfico e Tecnolgico
(CNPq) como uma rea espe-
cfica de pesquisa, sendo-lhe
atribudas as seguintes linhas de
investigao: Fundamentos do
Servio Social, Servio Social
Aplicado, Servio Social do
Trabalho, Servio Social da
Educao, Servio Social do
Menor, Servio Social da Sa-
de, Servio Social da Habitao
7
. Atualmente, o Servi-
o Social integra, juntamente com as reas de Direito,
Comunicao, Economia, Administrao, Arquitetura,
Demografia e Economia Domstica, a grande rea de
Cincias Sociais Aplicadas (KAMEYAMA, 1998).
Segundo Ammann (1984, p. 147), A incorporao
da pesquisa na prtica profissional da rea um fen-
meno relativamente recente, posto que tinha havido
esforos orientados para consolidar uma poltica geral
de capacitao e investigao, no campo do Servio
Social, por parte dos organismos profissionais.
Entretanto, a partir dos anos de 1980, a categoria
profissional comeou a contribuir e a responder pela
produo de conhecimentos que do sustentao
Investigar e, em conseqncia,
tornar cientificamente aceito o
trabalho, no mbito acadmi-
co, o princpio fundamental
no caminho da probidade
terica do pesquisador.
77 Pesquisa e Servio Social: da concepo burguesa de cincias sociais perspectiva ontolgica
Rev. Katl. Florianpolis v. 10 n. esp. p. 73-82 2007
segura prtica profissional. Hoje, podemos afir-
mar que contribumos com significativos trabalhos de
pesquisa nas mais diversas subreas das cincias
sociais
8
, isso se deu, principalmente, aps a renova-
o do Servio Social, ou seja, ao movimento de
reconceituao, que constituiu
9
[...] segmentos de
vanguarda, sobretudo, mas no exclusivamente inse-
ridos na vida acadmica, voltados para a investiga-
o e a pesquisa(PAULO NETTO, 2001b, p. 136).
Contudo, tanto na interven-
o quanto na formao pro-
fissional, a pesquisa um ele-
mento fundamental para o Ser-
vio Social, e cabe lembrar que,
para realiz-la, h exigncia do
aprofundamento terico-
metodolgico como recurso
para a investigao da vida
social.
A busca por referncias
tericas apresenta o grande
paradigma para os graduan-
dos, mestrandos e doutoran-
dos em Servio Social, preo-
cupados com as suas mono-
grafias, dissertaes e teses.
Em considerao a essa cri-
se de paradigmas, para a qual
no nos isentamos de respon-
sabilidade, apontamos a seguir
uma perspectiva terico-metodolgica de pesquisa,
para a construo do conhecimento.
Uma perspectiva ontolgica para o Servio So-
cial
Inmeras perguntas surgem sobre a questo do
mtodo
10
e da metodologia; em todas as pesquisas
acadmicas h exigncia pela metodologia, que na
cincia moderna se manifesta como o caminho se-
guro no desenvolvimento do estudo. Na nossa com-
preenso o mtodo questo central da pesquisa
comprometida um modo de apreenso do real,
que tem por base uma concepo de mundo, na qual
o pesquisador se apia para investigar determinada
realidade social. O Servio Social apropria-se, prin-
cipalmente, das seguintes perspectivas tericas:
positivismo, fenomenologia, materialismo dialtico, as
quais embasam a construo do conhecimento des-
sa disciplina. Por metodologia, entendemos um con-
junto de procedimentos tcnicos na realizao da
pesquisa, a sistematizao dos dados e a forma de
anlise dos resultados.
Assim posto, propomo-nos, nesse momento, a
apresentar uma das concepes de mundo, que
embasam as pesquisas em Servio Social, trazendo,
em verso preliminar e em traos gerais, os princi-
pais apontamentos da concepo dialtica marxiana,
ou seja, descrevendo como esse modo de apreender
a realidade social desenvolveu-se no percurso hist-
rico da humanidade. Para isso, vamos seguir os ca-
minhos apontados por Leandro Konder, Chasin,
Lukcs, e retomaremos, principalmente, algumas pas-
sagens das obras de Marx.
Na Grcia Antiga a dialtica era concebida como
a arte do dilogo; na concep-
o moderna ela entendida
como o modo de pensar as
contradies da realidade so-
cial e de compreend-las co-
mo essencialmente contradi-
trias e em permanente trans-
formao. Da arte do dilogo
ao modo de pensar as con-
tradies da realidade, a
dialtica foi interpretada por
diversos pensadores na hist-
ria da humanidade. Apresen-
taremos, brevemente, alguns
desses pensadores que contri-
buram com fragmentos de
suas obras dialtica.
Aristteles considerava
Znon de Elia (aprox. 490-
430 a.C.) o fundador da
dialtica, mas foi Herclito de
feso (aprox. 535-470 a.C.) o pensador dialtico mais
radical. Nos fragmentos deixados por Herclito, pode-
se ler que tudo existe em constante mudana, que o
conflito o pai e o rei de todas as coisas. Na Antigida-
de, Herclito no foi compreendido, pois consideraram
seu modo de pensar confuso. O pensamento predomi-
nante na Antigidade era o metafsico, tendo Parmnides
de Elia (aprox. 540-470 a.C.) anunciado que a essn-
cia profunda do ser era imutvel e a mudana era um
fenmeno superficial, o que predominou na sua poca,
conforme citado por Konder (1981, p. 10).
Aristteles (370-22 a.C.), descrito por Marx como
o maior pensador da Antigidade, ou o melhor, um
pensador portentoso, reintroduziu princpios dialticos
em explicaes dominadas pelo modo de pensar
metafsico. Aristteles (apud Marx, 1983, p. 63) in-
dagou-se sobre as relaes de troca das mercadori-
as na sua sociedade da seguinte maneira:
Porque todo o bem pode servir para dois usos [...]
Um prprio coisa em si, mas no o outro; assim,
uma sandlia pode servir como calado, mas tam-
bm como objeto de troca. Trata-se, nos dois ca-
sos, de valores de uso da sandlia, porque aquele
que troca a sandlia por aquilo de que necessita,
alimentos, por exemplo, serve-se tambm da san-
dlia. Contudo, no este o seu uso natural. Pois
... nesse contexto de produo
de conhecimentos na Universi-
dade Moderna que o Servio
Social se insere com seus pro-
gramas de ps-graduao, seus
ncleos de pesquisa e, por con-
seguinte, comea a responder
por uma determinada produo
cientfica nas mais diversas
reas ...
78 Ricardo Lara
Rev. Katl. Florianpolis v. 10 n. esp. p. 73-82 2007
que a sandlia no foi feita para troca. O mesmo se
passa com os outros bens.
Ou seja, podemos permutar coisas diferentes pelo
mesmo valor, mas que no coincidam na sua essncia.
Aristteles, na frase citada, remete-se realidade so-
cial das relaes de troca da Antiguidade. Ele faz o
seguinte questionamento: como podemos permutar
coisas diferentes pelo mesmo valor, mas que no coin-
cidem na sua essncia? Aristteles no obteve suces-
so na soluo desta indagao, dada a estrutura social
composta por homens livres e escravos, o que no
proporcionava a diviso do trabalho.
Assim, podemos dizer que a metafsica prevale-
ceu sobre a dialtica nas explicaes sobre as rela-
es sociais, sendo que a dialtica sempre esteve e
estar presente na prtica social.
Na Idade Mdia a dialtica expulsa da filosofia
com o imperialismo da teologia. Nessa poca, os ho-
mens reproduziam-se, em sua maioria, nos campos e
a explicao dos fenmenos da humanidade era con-
templada pela concepo teolgica. Na decadncia
do feudalismo e, conseqentemente, com o surgimento
das cidades, constitudas pelos antigos burgos, a
racionalidade exigida para as explicaes dos fe-
nmenos da humanidade (KONDER, 1981).
No Renascimento, o teocentrismo cede lugar ao
antropocentrismo, a dialtica sai dos subterrneos,
provocando o ressurgimento da arte e da literatura,
seguido do desenvolvimento das cincias naturais.
Nesse contexto, diversos pensadores indagam-se
sobre as condies objetivas da humanidade. Giordano
Bruno (1548-1606), que exaltou o homo faber, o ho-
mem capaz de dominar as foras naturais e de modi-
ficar criadoramente o mundo. Montaigne (1533-1592),
para quem Todas as coisas esto sujeitas a passar
de uma mudana a outra, a razo, buscando nelas
uma substncia real, s pode frustrar-se, pois nada
pode apreender de permanente, j que tudo ou est
comeando a ser e absolutamente ainda no ou
ento j est comeando a morrer antes de ter sido.
Galileu Galilei (1564-642) e Ren Descartes (1596-
1642), pela descoberta de que a condio natural
dos corpos era o movimento e no o estado de re-
pouso. Pascal (1623-654), que reconheceu o carter
instvel, dinmico e contraditrio da condio huma-
na. E Giambattista Vico (1680-1744), para quem o
homem no podia conhecer a natureza, que feita
por Deus, mas sustentava que o homem podia co-
nhecer sua prpria histria, pois criada por ele
(KONDER, 1981).
No iluminismo, movimento de idias precedente
Revoluo Francesa, os pensadores perceberam que
os resqucios do feudalismo deveriam desaparecer,
para dar lugar a um mundo novo, mais racional. A
Revoluo Francesa permitiu aos filsofos uma com-
preenso mais concreta da dinmica das transfor-
maes sociais. Dentre os pensadores dessa poca
destacamos Denis Diderot (1713-1784), que compre-
endeu o indivduo como um ser condicionado por um
movimento mais amplo, pelas mudanas da socieda-
de em que vivia. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778),
para quem os homens nasciam livres, mas a organi-
zao da sociedade lhes tolhia o exerccio da liberda-
de natural. A observao da estrutura social do seu
tempo e suas contradies, permitiu a Rousseau per-
ceber os exageros dos conflitos de interesses entre
os indivduos, a m distribuio da propriedade, o
poder concentrado em poucas mos, e as pessoas
escravizadas ao seu prprio egosmo (KONDER,
1981).
A passagem do sculo 18 ao sculo19 marca trans-
formaes de radical impacto na base material da so-
ciabilidade e, com isso, despontam reivindicaes de
uma maior racionalidade explicao dos fenmenos
naturais e, principalmente, dos sociais. Nesse perodo
surgem grandes pensadores, que vo subsidiar o pen-
samento social moderno. O primeiro, Emanuel Kant
(1724-1804), percebeu que a conscincia humana no
se limita a registrar passivamente as impresses pro-
venientes do mundo exterior, mas interfere ativamen-
te na realidade. Ele fez a seguinte pergunta: O que
o conhecimento? O segundo, Georg Wilhelm Friedrich
Hegel (1770-1831), afirmava que a contradio era
um princpio bsico que no podia ser suprimido nem
da conscincia do sujeito, nem da realidade objetiva.
Para Hegel, a questo central da filosofia era a ques-
to do ser em si mesmo, e no do conhecimento. Hegel
percebe que o trabalho a mola que impulsiona o de-
senvolvimento do homem; no trabalho que o homem
produz a si mesmo; o ncleo a partir do qual podem
ser compreendidas as formas complicadas da ativida-
de criadora do ser social. Hegel subordinava os movi-
mentos da realidade material lgica de um princpio
que ele chamava de Idia Absoluta, princpio inevita-
velmente nebuloso, onde os movimentos da realidade
material eram, freqentemente, descritos pelo filsofo
de maneira vaga.
No sculo 19, Karl Marx (1818-1883) afirmou que
a dialtica hegeliana estava de cabea para baixo;
decidiu, ento, coloc-la sobre seus ps. Para Marx,
Hegel deu importncia demais ao trabalho intelectu-
al, sem enxergar o trabalho fsico, material, que de-
genera e aliena o indivduo. Essa concepo abstra-
ta
11
do trabalho levava Hegel a fixar a ateno ex-
clusivamente na criatividade, ignorando as deforma-
es a que o trabalho submetido em sua realizao
material e social na sociabilidade capitalista. Na
dialtica marxiana, o conhecimento totalizante e a
atividade humana, em geral, um processo de
totalizao, que nunca alcana uma etapa definitiva
e acabada (KONDER, 1981, p. 43 ).
Para explicitao da dialtica marxiana recorre-
remos citao de Marx (2002, p. 28-29):
79 Pesquisa e Servio Social: da concepo burguesa de cincias sociais perspectiva ontolgica
Rev. Katl. Florianpolis v. 10 n. esp. p. 73-82 2007
Meu mtodo dialtico, por seu fundamento, difere
do mtodo hegeliano, sendo a ele inteiramente
oposto. Para Hegel, o processo do pensamento
que ele transforma em sujeito autnomo sob o nome
de idia o criador do real, e o real apenas sua
manifestao externa. Para mim, ao contrrio, o ide-
al no mais do que o material transposto para a
cabea do ser humano e por ele interpretado. [...] A
mistificao por que a dialtica passa nas mos de
Hegel no o impediu de ser o primeiro a apresentar
suas formas gerais de movimento, de maneira am-
pla e consciente. Em Hegel, a dialtica est de ca-
bea para baixo. necessrio p-la de cabea para
cima, a fim de descobrir a substncia racional den-
tro do invlucro mstico.
Marx constri um mtodo que emerge da realidade
social, o qual procura investigar a conexo ntima do mo-
vimento real, pois, na perspectiva ontolgica (marxiana),
s possvel apreender o real por meio de construes
de categorias, ou seja, de determinadas apropriaes do
objeto de estudo
12
. Para Marx (2002, p. 21),
A investigao tem de apoderar-se da matria, em
seus pormenores, de analisar suas diferentes for-
mas de desenvolvimento e de perquirir a conexo
ntima que h entre elas. S depois de concludo
esse trabalho que se pode descrever, adequada-
mente, o movimento real. Se isto se consegue, fica-
r espelhada, no plano ideal, a vida da realidade
pesquisada [...].
O mtodo de apreenso da realidade uma pro-
funda relao entre subjetividade e objetividade. A
realidade objetiva, por ser produto da prxis humana,
subjetividade objetivada, ao passo que a subjetivi-
dade, pelo mesmo motivo, a realidade objetiva que
adquiriu forma subjetiva. Observe a afirmao de
Marx (2005, p. 38-39, grifo nosso): O trabalho filo-
sfico no consiste em que o pensamento se concre-
tize nas determinaes polticas, mas em que as de-
terminaes polticas existentes se volatilizem no pen-
samento abstrato. O momento filosfico no a l-
gica da coisa, mas a coisa da lgica.
Lukcs (1970, p. 35) destaca que [...] o mtodo
dialtico tende a conhecer todos os setores do ser e
da conscincia como um processo histrico movido
por contradies [...]. Na apreenso do real, deve-
mos exercitar a dialeticidade entre as categorias
13
: a
universalidade, essncia dos fenmenos (concreto-
de-pensamento); a particularidade, mediaes (de-
terminao histrica) e a singularidade, imediaticidade
do real (fenmeno dado).
De acordo com Lukcs (1970, p. 81),
A cincia autntica extrai da prpria realidade as
condies estruturais e as suas transformaes his-
tricas e, se formula leis, estas abraam a universa-
lidade do processo, mas de um modo tal que deste
conjunto de leis pode-se sempre retornar ainda
que freqentemente atravs de muitas mediaes
aos fatos singulares da vida. precisamente esta a
dialtica concretamente realizada de universal, par-
ticular e singular.
A preocupao em percorrer as mltiplas deter-
minaes do movimento real (objeto) o ncleo
norteador do pensamento marxiano. Pois, tudo o que
aparece e se move na reflexo construo do co-
nhecimento a substncia e a lgica do objeto ana-
lisado, que reproduzido pelo crebro em sua gne-
se e necessidade, historicamente engendradas e de-
senvolvidas. A identificao da dialeticidade como
lgica do real e os movimentos das categorias so
apreendidos enquanto formas de existncia, que os
concretos de pensamentos reproduzem. Razo pela
qual a dialtica s possvel de descobrimento, ja-
mais de aplicao (CHASIN, 1996, p. 420).
Entretanto, para atender esse pressuposto terico-
metodolgico, o pesquisador parte da imediaticidade
(objeto de estudo) que sntese das determinaes
sociais, polticas, econmicas, ideolgicas para, na
construo de categorias (mediaes), aproximar-se
de uma compreenso que contemple as mltiplas de-
terminaes do objeto, na sua totalidade.
Assim, pensamos o concreto
14
atravs de cons-
trues abstratas que apropriam o real pelo pensa-
mento, e buscam apreender o movimento real en-
quanto processo dinmico e contraditrio, mas no
como um movimento rgido preestabelecido
15
. Esse
mtodo de apreenso da realidade social no se atm
a procedimentos de raciocnio apologticos ou
contemplativos, mas tem como premissa a constru-
o de um saber que pe em primeiro momento as
condies sociais reais do homem e suas formas de
existncia. Observe a seguinte passagem de Marx
(1983, p. 24): O modo de produo de vida material
condiciona o desenvolvimento da vida social, poltica
e intelectual em geral. No a conscincia dos ho-
mens que determina o seu ser, o seu ser social que,
inversamente, determina a sua conscincia. No en-
tanto, estamos diante de uma perspectiva terico-
metodolgica que no s apresenta os caminhos
apreenso do mundo dos homens na sua concretude
histrica e pelas suas bases objetivas, mas nos apre-
senta os passos possveis para a superao da lgica
do capital pela lgica onmoda do trabalho, que ne-
cessariamente passar pela transformao radical e
que, por fim, reivindica uma sociedade verdadeira-
mente humana. O conhecimento pelo conhecimento
defendido pela concepo burguesa de cincias so-
ciais, torna-se um procedimento escolstico que, por-
tanto, fica aqum da realidade social, pensamento
pensando pensamento e no a realidade social, a qual
80 Ricardo Lara
Rev. Katl. Florianpolis v. 10 n. esp. p. 73-82 2007
no momento atual, carece de interpretaes segui-
das de aes efetivas do homem. Agora, mais do
que nunca, o seguinte enunciado necessrio: Os
filsofos se limitaram a interpretar o mundo de di-
ferentes maneiras; o que importa transform-lo
(MARX; ENGELS, 1999, p. 14, grifo nosso).
Consideraes finais
Abordar a temtica da concepo burguesa de
cincias sociais, pesquisa, produo do conhecimen-
to em Servio Social e perspectiva ontolgica de
suma importncia, pois deparamos com um cresci-
mento gigantesco de materiais de pesquisa e,
concomitantemente, de profissionais que so titula-
dos por tais produes.
Ao longo do texto apresentado, objetivamos pr
em debate algumas preocupaes, dentre as quais a
concepo burguesa de cincias sociais; a produo
acadmica que visualiza somente os ttulos; o com-
promisso do pesquisador em Servio Social; uma
perspectiva terico-metodolgica, que denominamos
ontolgica, por buscar nas obras de Marx e seus
principais seguidores os fundamentos essenciais para
anlise e apreenso da realidade social.
Conclumos reforando alguns elementos, disse-
minados durante esta exposio. Sabemos que des-
de os programas de ps-graduao, passando pelas
agncias de fomento e avaliao de pesquisas, os
horizontes esto cravados de acordo com os ditames
da produo quantitativa do conhecimento, que a
radicalizao da cincia burguesa.
Quando o aluno ingressa na ps-graduao,
avaliado pela quantidade de artigos publicados,
desconsiderando-se a qualidade cientfica das suas
produes tericas.
O modo como a Universidade Moderna relacio-
na-se com a pesquisa e a produo do conhecimento
comprometedor, pois, ambas, como j destacamos
anteriormente, passam a ser, para alguns acadmi-
cos, meros mecanismos para conseguirem os deno-
minados ttulos. Cremos que, dessa maneira, o co-
nhecimento tende a se tornar mais uma mercadoria.
Os que o produzem devem tomar o cuidado para no
se tornarem intelectuais estranhados com o que
fazem, nem legitimar a concepo burguesa de cin-
cia. Devemos nos alertar para no fazermos da Uni-
versidade uma feira de opinies, em que so
mercadejados os achismos.
Outro ponto de suma importncia, que destaca-
mos, o compromisso do pesquisador em Servio
Social. As diretrizes curriculares do curso de Servi-
o Social situam a profisso inserida no conjunto
das relaes de produo e reproduo da vida so-
cial, sendo de carter interventiva e que atua no
mbito da questo social. Essa aproximao da
profisso com a realidade social no simplesmen-
te um epifenmeno. Por tal questo, acreditamos
que os objetos de estudos do Servio Social, neces-
sariamente, partem de uma realidade concreta que
determinada socialmente, ou seja, estabelece as
suas mediaes numa sociedade que se produz e
reproduz por meio de suas contradies inconcili-
veis. Portanto, apontar uma referncia terico-
metodolgica que reconhece a realidade social como
o ponto de partida das anlises cientficas e, conse-
qentemente, da produo do conhecimento, apro-
xima-nos de respostas concretas diante da
mundaneidade social.
Referncias
AMMANN, S. B. A produo cientfica do Servio Social
no Brasil. Servio Social & Sociedade, So Paulo: Cortez,
n. 14, p. 145-154, 1984.
CHASIN, J. Marx estatuto ontolgico e resoluo
metodolgica. In: TEIXEIRA, F. Pensando com Marx. So
Paulo: Ensaio, 1996. p. 335-537.
DEMO, P. Pesquisa: princpio cientfico e educativo. So
Paulo: Cortez, 1997a.
______. Conhecimento moderno: sobre tica e interven-
o do conhecimento. Petrpolis: Vozes, 1997b.
IAMAMOTO, M. V.; CARVALHO, R. Relaes sociais e
Servio Social no Brasil. So Paulo: Cortez, 1998.
KAMEYAMA, N. A trajetria da produo de
conhecimentos em Servio Social: alguns avanos e
tendncias (1975-1997). Cadernos ABESS, So Paulo:
Cortez, n. 8, p. 33-76, 1998.
KONDER, L. O que dialtica. So Paulo: Brasiliense,
1981.
LUKCS, G. Introduo a uma esttica marxista sobre
a particularidade como categoria da esttica. Traduo de
Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder. Rio de Janeiro:
Civilizao Brasileira, 1970.
______. Ontologia do ser social: os princpios onto-
lgicos fundamentais de Marx. Traduo de Carlos Nelson
Coutinho. So Paulo: Livraria e Edit. Cincias Humanas,
1979.
______. Marxismo e questes de mtodo na cincia social.
In: PAULO NETTO, J. (Org.); FERNANDES, F. (Coord).
Lukcs, Sociologia. So Paulo: tica, 1981. (Coleo
Grandes Cientistas Sociais).
81 Pesquisa e Servio Social: da concepo burguesa de cincias sociais perspectiva ontolgica
Rev. Katl. Florianpolis v. 10 n. esp. p. 73-82 2007
MARX, K. Contribuio crtica da economia poltica.
Traduo de Maria Helena Barreiro Alves. So Paulo:
Martins Fontes, 1983.
______. Manuscritos econmico-filosficos. Lisboa: Edi-
es 70, 1993.
______.; ENGELS, F. A ideologia alem. 11. ed., So Paulo:
Hucitec, 1999.
______. O Capital: crtica da economia poltica. Traduo
de Reginaldo SantAnna. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 2002. (Livro 1, Volume I ).
______. Crtica da filosofia do direito de Hegel. So
Paulo: Boitempo Editorial, 2005.
MSZROS, I. O poder da ideologia. So Paulo: Boitempo
Editorial, 2004.
PDUA, E. M. M. Metodologia da pesquisa: abordagem
terica-prtica. Campinas: Papirus, 2004.
PAULO NETO, J. Crise do socialismo e ofensiva
neoliberal. So Paulo: Cortez, 2001a.
______. Ditadura e Servio Social. So Paulo: Cortez,
2001b.
SETUBAL, A. Pesquisa em Servio Social: utopia e
realidade. So Paulo: Cortez, 1995.
Notas
1 Utilizamos o termo Universidade Moderna entre aspas por
entender que na atualidade tal Instituio e os seus
representantes ditos intelectuais ou acadmicos no esto
respondendo com a radicalidade, seriedade e importncia que
ela representa enquanto espao de resistncia cultural e crtica.
2 Observe a argumentao de Lukcs (1981, p. 23): Iniciemos
pela nova cincia da poca da decadncia: a sociologia. Ela
surge como cincia autnoma porque os idelogos burgueses
pretendem estudar as leis e a histria do desenvolvimento
social separando-as da economia. A tendncia objetivamente
apologtica desta orientao no deixa lugar a dvidas. Aps
o surgimento da economia marxista, seria impossvel ignorar a
luta de classes como fato fundamental do desenvolvimento
social, sempre que as relaes sociais fossem estudadas a
partir da economia. Para fugir desta necessidade, surgiu a
sociologia como cincia autnoma; quanto mais ela elaborou
seu mtodo, to mais formalista se tornou, tanto mais substituiu,
investigao das reais conexes causais na vida social,
anlises formalistas e vazios raciocnios analgicos [...]
Paralelamente a este processo, ocorre na economia uma fuga
da anlise geral de produo e reproduo e uma fixao na
anlise dos fenmenos superficiais da circulao, tomados
isoladamente. [...] Assim como a sociologia deveria constituir
uma cincia normativa, sem contedo histrico e econmico,
do mesmo modo a Histria deveria limitar-se exposio da
unicidade do decurso histrico, sem levar em considerao
as leis da vida social.
3 Temos como referncia nesse momento de discusso sobre
a questo social a concepo de Iamamoto e Carvalho (1998,
p. 77): A questo social no seno as expresses do
processo de formao e desenvolvimento da classe operria
e de seu ingresso no cenrio poltico da sociedade, exigindo
seu reconhecimento como classe por parte do empresariado
e do Estado. a manifestao, no cotidiano da vida social, da
contradio entre o proletariado e a burguesia, a qual passa
a exigir outros tipos de interveno, mas alm da caridade e
represso.
4 Dependendo da identificao [do pesquisador] com setores
da sociedade, e essa no uma situao especfica do Servio
Social, o conhecimento ou pode ser favorvel e reafirmar o
poder institudo, ou pode ser desvendador das situaes
conflituosas existentes nas relaes sociais, muitas vezes
camufladas pelas polticas de governo concretizadas pelos
programas assistenciais (SETUBAL, 1995, p. 46).
5 Sem dvida, a arma da crtica no pode substituir a crtica
das armas; a fora material s ser derrubada pela fora
material; mas a teoria em si torna-se tambm uma fora material
quando se apodera das massas. A teoria capaz de se apossar
das massas ao demonstrar-se ad hominem, e demonstra-se
ad hominem logo que se torna radical. Ser radical agarrar as
coisas pela raiz. Mas, para o homem, a raiz o prprio homem
(MARX, 1993, p. 86).
6 Diante da amplitude e da complexidade das questes que
envolvem a definio de conhecimento que o Servio Social
v-se obrigado a refletir sobre a sua prpria natureza. ento
a partir do deslocamento de uma programao desenvolvida
pela Associao Brasileira de Ensino no Servio Social, nestas
duas ltimas dcadas, principalmente nos primeiros anos de
1980, que travado no interior do Servio Social um debate
polmico sobre a construo do conhecimento (SETUBAL,
1995, p. 31).
7 Fonte: <www.cnpq.br>. Acesso em: 21 de novembro de 2005.
8 Este relevo tem reconhecimento institucional: credibilizando-
se como interlocutor das cincias sociais e desenvolvendo-
se no plano da pesquisa e da investigao, o Servio Social
consagra-se junto a agncias oficiais de financiamento que
apiam a produo de conhecimento(PAULO NETTO,
2001b, p. 133).
9 Esta constituio que supe, entre outros dados, a
diferenciao entre segmentos profissionais alocados
preferencialmente prtica e segmentos alocados
82 Ricardo Lara
Rev. Katl. Florianpolis v. 10 n. esp. p. 73-82 2007
especialmente ao trabalho investigativo tem sido
equivocadamente identificado a uma ruptura teoricista com
a prtica profissional; como sabem todos aqueles que tm
alguma familiaridade com a reflexo sistemtica, ela a
condio mesma para a criao dos requisitos para a
compreenso crtica da prtica profissional (PAULO NETTO,
2001b, p. 136).
10 A busca de uma explicao verdadeira para as relaes
que ocorrem entre os fatos, quer naturais, quer sociais, passa,
dentro da chamada teoria do conhecimento, pela discusso
do mtodo (PDUA, 2004, p. 10).
11 Segundo Marx, [...] o ponto de partida de Hegel o da
economia poltica. Concebe o trabalho como a essncia
confirmativa do homem; considera apenas o lado positivo
do trabalho, no o seu aspecto negativo. O trabalho o
tornar-se-para-si do homem no interior da alienao ou
como homem alienado. O nico trabalho que Hegel entende
e reconhece o trabalho intelectual abstrato. Assim, o que
acima de tudo constitui a essncia da filosofia, a alienao
do homem que se conhece a si mesmo ou a cincia alienada
que a si mesma se pensa, considera-o Hegel como a sua
essncia. Por conseguinte, consegue combinar os elementos
individuais da filosofia anterior e apresentar a sua filosofia
como a filosofia. O que os outros filsofos fizeram isto ,
conceber os elementos individuais da natureza e a vida
humana como momentos da autoconscincia e, sem dvida,
da autoconscincia abstrata conhece-o Hegel atravs da
prtica da filosofia; portanto, a sua cincia absoluta
(MARX, 1993, p. 246).
12 Do mesmo modo que em toda a cincia histrica ou social em
geral, preciso nunca esquecer, a propsito da evoluo das
categorias econmicas, que o objeto, neste caso a sociedade
burguesa moderna, dado, tanto na realidade como no crebro;
no esquecer que as categorias exprimem portanto formas de
existncia, condies de existncia determinadas, muitas vezes
simples aspectos particulares desta sociedade determinada,
deste objeto, e que, por conseguinte, esta sociedade de maneira
nenhuma comea a existir, inclusive do ponto de vista cientfico,
somente a partir do momento em que ela est em questo
(MARX, 1983, p. 224).
13 Para a conscincia e a conscincia filosfica considera que
o pensamento que concebe constitui o homem real e, por
conseguinte, o mundo s real quando concedido para a
conscincia, portanto, o movimento das categorias surge como
ato de produo que recebe um simples impulso do exterior,
o que lamentado cujo resultado o mundo; e isto (mas
trata-se ainda de uma tautologia) exato na medida em que a
totalidade concreta enquanto totalidade-de-pensamento,
enquanto concreto-de-pensamento, de fato um produto do
pensamento, da atividade de conceber; ele no pois de forma
alguma o produto do conceito que engendra a si prprio, que
passa exterior e superiormente observao imediata e
representao, mas um produto da elaborao de conceitos a
partir da observao imediata e da representao. O todo, na
forma em que aparece no esprito como todo-de-pensamento,
de fato um produto do crebro pensante, que se apropria do
mundo do nico modo que lhe possvel, de um modo que
difere da apropriao desse mundo pela arte, pela religio, pelo
esprito prtico. Antes como depois, o objeto real conserva a
sua independncia fora do esprito; e isso durante o tempo em
que esprito tiver uma atividade meramente especulativa,
meramente terica. Por conseqncia, tambm no emprego
do mtodo terico necessrio que o objeto, a sociedade,
esteja constantemente presente no esprito como dado
primeiro (MARX, 1983, p. 219).
14 Segundo Marx (1982, p. 218-219), O Concreto concreto
por ser a sntese de mltiplas determinaes, logo, unidade
da diversidade. por isso que ele para o pensamento um
processo de sntese, um resultado, e no um ponto de partida,
apesar de ser o verdadeiro ponto de partida e portanto
igualmente o ponto de partida da observao imediata e da
representao.
15 A perspectiva terico-metodolgica instaurada pela obra
marxiana com seu cariz ontolgico, sua radicalidade
histrico-crtica e seus procedimentos categorial-articulados
aquela que permite, arrancando dos fatos objetivados
na empiria da vida social na ordem burguesa, determinar os
processos que os engendram e as totalidades concretas que
constituem e em que se movem. Esta perspectiva a que
propicia, na dissoluo da pseudo-objetividade necessria
da superfcie da vida capitalista, apreender e desvelar os
modos de ser e de reproduzir-se do ser social na ordem
burguesa (PAULO NETTO, 2001a, p. 37).
Ricardo Lara
Assistente Social, Mestre e Doutorando em Servio
Social pelo Programa de Ps-Graduao em Servio
Social da Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Professor do Curso de Servio Social da Universida-
de de Uberaba (UNIUBE) e do Centro Universit-
rio da Fundao Educacional Guaxup (UNIFEG)
UNIUBE:
Campus Rodoviria
Av. Baro do Rio Branco, 770, So Benedito
Uberaba Minas Gerais
CEP: 38020-300
Você também pode gostar
- 1a Avaliação 2021 1 - Questões RespondidasDocumento3 páginas1a Avaliação 2021 1 - Questões RespondidasLísia Santos BertiAinda não há avaliações
- ROMERO Daniel - Marx e A TecnicaDocumento244 páginasROMERO Daniel - Marx e A TecnicaDaniel Romero100% (1)
- A Catarse Na EducaçãoDocumento15 páginasA Catarse Na EducaçãoHudson AzevedoAinda não há avaliações
- Boaventura de Sousa Santos Sobre A Relação Entre Estado Sociedade e PoderDocumento28 páginasBoaventura de Sousa Santos Sobre A Relação Entre Estado Sociedade e PoderGil BatistaAinda não há avaliações
- Calbiero,+11+ +População+Em+Situação+de+RuaDocumento10 páginasCalbiero,+11+ +População+Em+Situação+de+Ruanoot nootAinda não há avaliações
- Serviço Social, Marxismo e LutoDocumento13 páginasServiço Social, Marxismo e LutoRaquel TeschAinda não há avaliações
- CORREA, Felipe SILVA, Rafael Viana Da SILVA, Alessandro Soares Da. Teoria e História Do Anarquismo. (2015) PDFDocumento246 páginasCORREA, Felipe SILVA, Rafael Viana Da SILVA, Alessandro Soares Da. Teoria e História Do Anarquismo. (2015) PDFEmersonAinda não há avaliações
- Democracia Contra Capitalismo A Renovação Do Materialismo HistóricoDocumento256 páginasDemocracia Contra Capitalismo A Renovação Do Materialismo Históricomsg100% (1)
- O Satânico Doutor Go A Ideologia Bonapartista de Golbery Do Couto e SilvaDocumento238 páginasO Satânico Doutor Go A Ideologia Bonapartista de Golbery Do Couto e SilvaHanderson Scarelli Rocha100% (2)
- O Realismo. Siqueira PDFDocumento23 páginasO Realismo. Siqueira PDFJesus RochaAinda não há avaliações
- Resumo - Karl MarxDocumento2 páginasResumo - Karl MarxJoss DeeAinda não há avaliações
- Ibero 2019Documento19 páginasIbero 2019Geuciane Felipe Guerim FernandesAinda não há avaliações
- Atividade 1º Ano - FundamentalDocumento19 páginasAtividade 1º Ano - FundamentalNice PinheiroAinda não há avaliações
- Cadernos de Formação Popular 1: Explorados e Exploradores - Marta HarneckerDocumento59 páginasCadernos de Formação Popular 1: Explorados e Exploradores - Marta HarneckerRafael100% (1)
- O Ideal Cientifico e A Razao InstrumentalDocumento34 páginasO Ideal Cientifico e A Razao InstrumentalenalesorAinda não há avaliações
- Resenha Crítica Do Texto Manifesto Do Partido ComunistaDocumento8 páginasResenha Crítica Do Texto Manifesto Do Partido ComunistaSilvio AguiarAinda não há avaliações
- Apoio para SocioDocumento5 páginasApoio para SocioPedro Henrique BentoAinda não há avaliações
- DissertacaoDocumento143 páginasDissertacaoRoberto Luiz WarkenAinda não há avaliações
- Os Classicos Da Sociologia DurkheimDocumento57 páginasOs Classicos Da Sociologia DurkheimChristian BedretchukAinda não há avaliações
- Istvan Mesaros Desafio Fardo Tempo Historico PDFDocumento18 páginasIstvan Mesaros Desafio Fardo Tempo Historico PDFvolneycsAinda não há avaliações
- Educacao e Trabalho Coletivos Nas Obras de Makarenko e PistrakDocumento17 páginasEducacao e Trabalho Coletivos Nas Obras de Makarenko e PistrakFrancisco Costa JúniorAinda não há avaliações
- Ebook Campo Minado - VFDocumento212 páginasEbook Campo Minado - VFThire CajuiAinda não há avaliações
- O Sentido Do Conceito de Ideologia em Marx e A Questão Da Igualdade Jurídica - Mozart Silvano PereiraDocumento27 páginasO Sentido Do Conceito de Ideologia em Marx e A Questão Da Igualdade Jurídica - Mozart Silvano Pereiraaemanuel35Ainda não há avaliações
- Do Liberalismo de Adam Smith A Critica ADocumento11 páginasDo Liberalismo de Adam Smith A Critica AxoniravAinda não há avaliações
- Avaliação Impressa Aspectos SocioantropológicosDocumento8 páginasAvaliação Impressa Aspectos SocioantropológicosPaulo PereiraAinda não há avaliações
- Lombardi, José ClaudineiDocumento111 páginasLombardi, José ClaudineiRosa CarvalhoAinda não há avaliações
- Michael Löwy - Ecossocialismo e Planejamento DemocráticoDocumento14 páginasMichael Löwy - Ecossocialismo e Planejamento DemocráticoRolando LeroAinda não há avaliações
- Como Atuar Na Guerra ContrarrevolucionariaDocumento336 páginasComo Atuar Na Guerra ContrarrevolucionariaJoão Vitor Campos100% (3)
- EDUCAÇÃO EM GRAMSCI Artigo NOSELLADocumento9 páginasEDUCAÇÃO EM GRAMSCI Artigo NOSELLAAndréea VieiraAinda não há avaliações
- Dissertação - A Noção de Justiça No Seso BrasileiroDocumento166 páginasDissertação - A Noção de Justiça No Seso BrasileiroRaffaelle Pedroso NikoofardAinda não há avaliações