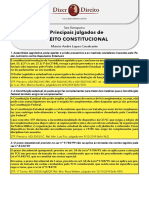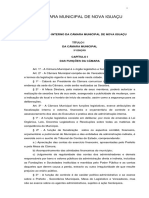Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Duas Notas Sobre o Socialismo
Duas Notas Sobre o Socialismo
Enviado por
giliad.souza0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações17 páginasbom
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentobom
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações17 páginasDuas Notas Sobre o Socialismo
Duas Notas Sobre o Socialismo
Enviado por
giliad.souzabom
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 17
RUY MAURO MARINI 107
Duas notas sobre o
socialismo*
Ruy Mauro Marini**
Resumo:
O objetivo deste ensaio , partindo de uma anlise crtica das tentativas de
revoluo socialista, formular questes e sugerir novos caminhos para a
transformao social. Com este objetivo, o autor se detm especialmente na
anlises da complexa relao entre socialismo e democracia.
A cri se em que o movi mento soci al i sta i ngressou desde meados da
dcada passada, especi al mente no Oci dente, pode ser obj eto de duas
consi deraes. A pri mei ra consi ste em no perder de vi sta que essa cri se
parte de um processo teri co e prti co no qual se arti cul am os di sti ntos
movimentos que, no plano das idias e da luta social e poltica, realizaram a
crtica do capitalismo como modo de organizao da vida social. De Sismondi
esquerda ri cardi ana, de Owen a Marx, de Kautski e Hi l ferdi ng a Leni n,
Rosa Luxemburgo, Trotski e Gramsci , a teori a soci al i sta revel ou os
fundamentos da economi a capi tal i sta e da soci edade burguesa; evi denci ou
a perversi dade estrutural e a expropri ao do trabal ho soci al que el as
propi ci am, e armou i deol ogi camente os povos que contra el as l utaram.
Tm sido muitos esses povos, desde os operrios parisienses de 1871 e
os destacamentos operrios-camponeses da Rssia at as massas espoliadas
da China, Cuba, Vietn, Angola, Nicargua. Mais de um tero da humanidade
optou, em seu momento, pel a recusa ao capi tal i smo e em favor do
desenvol vi mento soci al ori entado para a supresso das desi gual dades de
cl asse e para a i mpl antao de uma democraci a radi cal de massas. Sob
essas bandei ras, e ai nda suportando o i sol amento e as agresses
i nternaci onai s, parti ndo de um atraso econmi co e soci al sem paral el o entre
as potnci as oci dentai s, a Uni o Sovi ti ca conqui stou, em pouco mai s de
tri nta anos, uma posi o destacada no cenri o mundi al . Em todos os pases
que tomaram esse rumo, as necessi dades bsi cas da popul ao em matri a
de educao, sade e alimentao se viram satisfeitas e acabaram as agruras
e o desemprego.
Portanto, no fcil apagar o socialismo da memria dos povos e muito
menos convencer a i mensa mai ori a da humani dade, para a qual a sol uo
dessas questes aparentemente el ementares ai nda conti nua pendente, de
que o soci al i smo foi somente um equvoco dos que no havi am
compreendi do que a hi stri a acabou. Para esta humani dade expl orada e
carente, a hi stri a nem sequer comeou. O campons do Nordeste do
* Traduo de
Ilse Gomes
Silva, Jair
Pinheiro e
Lcio Flvio
de Almeida,
membros do
Neils.
** Cientista
poltico, autor
de, entre
outros livros,
Dialctica
de la
dependencia,
Mxico, Era, e
Subdesarrollo
y revolucin,
Mxico, Siglo
XXI, 1969.
108 LUTAS SOCIAIS 5
Brasi l tenta i ngressar nel a todos os di as, amontoando-se em paus-de-arara
que o conduzem s regies mais prsperas do Sul, para descobrir, nas favelas
do Ri o de Janei ro ou de So Paul o, que conti nuam l he negando a entrada.
A segunda consi derao referente ao que se passou com o soci al i smo
i mpl i ca perguntar se a cri se do chamado soci al i smo real ou, mai s
preci samente, europeu, i nval i da e encerra essa busca de formas superi ores
de organi zao soci al , a que assi sti mos h quase doi s scul os, ou apenas
representa mai s um desses momentos de autocrti ca radi cal que marcam a
hi stri a do soci al i smo e dos quai s este ressurgi u com uma cri ati vi dade
renovada. Foi assi m aps a derrota da Comuna de Pari s e a di ssol uo da
Associ ao Internaci onal de Trabal hadores que, em pouco tempo, foram
segui dos pel a di fuso do soci al i smo na Europa e a fundao da Segunda
Internacional. Foi assim quando, face aos acontecimentos da Primeira Guerra
Mundial e a diviso da Segunda Internacional, se assistiu primeira revoluo
soci al i sta vi tori osa na Europa e cri ao da Internaci onal Comuni sta. Foi
assim depois de Ialta, quando, insurgindo-se contra os limites que lhes foram
i mpostos pel o compromi sso estabel eci do entre Estados Uni dos e Uni o
Sovi ti ca, os i ugosl avos e os chi neses procl amaram seu di rei to revol uo
soci al i sta. Foi assi m na Amri ca Lati na, at que o povo cubano rompesse
com supostas i mprobabi l i dades teri cas e geogrfi cas e, em todo o mundo,
at que o Vi etn apontasse com o dedo a nudez do i mperi al i smo.
porque sabi a di sso que Marx pde comparar a revol uo soci al i sta
com a toupei ra, que passa boa parte de sua vi da trabal hando as entranhas
da terra. por isso, tambm, que, em perodos como este, ele afiava a arma
de sua crti ca, dedi cando-se sua pri nci pal obra, ao mesmo tempo que se
comprometi a i ntei ramente com as novas formas que, com os parti dos
operri os, assumi a o desenvol vi mento do soci al i smo na Europa. Guardadas
as propores, este o exempl o que nos deve i nspi rar.
O socialismo como processo histrico
A atual tendncia a apresentar a questo do capitalismo e do socialismo
como se fossem doi s si stemas abstratos, di ssoci ados dos processos da l uta
de cl asses e suscetvei s de comparao em termos de pragmati smo e
efi ci nci a, total mente enganoso. Este procedi mento i gnora os i nteresses
reai s que i nspi ram os doi s si stemas, e omi te sua hi stori ci dade.
Isto nada tem a ver com o ponto de vi sta de Marx, que vi ncul ou o
soci al i smo emanci pao da cl asse trabal hadora e o concebeu como uma
nova etapa hi stri ca. Tal etapa corresponderi a recuperao, em um nvel
superi or, da propri edade i ndi vi dual , a qual representa o ato supremo de
afi rmao do homem face ao mundo que o cerca e tanto mai s efeti va
quanto mai s el evado o grau de cooperao em que se basei a
1
. Referindo-
se pequena propri edade i ndi vi dual , que precede a propri edade capi tal i sta
(a tal , enquanto base da pequena i ndstri a, uma condi o necessri a
para o desenvol vi mento da produo soci al e da l i vre i ndi vi dual i dade do
prpri o trabal hador), Marx assi nal a: Este modo de produo pressupe o
1. Marx
considera a
propriedade
como conceito
social bsico,
em nvel
abstrato, e
como critrio
de
periodizao
da histria
humana.
Assim,
...afirmar que
no pode
haver
produo, nem
por
conseguinte
sociedade
na qual no
existe
nenhuma
forma de
propriedade,
pura
tautologia.
Uma
apropriao
que no se
apropria de
nada uma
contradictio
in subjecto
(1977:205-6).
RUY MAURO MARINI 109
parcel amento do sol o e dos demai s mei os de produo. Assi m como a
concentrao destes l ti mos, excl ui tambm a cooperao, a di vi so do
trabal ho dentro dos prpri os processos de produo, domi nao soci al e
regul ao da Natureza, l i vre desenvol vi mento das foras soci ai s produti vas
(1985: 293).
2
Apresentar capi tal i smo e soci al i smo como doi s si stemas abstratos no
foi , tampouco, o enfoque adotado por Leni n que, parti ndo da noo de
socialismo como fato histrico, considerava-o uma das caractersticas centrais
da nova era em que ingressara a humanidade, que ele definia como a era do
i mperi al i smo e das revol ues prol etri as tri unfantes.
3
Se as coisas se apresentam assim, isto , se assumimos a tica a partir da
qual a hi stri a nos aparece como o desenvol vi mento das formas de
organi zao e convi vnci a soci al que tendem para a pl ena emanci pao do
homem, ti l recorrer anl i se do soci al i smo, com base na anal ogi a e no
contraste, em rel ao poca hi stri ca que o precede ou sej a, a do
capi tal i smo. Isto nos permi ti r captar suas di ferenas mai s marcantes em
rel ao a esta e nos aproxi marmos, por fi m, do que consti tui sua natureza
mai s profunda.
O capitalismo e a revoluo burguesa
Confi gurando-se em meados de scul o XVI, a era capi tal i sta no
consagra, de sada, a hegemoni a da forma do capi tal que l he conferi ri a
depoi s seus pri nci pai s atri butos: o capi tal i ndustri al , que, ento, adqui re o
carter de capi tal manufaturei ro. Este se encontra, ai nda, subordi nado ao
capi tal comerci al , embora sej a onde o comrci o e, em especi al , o comrci o
exteri or, i mpul si ona com mai s fora seu desenvol vi mento, i sto , na
Ingl aterra, que o capi tal i smo engendra mai s rapi damente os fenmenos
que o conduzem maturi dade. Estes fenmenos so: pri mei ro, a revol uo
burguesa, que permi ti u aos donos do capi tal superar os obstcul os que l he
opunha o velho mundo feudal e criar os mecanismos de proteo e estmulo
ao desenvol vi mento do novo modo de produo; e, em segui da, a revol uo
i ndustri al , que acel era a metamorfose da produo manufaturei ra em
produo fabri l e l eva o capi tal i ndustri al a subordi nar as demai s formas de
capi tal exi stentes.
Durante a fase manufaturei ra, ocorre a transformao maci a da
propri edade pri vada i ndi vi dual , fruto do trabal ho prpri o, em propri edade
pri vada capi tal i sta, medi ante a expropri ao dos pequenos produtores rurai s
e urbanos pela burguesia e a converso destes em trabalhadores assalariados,
forados a vender no mercado sua fora de trabal ho. O l ucro dei xa
progressi vamente de ser o resul tado de transfernci as de val or propi ci adas
por rel aes mercanti s que se efetuavam entre di ferentes modos de
produo, para deri var da parte do produto do trabal ho que apropri ada
pel o capi tal i sta.
Em outras palavras, o lucro, em suas formas distintas, no outra coisa
que a forma aparente de que se reveste o fruto da expl orao do trabal ho
2. Aps
examinar a
passagem da
propriedade
privada
capitalista e a
supresso
desta, Marx
conclui: Esta
(a supresso
da
propriedade
capitalista
RMM) no
restabelece a
propriedade
privada, mas a
propriedade
individual
sobre o
fundamento do
conquistado
na era
capitalista: a
cooperao e
a propriedade
comum da
terra e dos
meios de
produo
produzidos
pelo prprio
trabalho
(1985:294).
3. Esta
concepo
informa sua
teoria do
imperialismo e
se expressa
na criao da
Terceira
Internacional,
estando
definida com
singular
nitidez em sua
participao
no segundo
congresso
desta
organizao,
em 1920,
110 LUTAS SOCIAIS 5
l evada a cabo pel o capi tal i ndustri al , ou sej a, a mai s-val i a. Esta nasce,
essenci al mente, do prol ongamento do tempo de trabal ho al m do tempo
necessri o para que o operri o reproduza o val or da sua fora de trabal ho,
cristalizando-se na mais-valia absoluta. Porm, a partir de um certo momento,
como o demonstra a cooperao manufaturei ra, a mai s-val i a tambm
produzi da sob sua forma rel ati va, i sto , medi ante a reduo do tempo de
trabal ho necessri o reproduo do val or da fora de trabal ho. um erro
comum entre os marxi stas separar mecani camente, no tempo, estas duas
formas de produo de mai s-val i a e desconhecer o fato de que a mai s-val i a
absol uta condi o si ne qua non do capi tal i smo, sej a qual for a fase em
que este se encontre. O desenvol vi mento do si stema mostra que o
mecani smo por excel nci a de produo de mai s-val i a absol uta o
prol ongamento da j ornada de trabal ho, enquanto os mtodos de produo
de mai s-val i a rel ati va correspondem ao aumento da i ntensi dade ou da
produti vi dade do trabal ho (i sto , reduo do tempo requeri do para a
produo de determi nado val or, graas, por um l ado, i ntensi fi cao do
ritmo de trabalho e, por outro, adoo de tcnicas superiores de produo
ou de mtodos de trabal ho mai s efi ci entes). No pl ano da concorrnci a, a
remunerao da fora de trabal ho abai xo de seu val or ou a apropri ao
pel o capi tal i sta de parte do sal ri o, a ttul o de mai s-val i a vi ol a a l gi ca
desses mtodos de explorao e, portanto, da teoria da mais-valia, a qual se
basei a na rel ao exi stente entre os doi s tempos de trabal ho consti tuti vos
da j ornada (necessri o e excedente), tendo como premi ssa a coi nci dnci a
entre o val or da fora de trabal ho e sua remunerao, ou sal ri o. Como,
neste caso, esta coi nci dnci a no se d, o resul tado um mtodo
extraordi nri o (embora freqente) de expl orao do trabal ho ou, antes, de
superexpl orao, que: a) no garante a reproduo normal da fora de
trabal ho; b) assume a forma enganadora de mai s-val i a rel ati va (ao contrri o
do que supe a mai ori a dos autores que se referem questo), poi s,
mantendo-se i nvari vel a j ornada, se reduz aparentemente o tempo de
trabal ho necessri o; c) no se confunde com o concei to de mai s-val i a
extraordi nri a, ou sej a, a que o capi tal i sta i ndi vi dual obtm em proporo
superi or a seus concorrentes, ao reduzi r o tempo de produo de sua
mercadori a, mas no seu val or (uma vez que o val or da mercadori a se
estabel ece de acordo com as condi es gerai s, e no i ndi vi duai s, de
pr oduo) .
O capi tal comerci al podi a convi ver com di sti ntos modos de produo,
j que era na esfera da ci rcul ao que se apropri ava do fruto do trabal ho
alheio. Este no o caso do capital industrial, que opera no plano da produo
e necessi ta cri ar uma organi zao econmi ca especi al . Compreende-se,
assi m, porque, na medi da em que se fortal ece a burguesi a manufaturei ra, o
capi tal i smo vai se tornando i ncompatvel com o modo de produo feudal
e termi ne por postul ar a transformao deste. Mas tambm se entende que
a revol uo burguesa, que l eva conqui sta do Estado pel a burguesi a para
proceder a essa transformao, s possa ocorrer quando o desenvol vi mento
capi tal i sta esti ver rel ati vamente avanado.
particularmente
no informe
internacional
com o qual
inaugurou o
evento (s/d,
vol. 33: 339-
37). Referindo-
se a uma fase
anterior do
pensamento
de Lenin,
correspondente
a 1908-1913,
Raggionieri
(1973:XVII)
enumera assim
suas
preocupaes
com o
desenvolvimento
histrico
mundial: a
agudizao
das posies
de classe na
Europa, o
surgimento de
movimentos
antiimperialistas
e, sobretudo, a
perspectiva de
uma nova era
de
revolues.
RUY MAURO MARINI 111
o que se ver na Inglaterra em meados do sculo XVII, entre a revoluo
de 1648, que deu origem ditadura de Cromwell, e a chamada Revoluo
Gloriosa, de 1688-9, que instaurou a monarquia constitucional e a converteu
em expresso institucional da aliana de classe entre a burguesia e a nobreza
feudal, ou a frao aburguesada desta. Tal aliana se foi apurando, at chegar
com o predomnio da Cmara dos Comuns sobre a dos Lordes
cristalizao da hegemonia burguesa no interior do bloco dominante.
Neste mesmo perodo em que ocorre a revoluo burguesa na Inglaterra,
a Frana se v di l acerada por uma guerra ci vi l na qual se enfrentam duas
fraes da nobreza. A burguesia emergente participa dividida neste processo.
O resul tado da Fronda o fortal eci mento do poder real que, si tuando-se
aci ma dos confl i tos de cl asse, encarna a monarqui a absol uta de Lus XIV.
Esta, sustentando com uma mo, os pri vi l gi os feudai s, concede, com a
outra, benefci os burguesi a, medi ante uma pol ti ca i ndustri al i zante e
pr ot eci oni st a.
Durante um scul o, enquanto a burguesi a francesa se aj usta ao marco
que foi traado as manufaturas do Estado, o comrci o ul tramari no e a
admi ni strao estatal e feudal os camponeses conti nuam opri mi dos por
um sistema cada vez mais parasitrio e as cidades vem crescer os pequenos
comerciantes e artesos, ao lado de uma massa de profissionais carentes de
perspectivas. A revoluo de 1789 forar a direo burguesa a aliar-se, num
primeiro momento, com essas classes e fraes de classe que, apresentando
rei vi ndi caes soci ai s e pol ti cas que redefi nem, e mui to, a base dos
i nteresses especi fi camente burgueses, a i mpul si onam a l evar at o l i mi te o
enfrentamento com a nobreza. Em mei o aos esforos para confi gurar um
novo bl oco domi nante, a burguesi a l anar o pas na i nstabi l i dade pol ti ca e
na radicalizao das lutas de classes por quase um sculo, at a derrota os
operri os pari si enses em 1871.
Esses processos, de certo modo, paradi gmti cos, se compl ementam
com o da frustrada revol uo burguesa na Al emanha, em meados do scul o
XIX, que cul mi na com a subordi nao da cl asse nobreza, que constrange
seu desenvol vi mento nos marcos do mi l i tari smo e da necessi dade de
conqui star mercados exteri ores. Tudo i sso est mostrando que a afi rmao
do capitalismo em seu espao originrio, a Europa, se traduziu em processos
soci ai s e pol ti cos di versos, que se real i zaram em di ferentes momentos
histricos e se basearam em distintas alianas de classes. Se considerarmos
como a burguesia se converteu em classe dominante e imps nacionalmente
seu modo de produo nos Estados Uni dos e na Amri ca Lati na, teremos
um mosai co de si tuaes que, apenas em um el evado nvel de abstrao
podem ser tratados como fenmenos de um mesmo ti po.
O importante a assinalar que o perodo de transio do capitalismo se
estendeu por mai s de doi s scul os e s foi superado uma vez estabel eci da
a domi nao burguesa e concl uda a revol uo i ndustri al . Neste perodo, o
capi tal i smo ensai ou di sti ntas formas pol ti cas, centradas na i di a de
democraci a representati va, e promoveu uma revol uo cul tural que
consagrou al guns concei tos-chave: i ndi vi dual i smo, representao pol ti ca,
112 LUTAS SOCIAIS 5
mercado, progresso, ci nci a. A parti r da segunda metade do scul o XIX, a
histria se converte de fato em histria do capitalismo, que se tornou, enfim,
si stema uni versal , e o hori zonte do pensamento humano corresponde cada
vez mai s aos marcos que l he so fi xados pel o mundo burgus.
O socialismo como perodo de transio
O soci al i smo pode ser entendi do como o perodo de transi o para
uma nova era histrica e se caracteriza pela superao da propriedade privada
em favor de uma nova forma de propri edade i ndi vi dual , baseada na
soci al i zao dos mei os de produo. El e corresponde, no pl ano pol ti co, a
uma democraci a ampl i ada e parti ci pati va, di ri gi da i mensa mai ori a da
soci edade.
Sendo um perodo de transi o, o soci al i smo tambm parte i ntegrante
dessa nova era hi stri ca, do mesmo modo que o capi tal i smo comerci al e
manufaturei ro i ntegra a hi stri a geral do capi tal i smo. No procede, poi s,
consi der-l o como si mpl es arti cul ao de modos de produo, como
pretende o marxi smo estrutural i sta francs, assi m como teri cos l ati no-
ameri canos. Um perodo de transi o contm el ementos novos, advi ndos
tanto do modo de produo que est nascendo, quanto daquele j existente,
que se formam no medi ante a combi nao de ambos, mas pri nci pal mente
atravs do enfrentamento e da l uta entre el es. A hi stri a desse perodo a
dos xi tos e dos fracassos do novo modo de produo e da cl asse que o
representa, em sua proj eo para o futuro.
Tratando-se do soci al i smo, i sto ai nda mai s verdadei ro. O capi tal i smo,
cuj o fundamento um ti po especfi co de propri edade pri vada, i ni ci ou sua
exi stnci a dentro do modo de produo feudal . Foi necessri o certo tempo
para que a ordem feudal se apresentasse como obstcul o para o seu
desenvolvimento. Foi ento que a revoluo burguesa, a conquista do poder,
se colocou como inevitvel. E ainda assim, mesmo que as condies sociais
existentes dificultassem que este se concretizasse, o capitalismo pde seguir
seu cami nho, ai nda que por vi as mai s tortuosas, at a exti no total do
regi me anteri or.
Di sti nta a si tuao que o soci al i smo enfrenta, poi s a conqui sta do
poder pel os trabal hadores condi o si ne qua non para a sua exi stnci a.
certo que o capi tal i smo cri a as premi ssas do soci al i smo, ao concentrar a
propri edade dos mei os de produo e ao favorecer, deste modo, a
expropri ao do capi tal e a soci al i zao do processo de trabal ho; ao
prol etari zar as ampl as massas da popul ao e prepar-l as, desta forma,
materi al e i deol ogi camente, para a propri edade i ndi vi dual baseada na
col eti vi zao das fontes de ri queza; ao desenvol ver as foras produti vas e
tornar possvel , por sua vez, o domni o do homem sobre a natureza e a
transformao do trabal ho em ato pl enamente cri ador. Entretanto, at que
se produza a revol uo prol etri a, todos esses processos no fazem mai s
que aumentar o poder burgus e tornar mai s rgi das as correntes que
prendem os trabal hadores ao capi tal .
RUY MAURO MARINI 113
A conqui sta do poder pel os trabal hadores torna possvel i mpri mi r uma
marca di sti nta a estes processos, mas, de forma al guma, substi tu-l os
i medi atamente por outros. Enquanto perodo de transi o, o soci al i smo
i mpl i ca a conti nui dade desses processos por certo tempo e sua gradual
transformao em al go di ferente. Mesmo uma medi da de cruci al i mportnci a
para a revoluo proletria a supresso da classe burguesa s pode ser
o resul tado de uma evol uo, apressada e ori entada por medi das
revol uci onri as, como por exempl o a exti no do di rei to de herana.
4
Com maior razo, todavia, a transformao da base material da sociedade
burguesa somente em escal a mui to l i mi tada pode ser obj eto de atos de
vontade e deci ses superestruturai s, condi ci onada como est pel o
desenvol vi mento das foras produti vas. O drama do chamado soci al i smo
real deriva de que partiu de condies materiais e espirituais muito diferentes
e tentou (mui tas vezes por presso externa) super-l as prematuramente.
Foi o que ocorreu quando tentou, por exempl o, supl antar os mecani smos
de mercado pel a pl ani fi cao central i zada ou i ntegrar em um s Estado
etni as confl i tantes.
Isto no i mpl i ca menosprezar o fator subj eti vo. A l uta i deol gi ca um
el emento essenci al em um perodo de transi o. por seu i ntermdi o que
a cl asse ascendente concebe e i mpe soci edade uma nova escal a de
val ores, uma nova moral , uma nova vi so de mundo. Para a burguesi a, que
se consti tua sobre condi es de exi stnci a di sti ntas daquel as em que vi vi a
a nobreza, no houve mai or di fi cul dade para opor ti ca ari stocrti ca,
justificadora da ociosidade e do parasitismo social, uma filosofia do trabalho,
do mercado e do l ucro. Isto foi possvel i ncl usi ve porque, sendo possui dora
de ri queza, pde edi fi car seu prpri o si stema educaci onal , al m de col ocar
a seu servi o parte da el i te i ntel ectual ci entfi ca e artsti ca ori gi nri a da
nobreza. Na Ingl aterra, onde a revol uo burguesa ocorreu quando essa
si tuao no se veri fi cava pl enamente, a burguesi a fez um compromi sso
com a nobreza, del egando-l he mui tas dessas funes cul turai s, compromi sso
que dei xou profundas marcas em seu si stema pol ti co e admi ni strati vo.
O prol etari ado, cuj as condi es de exi stnci a deri vam, do mesmo modo
que a da burguesi a, do capi tal i smo, se depara com obstcul os quase
i ntransponvei s para transcender a cul tura burguesa, mesmo depoi s de
conquistar o poder. Esta parece ser uma das tarefas mais rduas do perodo
de transi o, como a entendi a Leni n, ao apresentar a questo da revol uo
cul tural
5
. No h dvida de que o fracasso neste terreno foi uma das causas
pri nci pai s da cri se que derrotou o soci al i smo real , cabendo-l he, poi s, l ugar
destacado na refl exo marxi sta.
O capi tal i smo caracteri za-se, desde a sua ori gem, por sua vocao
i nternaci onal , o que faz do mercado mundi al i nstnci a pri vi l egi ada para o
desenvol vi mento de suas contradi es. Isto corresponde a uma fuga para
adi ante, o que si gni fi ca que o capi tal i smo no pode contar com o mercado
mundi al para superar efeti vamente suas contradi es, mas somente para
ampl i ar o espao em que el as ocorrem e, portanto, para torn-l as cada vez
mais universais. A conquista de novos territrios e a extenso de seu imprio
4. Este o
sentido das
medidas
contempladas
por Marx e
Engels no
programa da
revoluo
proletria,
includo no
Manifesto
Comunista.
5. no nosso
pas a
revoluo
poltica e
social
precedeu a
revoluo
cultural, essa
revoluo
cultural
perante a qual
nos
encontramos
agora disse
Lenin, em um
de seus
ltimos
escritos,
acrescentando:
Para ns
suficiente
agora esta
revoluo
cultural para
nos tornarmos
um pas
completamente
socialista. Mas
esta revoluo
cultural
apresenta
incrveis
dificuldades
para ns, tanto
no aspecto
puramente
cultural (pois
114 LUTAS SOCIAIS 5
a um nmero crescente de povos, processo que comea j na fase da
acumul ao pri mi ti va e conti nua ao l ongo de seu desenvol vi mento, l he
permi tem ameni zar o perfi l acentuado que suas contradi es adqui rem no
centro do sistema, s custas da transferncia para a periferia de seu potencial
expl osi vo a autodestruti vo.
Esta a razo pela qual a ruptura com o capitalismo e a passagem para
o soci al i smo comearam nos pases mai s atrasados, onde a expl orao
capi tal i sta di spensa arti fci os e di sfarces, al m de se exercer sobre uma
massa de trabal hadores ai nda pouco submeti dos i deol ogi a burguesa. Isto
acarreta duas conseqnci as para o soci al i smo nascente: i mpl antar-se sobre
uma base materi al i nci pi ente, pouco capaci tada para enfrentar a competi o
com o mundo capi tal i sta, e depender da mobi l i zao de povos que no
ti veram acesso pl eni tude da cul tura burguesa, ai nda que apresentassem
mui tos de seus vci os. Este l ti mo aspecto foi possvel porque esses povos
no eram, como pretendi am al guns, uma pgi na em branco (a verso
soci al i sta do bom sel vagem). Ao contrri o, sua cul tura estava marcada pel a
desi gual dade e pel o val or de troca, sendo-l hes, portanto, fci l assi mi l ar o
que o capi tal i smo l hes ofereci a de pi or: a possi bi l i dade de se opri mi rem e
se expl orarem mutuamente, movi dos pel a ambi o de possui r bens e
sobretudo di nhei ro.
Cidadania burguesa e cidadania socialista
Nestes termos, a conqui sta do poder no comporta a possi bi l i dade de
transformar de um s gol pe as estruturas soci oeconmi cas e, o que ai nda
mai s grave, i nstal a na di reo do Estado uma cl asse cuj o desenvol vi mento,
no seio da sociedade anterior, no lhe permitiu amadurecer ideologicamente,
medi ante a conqui sta e a superao da cul tura burguesa. A cri se atual do
soci al i smo nos fora a refl eti r sobre este probl ema e esta refl exo aponta
para a recol ocao da probl ema da vanguarda, ou do parti do, e sua rel ao
com as massas.
Em um movi mento i nverso ao que Marx efetuou entre o fracasso das
revolues de 1848 e a criao da Associao Internacional dos Trabalhadores,
os revol uci onri os tm si do l evados, sob a i nfl unci a da revol uo russa de
1917 e da necessi dade de l utar contra as estruturas pol ti cas, rgi das dos
pases atrasados, a fundamentar sua estratgi a na di nmi ca da vanguarda e
a confi ar em que a gestao de uma nova ti ca e uma nova cul tura no sei o
do parti do assegurar a real i zao do soci al i smo. A vi da tem mostrado que,
mesmo se mantm i ntactos seu si stema i deol gi co e sua vocao
revol uci onri a (o que no a regra), o parti do no pode substi tui r a cl asse
na construo de uma nova soci edade. Esta uma tarefa que cabe,
fundamental mente, prti ca col eti va das massas e que obedece s l ei s
gerais dos processos sociais.
No se trata de negar a val i dade do parti do enquanto i nstrumento de
l uta das massas nem seu papel condutor e educador. Trata-se to somente
de entender que o amadureci mento da capaci dade revol uci onri a das
somos
analfabetos)
como no
aspecto
material (pois
para sermos
cultos
necessrio um
certo
desenvol-
vimento dos
meios
materiais de
produo,
necessria
uma certa
base
material. (s/d
a, 36: 502-3).
RUY MAURO MARINI 115
massas depende, antes de mais nada, de sua prpria experincia de vida.
j usto e correto que o parti do exera o papel de di reo e farol nas l utas
sociais, que desenvolva a agitao e a propaganda, que se preocupe com a
formao de quadros, que se esforce para formul ar propostas tti cas e
estratgi cas que central i zem as aes di spersas da soci edade.
Mas, em l ti ma i nstnci a, a sorte da revol uo depende da consci nci a
real que as massas adquiram acerca dos obstculos que o capitalismo impe
real i zao humana e das l i mi taes i nerentes aos mtodos reformi stas.
Para i sto, no basta a agi tao nem a propaganda: as massas tm que se
educar na prti ca e, neste senti do, devem ser esti mul adas a tentar a
superao dos mal es do capi tal i smo por mei o do exercci o ampl o dos
mecani smos que a burguesi a afi rma servi r para este fi m ou daquel es aos
quai s el a no pode se opor sem desmascarar a natureza di scri mi natri a e
excl udente do si stema.
Para dominar as foras produtivas, para distribuir de modo justo a riqueza,
para exercer a di reo da soci edade no soci al i smo, necessri o que as
massas saibam usar os meios que a burguesia utiliza e que os submeta a sua
crti ca prti ca. Este cami nho deve conduzi -l as a se apoderarem, de fato, da
grande conqui sta democrti ca que si gni fi cou o surgi mento da era burguesa:
o concei to de ci dadani a, depurado, na teori a, das excl uses com que se
tem tratado de restri ngi -l o a grupos soci ai s tni cos e sexuai s defi ni dos.
Ainda que a luta dos trabalhadores, das minorias tnicas e sexuais, das
mul heres e dos j ovens tenha ampl i ado a vi gnci a real desse concei to, el e
ai nda sofre, no capi tal i smo, as l i mi taes i mpostas pel as desi gual dades de
cl asse e di ferenas econmi cas. A democraci a soci al i sta, na medi da em
que tem o obj eti vo de supri mi r essas desi gual dades e di ferenas, aponta
para a real i zao pl ena do concei to de ci dadani a e l he proporci ona um foro
efeti vamente uni versal .
Esta uma das grandes contri bui es do soci al i smo hi stri a humana,
que o di ferenci a radi cal mente do capi tal i smo, o qual i ncapaz de conduzi r
a este resul tado. A ci dadani a soci al i sta, expresso da perfei ta i gual dade
pol ti ca, a condi o necessri a para que os homens desenvol vam
i ntegral mente sua di versi dade i ndi vi dual e estabel eam entre si rel aes
soci ai s de uma ri queza e compl exi dade sem paral el o no passado. este o
senti do em que, com Marx, possvel fal ar no no fi m, como pretendem
al guns, mas no comeo da hi stri a venci da enfi m esta pr-hi stri a de
expl orao e opresso do homem pel o homem que nos cabe ai nda a vi ver.
Socialismo e democracia
Na histria das idias, socialismo e democracia no tm a mesma origem
nem tendem necessari amente a ser i dnti cos. Tanto Pl ato como Sai nt-
Si mon foram capazes de i magi nar si stemas soci al i stas de carter
marcadamente autori tri o, do mesmo modo como a i deol ogi a burguesa,
mesmo em suas expresses mai s avanadas, consegui u col ocar a questo
da democraci a sem vi ncul -l a ao soci al i smo. o soci al i smo moderno, que
116 LUTAS SOCIAIS 5
surge como crtica ao processo e idia da sociedade burguesa, com Babeuf,
Bl anqui , a esquerda ri cardi ana, e cul mi na com o marxi smo, o que rel aci ona
i nti mamente os doi s concei tos e os torna i nseparvei s.
Inseparvei s, porm no i dnti cos. Em sua expresso superi or, i sto ,
como governo das mai ori as, a democraci a supe o soci al i smo, na qual i dade
de modo de organizao social que, por assentar-se na propriedade coletiva
dos mei os de produo, assegura i gual dade pol ti ca dos produtores
embora, como afi rmou Marx, no l hes garanta ai nda i gual dade econmi ca.
Al m di sso, a democraci a pl ena no somente tem o soci al i smo como
premi ssa, mas conduz a el e, a menos que se possa i magi nar uma mai ori a
que governe em benefci o da mi nori a, ou sej a, contra si mesma.
A i nterdependnci a que assi m se estabel ece entre democraci a e
soci al i smo no deve ocul tar o fato de que, l onge de consti tui r uma
i denti dade, ambos correspondem a doi s concei tos e, se os concei tos so
bons, a duas real i dades perfei tamente di ferentes, ai nda que uni dos por
um nexo i ndi ssol vel . Enquanto rel ao di al ti ca, as real i dades que al i se
i nscrevem, ai nda que mutuamente determi nadas, possuem vi da prpri a,
podendo desenvol ver-se de manei ra assi mtri ca e at contradi tri a. Foi
assi m que, no curso da revol uo prol etri a, deparamos com si tuaes em
que a defesa do soci al i smo se fez s custas da democraci a (o comuni smo
de guerra sovi ti co, de 1918 a 1921, por exempl o) ou as exi gnci as da
democraci a i mpuseram l i mi tes soci al i zao (Ni cargua sandi ni sta).
Em geral, as crticas equivocadas, da direita ou da esquerda, s revolues
prol etri as nascem da i ncompreenso do carter di al ti co da rel ao
soci al i smo/democraci a. Pi or ai nda: el as no percebem que esta rel ao se
real i za por mei o de processos naci onai s, que, por suas determi naes
pecul i ares de carter soci oeconmi co e cul tural , bem como pel a correl ao
de foras i nternaci onal em que se i nserem, afetam o modo pel o qual el a se
desenvol ve, da mesma forma que fazem do tempo hi stri co o momento
parti cul ar em que produz cada revol uo.
No que se refere a rel ao soci al i smo/democraci a, a confuso quanto
ao que essenci al ou conti ngente, o que corresponde ao concei to ou a
real i dade a que se refere no , todavi a, excl usi va de seus crti cos. Exi ste
em cada processo parti cul ar a tentao de converter em l ei s ou i mperati vos
gerai s o que no passa de caractersti cas especfi cas. El a tanto mai or
quanto mai s controverti das so essas caractersti cas, ou sej a, quanto mai s
parece ser necessria sua justificativa. Foi assim com a coletivizao forada
da Uni o Sovi ti ca, a qual , sendo apenas o resul tado do i sol amento
internacional do pas e das lutas de classes que l se travavam, foi elevada
por seus partidrios mais entusiastas condio do efeito de uma hipottica
l ei de acumul ao pri mi ti va soci al i sta.
A real i dade que a expropri ao vi ol enta dos camponeses al m de
no ter ocorri do nas revol ues posteri ores (na Chi na, por exempl o, ou em
Cuba) foi , na Uni o Sovi ti ca, a expresso e, de certo modo, o momento
hi stri co de sol uo das contradi es que se veri fi cavam no sei o da al i ana
RUY MAURO MARINI 117
operri o/camponesa, as quai s havi am dado l ugar ao confi sco de gros,
prpri o do comuni smo de guerra. Quando Leni n formul ou a Nova Pol ti ca
Econmi ca (NEP), que restabel eceu o j ogo de mercado para a produo
camponesa, o fez preci samente para abri r um cami nho pacfi co, i sto ,
democrti co, para o desenvol vi mento dessas contradi es.
As alianas de classes
Este , sem dvi da, um el emento central do concei to de democraci a e
que l he confere sua especi fi ci dade, i ndependente do si stema econmi co
com o qual convi ve: o reconheci mento de di vergnci as e choques de
interesses entre os atores polticos (a democracia socialista no faz mais do
que converter em sujeitos polticos reais as grandes massas do povo, o que
a democraci a burguesa cobe e repri me) e a possi bi l i dade efeti va de que
el es sej am sol uci onados paci fi camente, por mei o de negoci ao e do
consenso. No momento em que um suj ei to i mpe a outro uma sol uo de
fora, est abandonando o terreno da democraci a, por mai s que, aos ol hos
dos contemporneos em perspecti va hi stri ca se procure j usti fi car esta
i mposi o como desti nada a garanti r, a l ongo prazo, a prpri a democraci a.
Pode-se di scuti r se, caso no houvesse ocorri do a col eti vi zao, a Uni o
Sovitica teria sido capaz de levar adiante sua edificao socialista; mas no
h dvi da de que a col eti vi zao consti tui u um modo no-democrti co de
sol uci onar a cri se a que havi a chegado a al i ana operri o/camponesa.
Nesta perspecti va, a democraci a, mai s al m das i nsti tui es j urdi co
pol ti cas em que se expressa, confi gura um modo, um mtodo para
sol uci onar as di vergnci as entre os suj ei tos pol ti cos, i sto , de modo geral ,
entre as classes sociais. Entre todas? A viso leninista, inscrita em um contexto
de guerra ci vi l e de agresso i nternaci onal , responde a esta pergunta
restri ngi ndo a democraci a ao campo da revol uo, al i ana operri o/
camponesa, e a torna gmea da di tadura a ser exerci da sobre a burguesi a,
que promove esta guerra e esta agresso. Dei xemos de l ado, por enquanto,
a questo de saber se essa dual i dade consubstanci al ao concei to de
democraci a soci al i sta e nos ocupemos, i ni ci al mente, de como Leni n concebe
o seu exercci o.
Na Revol uo Russa, a al i ana operri o-camponesa no uma al i ana
entre i guai s. Isto fi ca cl aramente estabel eci do na Consti tui o de 1921, que
superdi mensi ona a representao pol ti ca do prol etari ado em detri mento
dos camponeses. Consi dera-se esta al i ana como a que real i za a cl asse
cl asse revol uci onri a o prol etari ado com a i mensa massa opri mi da e
expl orada da Rssi a, a qual se compe essenci al mente de camponeses, e
que ela se baseia na insubmisso destes a esta opresso e explorao, o que
tambm os converte em revol uci onri os. Porm, enquanto os camponeses
podem se contentar com o acesso ao di rei to de propri edade, mantendo-se,
por el e, nos marcos da revol uo burguesa, o prol etari ado quer i r al m e
supri mi r a propri edade pri vada dos mei os de produo, como modo de
118 LUTAS SOCIAIS 5
garantir a igualdade poltica e, enfim, a liberdade. A questo consiste, para o
prol etari ado, em convencer o campesi nato a l utar contra seu i nteresse
i medi ato, a propri edade pri vada, em troca da sati sfao de seu i nteresse
geral , ou sej a, o trmi no de qual quer forma de opresso e expl orao.
Convencer si gni fi ca persuadi r. Exi ste, para i sto, uma razo prti ca: por
sua si tuao mi nori tri a na soci edade, o prol etari ado no tem condi es de
submeter o campesi nato pel a fora, mesmo que al egasse que o faz em
benefci o deste, sem col ocar em cheque a al i ana de cl asses. Mas tambm
exi ste uma questo de pri ncpi o: submet-l o pel a fora contrari a a vocao
democrti ca do prol etari ado.
Portanto, preciso recorrer mais persuaso do que coero: isto o
que faz do Estado operri o-campons um Estado democrti co, ou sej a, um
Estado cuja caracterstica central a soluo das divergncias entre as classes
mediante a discusso e o consenso. A forma e a durao da transio socialista
estaro determi nados, antes de tudo, pel o modo como se enfrentam as
di vergnci as e tempo que sua resol uo exi j a. At ento, as duas cl asses
tm de convi ver paci fi camente, fazendo concesses mtuas, nos marcos
das i nsti tui es estatai s que assegurem esta convi vnci a.
A convi vnci a democrti ca no i mpede, mas, ao contrri o, exi ge
i ni ci ati vas tendentes a modi fi c-l a. Do contrri o, resul tari a em estagnao, o
pi or i ni mi go dos grandes proj etos hi stri cos. Enquanto essas i ni ci ati vas se
mantm no pl ano da persuaso, el as no afetam em nada o carter
democrti co do Estado. Bastari a, porm, que assumi ssem um carter
coerci ti vo para que a democraci a fosse posta em xeque.
Isto nos l eva a perguntar o que a l ei em um Estado democrti co.
Instrumento medi ante o qual este fi xa obj eti vos e estabel ece procedi mentos
sob pena de sano, o que a converte em medi da coerci ti va, a l ei no
poderia existir em um regime no qual todos fossem iguais e ningum tivesse
o direito de impor qualquer coisa ao outro. Para que ela exista, necessrio
que a tomada de decises em uma sociedade no se reparta eqitativamente
entre os indivduos e as classes que a compem o que no tem nada a ver
com a i gual dade de todos perante a l ei , noo que a revol uo prol etri a
herda da revol uo burguesa.
Democraci a e i gual dade pol ti ca no so, poi s, i dnti cas. A democraci a
i mpl i ca desi gual dade no pl ano da tomada de deci ses e i mpl i ca
necessari amente um modo de domi nao. A especi fi ci dade da democraci a
socialista reside em que a dominao tende a se exercer predominantemente
por mei o da persuaso e no pel a coero.
Eis porque, para Lenin, a lei no um mero imperativo que implica uma
sano (como ocorre na democraci a burguesa), mas tambm e sobretudo
enquanto mei o de ao da democraci a soci al i sta, um el emento educati vo,
que col oca obj eti vos e que os expl i ca, cabendo ao Estado (e ao parti do)
apl i c-l os por mei o da persuaso. A l ei i deal na democraci a soci al i sta,
aquela que contm mais prembulo do que artigos e que serve de ferramenta
aos agi tadores e propagandi stas para i nduzi r comportamentos
RUY MAURO MARINI 119
revol uci onri os
6
. No limite, a lei apenas uma forma mais desenvolvida de
educao pol ti ca
7
. A este respeito, Lenin afirmou que, se esperssemos
que a redao de uma centena de decretos fosse mudar toda a vi da do
campo, seramos uns rematados i di otas. Mas se renunci ssemos a i ndi car
nos decretos o cami nho a segui r, seramos trai dores ao soci al i smo. Estes
decretos, que na prtica no puderam ser aplicados imediata e integralmente
desempenharam um grande papel para a propaganda (...) O nosso decreto
um apel o, mas no no espri to anteri or: Operri os, erguei -vos, derrubai a
burguesia! No, um apelo s massas, um apelo ao prtica. Os decretos
so instrues que chamam ao prtica de massas. (s/d b, III, 122).
8
Alianas e compromissos
O mtodo persuasi vo de governo apresenta-se como al go possvel
quando exerci do entre cl asses que enfrentam um i ni mi go comum e
comparti l ham obj eti vos hi stri cos, sendo, por i sto, capazes de atuar com
base no consenso. Rel aes de cl asses desta natureza consti tuem uma
al i ana e sua expresso pol ti ca a democraci a.
Distinta a situao em que se trata de classes cujo relacionamento se
baseia na opresso e na explorao de uma pela outra. Neste caso, o mtodo
de governo por excelncia a coero, por muito que a resistncia e luta da
classe dominada obrigue a classe dominante a fazer concesses e a recorrer,
se no persuaso, pel o menos ao engano, com propsi to de l i mi tar o uso
i ndi scri mi nado da coero.
De fato, nenhum Estado pode operar excl usi vamente por mei o da
coero. Mesmo o Estado escravi sta, que repousa em uma rel ao de
opresso e explorao quase indisfarvel e que, por isso mesmo, se encontra
sempre com as armas na mo, forado, para exercer seu poder, a empregar
mei os no coerci ti vos: a tradi o, a i di a da i nferi ori dade do escravo, etc.
Com o advento da soci edade burguesa, i sto se acentua, j que a cl asse
domi nante se v obri gada a conci l i ar a opresso e a expl orao que exerce
sobre outras classes com o projeto histrico que ela props a estas e que se
basei a nas noes de l i berdade e i gual dade, assi m como na de progresso.
Cabe i deol ogi a burguesa real i zar esta tarefa. Arma pri vi l egi ada que
representa para a conqui sta do poder pol ti co, a i deol ogi a consti tui tambm,
para a burguesi a, i nstrumento fundamental para exerc-l o. Nenhuma cl asse
na hi stri a, antes del a, concedeu i deol ogi a papel to deci si vo em seu
modo de domi nao. Val endo-se da i deol ogi a, a burguesi a real i zou um
esforo gi gantesco, com o obj eti vo de converter i gual dade e subordi nao
de todos perante a l ei ; l i berdade na l i vre di sposi o da prpri a fora de
trabal ho; e ao progresso, em perspecti va i ndi vi dual de ascenso soci al .
A pedra angular desta construo ideolgica foi o conceito de cidadania
ou, o que o mesmo, a ti tul ari dade i ndi vi dual dos di rei tos ci vi s e pol ti cos,
mediante o qual burguesia escamoteou s classes sociais e destinou a cada
qual o papel de parti ci pante i sol ado na vi da do Estado. Desta manei ra, o
i ndi vduo se confrontou i ntei ramente desarmado com o Estado, fonte e
6. Isto foi o que
vislumbrou
Rousseau, ao
se ocupar do
tema da
desigualdade,
e que quase o
levou ao ponto
de ruptura
com a
ideologia
burguesa. Sua
fidelidade ao
pequeno
produtor e, por
fim, pequena
propriedade
individual o
impediu de
faz-lo. Disto
se aproveitou
a burguesia
para, mesmo a
contragosto,
empreender a
recuperao
de sua
doutrina.
7. mais
desenvolvida
porque a
classe que a
utiliza conta
com o Estado
para apoi-la,
mesmo que
no tanto pelo
uso da fora,
mas antes pela
presso
econmica;
v.g., a
prioridade
concedida s
cooperativas
agrcolas para
a obteno de
recursos do
Estado.
8. Mais
adiante, ele
acrescenta:
Os nossos
decretos em
relao s
exploraes
camponesas
120 LUTAS SOCIAIS 5
guardi o da ordem estabel eci da e que basei a sua exi stnci a no monopl i o
da fora. O papel destacado que assumi u a i deol ogi a na i mpl ementao da
ordem burguesa no dei xa margem ao uso da fora, cabendo tambm
burguesi a a i nveno do monopl i o estatal da mesma. Este i nexi ste em
regi mes anteri ores, sendo que o mai or grau de di sperso da fora que
observamos em i nsti tui es estatai s o que ocorre no Estado escravi sta,
em que cada propri etri o de escravos l i vre para empreg-l as contra seus
t r abal hador es.
9
A democraci a soci al i sta, que rompe com o i ndi vi dual i smo burgus e se
assume como expresso da l uta de cl asses, renunci a tambm mi sti fi cao
i deol gi ca como i nstrumento de domi nao. J vi mos a rude franqueza
que rei na no i nteri or da al i ana operri o-campesi na, baseada no i nteresse
comum de pr fi m opresso e expl orao, ai nda que nel a subsi stam
di vergnci as em rel ao aos i nteresses de cl asse i medi atos. Em rel ao
burguesi a, com a qual no comparti l ha nenhum obj eti vo hi stri co e da qual
l he separa seu i nteresse de cl asse geral , o prol etari ado no pode prati car
uma pol ti ca de al i ana: ao contrri o, est obri gado a submet-l a fora,
pel a coero, a seu proj eto de soci edade.
Compreende-se, portanto, que, em uma poca em que a correl ao
mundi al de foras a favorece, a burguesi a se oponha fi rmemente aos
movi mentos naci onai s de revol uo soci al i sta, medi ante o fomento
resi stnci a i nterna e agresso externa. Nesse contexto, a dual i dade
democraci a-di tadura, tal como a formul a Leni n, mantm vi gnci a. Persuaso
e coero se apresentam, nesta perspecti va, como duas l i nhas cl aramente
di ferenci adas, pl os opostos e compl ementares da ao estatal .
Mas nem a resi stnci a da burguesi a se exerce de manei ra constante e
uni forme, nem a correl ao mundi al de foras tem preemi nnci a sobre a
que, i nternamente, vai construi ndo a revol uo. Assi m, sej a porque a
burguesi a fraquej a temporari amente em sua l uta oposi tora, sej a porque se
v forada a acei tar si tuaes si tuaes de facto, a democraci a soci al i sta
pode a partir de uma clara posio de fora fazer-lhe concesses, bem
como a setores de outras cl asses a el a vi ncul ados (como os i ntel ectuai s
bur gueses) .
Estas concesses no se confundem com as que so fei tas no i nteri or
da al i ana operri o-camponesa. Estas so i l i mi tadas em seu contedo e no
tempo, determi nando por i sto o carter, o ri tmo e a durao da transi o
soci al i sta. As concesses burguesi a, i nversamente, esto condi ci onadas
pelas exigncias da transio, a qual contribui para fixar sua natureza e seus
prazos. Caso se revel em exi tosas, abrem a possi bi l i dade de acordos
especficos, os quais, sem chegar a configurar uma aliana , dado que excluem
obj eti vos hi stri cos comuns, se defi nem como compromi ssos.
A pol ti ca l eni ni sta prati ca compromi ssos sem nenhum di sfarce. Um
exempl o di sso o decreto de 1918 que regul amentava a publ i ci dade
comerci al , o qual , como subl i nhou o prpri o Leni n, i ndi cava cl aramente
que o governo sovitico no se propunha como tarefa imediata a socializao
so
basicamente
justos. No
temos motivos
para renunciar
a nenhum
deles nem
para lamentar
um nico. Mas
se os decretos
so justos,
injusto imp-
los pela fora
ao campons
(s/d, b:125).
9. A burguesia,
em sua luta
contra a
ordem feudal,
postula o
monoplio da
fora e,
transformada
em classe
dominante, o
emprega
conta as
demais
classes,
chegando,
inclusive, a
suprimir suas
prprias
organizaes
aramadas,
constitudas,
na Idade
Mdia, em
defesa da
autonomia dos
burgos. Sob o
regime jurdico
burgus, o
direito de
portar armas
s
concedido a
cidados
qualificados e
em funo
exclusiva de
sua defesa
individual.
RUY MAURO MARINI 121
total da i ndstri a e do comrci o. Outro que os pri vi l gi os concedi dos aos
tcnicos, no perodo da NEP. A revoluo chinesa assegurou a sobrevivncia
das empresas capitalistas nacionais, pelo tempo de vida de seus proprietrios.
Cuba manteve durante mui to tempo i ntocado o pequeno comrci o. E a
Ni cargua sandi ni sta, na l i nha esboada pel o governo soci al i sta chi l eno da
Uni dade Popul ar, consagrou trs formas de propri edade em seu estatuto
j urdi co: estatal , cooperati va e pri vada.
Neste pl ano, o concei to de di tadura, enquanto regi me de vi ol nci a
aberta de uma cl asse contra outra, no se apl i ca pl enamente. Os
compromi ssos representam uma forma de exercci o do poder at certo
ponto consensual , embora tenham como premi ssa a capaci dade de coero
material do Estado. Diferentemente das alianas, eles no implicam questes
rel ati vas a propsi tos hi stri cos comuns, mas que se referem a i nteresses
de cl asse i medi atos, cl aramente i denti fi cados e devi damente equaci onados
pelas partes. A importncia para o desenvolvimento da democracia socialista
transcende o pl ano meramente tti co e vai mai s al m do mbi to ati nente
s rel aes prol etari ado-burguesi a. Com efei to, para chegar a prati car uma
pol ti ca de compromi ssos, o prol etari ado tem que haver resol vi do
corretamente sua pol ti ca de al i anas: somente um sl i do bl oco
revol uci onri o assegura um Estado forte, condi o si ne qua non, como j
indicamos, do compromisso. Em outras palavras, a poltica de compromissos
no possvel se a democracia no se exerce plenamente no seio da aliana,
sem o que se abri r o fl anco a manobras do i ni mi go.
Nesta perspecti va, a pol ti ca de compromi ssos no representa seno a
i rradi ao da prti ca democrti ca do bl oco revol uci onri o ao conj unto da
soci edade. Por seu i ntermdi o, mesmo a domi nao baseada na coero
assume mati zes mai s suaves, permi ti ndo a extenso i l i mi tada da prti ca
democrtica prpria burguesia. Ela abre caminho para a universalizao da
persuaso, parti cul armente em rel ao s novas geraes ori gi nri as da
burguesi a, respal dando as conqui stas que l ogrem medi ante a revol uo
cul tural . Por i sso, o uso do compromi sso, sempre que for possvel , i mpri me
um carter mai s democrti co ao conj unto da transi o soci al i sta, a qual ,
neste contexto e somente nel e pode adotar-se de manei ra ampl a o
pl ur al i smo.
para uma transi o soci al i sta que pri vi l egi a o compromi sso que Marx
concebeu o programa exposto no Mani festo Comuni sta. Aps mai s de um
scul o de l utas de cl asses, a mai ori a dos pontos al i i ncl udos foi total ou
parci al mente apl i cada no i nteri or do prpri o capi tal i smo, ao menos nos
pases mai s avanados. Porm se enganam, os que acredi tam por i sso que
aquel e era o programa da revol uo democrti co-burguesa. Basta constatar
que, entre esses pontos, est a supresso do direito de herana para que se
d conta de que o programa apontava para a promoo do desaparecimento
da col una de sustentao de toda a soci edade burguesa: a propri edade
pri vada dos mei os de produo.
A aparente modsti a e o gradual i smo que se expressam no programa
do Mani festo tm a ver com a manei ra como Marx concebe o advento do
comuni smo, i sto , como fruto do prpri o desenvol vi mento hi stri co. Em
122 LUTAS SOCIAIS 5
um nvel de abstrao mai s el evado, el e o formul ou em seu Prefci o
contri bui o..., em que nos apresenta a passagem do capi tal i smo ao
comuni smo como uma sucesso quase natural de modos de produo. O
capi tal i smo cri a, neste marco, as premi ssas do comuni smo e sobre el as
que se apoi a o prol etari ado para promover a transi o soci al i sta.
Isto no excl ui , de forma al guma, o fato da revol uo, ou sej a, da
conqui sta do poder pol ti co pel o prol etari ado. Efeti vamente, para Marx, o
Estado a p que o proletariado deve tomar em suas mos para remover as
formas capitalistas que obstruem a marcha da histria. As formas capitalistas
que bloqueiam a marcha da historia. Esta idia percorre toda sua obra, est
presente em O Capi tal (em que rei vi ndi ca, por certo, o programa do
Mani festo), em sua pol mi ca com os cooperati vi stas e, sobretudo, em sua
reflexo sobre a Comuna de Paris. Ao reconhecer nesta a primeira expresso
histrica do Estado proletrio, Marx apenas reafirma (como Engels) o que o
Mani festo expusera, sem dei xar l ugar para dvi das: a necessi dade da
revol uo prol etri a como partei ra do soci al i smo.
Os caminhos da revoluo
Esta revoluo necessariamente violenta? Marx admite a possibilidade
do cami nho paci fi co, baseado no compromi sso, em pases sem grande
desenvolvimento da burocracia e do exrcito, ou seja, pases onde o Estado
burgus no al canou sua pl ena maturi dade. Em sua anl i se do probl ema,
Leni n parte da vi so do capi tal i smo em sua fase i mperi al i sta para sustentar
que a vi a pacfi ca estava cancel ada preci samente naquel es pases onde
Marx a j ul gara mai s prati cvel (Estados Uni dos, por exempl o). As refl exes
de Leni n, retomadas depoi s pel a Tercei ra Internaci onal , faro do
i mperi al i smo a pedra angul ar da estratgi a da revol uo vi ol enta,
parti cul armente nos pases do Tercei ro Mundo.
A hi stri a deu razo a Leni n. No h moti vo para supor que a
possi bi l i dade da revol uo pacfi ca no se possa recol ocar, ai nda sobre
bases distintas das que Marx estabeleceu. Em um marco que se caracterizara
pel o reforo constante do soci al i smo e o avano permanente do movi mento
revol uci onri o mundi al , a correl ao de foras i nternaci onal se tornar
i ntei ramente desfavorvel burguesi a. Isto assentar as premi ssas para as
revol ues pacfi cas, capazes de prati car em ampl a escal a o compromi sso
e o pluralismo, o que poupar custos e sofrimento dos povos que estiveram
em condi es de faz-l o.
Obvi amente, esta no a si tuao que estamos vi vendo. Pi or ai nda,
passamos por um perodo que no favorece uma estratgi a ofensi va por
parte das foras socialistas, o que faz, ao menos por certo tempo, improvvel
a revol uo vi ol enta. Vemo-nos, poi s, forados a buscar novas formas de
ao, ori entadas para col ocar os trabal hadores em condi es de sol uci onar
a seu favor a disputa pelo poder, nas circunstncias atuais.
Como ns, os marxi stas, sabemos, estas formas de ao no podem
ser fruto de uma si mpl es i nveno, mas tm que representar a expresso
consci ente do movi mento espontneo das l utas de cl asses. Setenta anos
RUY MAURO MARINI 123
de tri unfos e derrotas do soci al i smo proporci onam uma ampl a gama de
experi nci as, cuj a ri queza nossa refl exo est, todavi a, l onge de esgotar.
Porm, no h dvi da de que el as nos col ocam uma exi gnci a fundamental :
apreender, em sua expresso concreta e parti cul ar, a especi fi ci dade da
rel ao soci al i smo-democraci a e entender, em cada caso, como se
confi guraro as contradi es que el a i mpl i ca. Em parti cul ar, estamos
obrigados a analisar as causas da crise do socialismo na Unio Sovitica e na
Europa Ori ental , sem l amentar a derrocada de regi mes que sabamos
incapazes de realizar as tarefas da transio socialista.
Mas preci so i r ai nda mai s l onge. Trata-se, para ns, de i nvesti gar e
descobri r as perspecti vas de transformao soci al que o atual
desenvol vi memto das foras produti vas est abri ndo, na medi da em que
tende a superar as di ferenas entre o campo e a ci dade, homogenei zar em
mbi to mundi al as condi es tcni cas de produo e i nternaci onal i zar o
processo de trabal ho. Trata-se tambm de determi nar at que ponto este
desenvol vi mento, que pri vi l egi a o trabal ho i ntel ectual e os servi os
produti vos, afeta o concei to de prol etari ado, pel as di ferenci aes que
introduz no interior da classe trabalhadora. Trata-se, sobretudo, de entender
as novas formas de ao e os mecani smos de parti ci pao que as massas
esto cri ando para i ntervi r de modo mai s ati vo no pl ano da gesto
empresari al e pol ti ca.
O control e operri o, a co-gesto e a autogesto das empresas; a l uta
eleitoral e a participao no parlamento e nos governos locais; a participao
e o controle popular sobre as polticas oramentria, educacional, de sade,
de transporte pblico, junto reivindicao de uma maior autonomia regional
e local; a democratizao dos meios de comunicao e o rechao da censura;
a crti ca s desi gual dades de base econmi ca, tni ca ou sexual : estes so
al guns dos i nstrumentos de que as massas esto l anando mo, aqui e al i ,
para defender seus i nteresses, el evar sua cul tura pol ti ca e amadurecer seu
espri to revol uci onri o. por este cami nho que el as esto se capaci tando
para di ferentemente do ocorreu at agora nas revol ues soci al i stas
assumi rem, el as mesmas, a di reo do processo de transi o soci al i sta. O
que, ao fim e ao cabo, a nica garantia segura de seu xito.
BIBLIOGRAFIA
GARCIA, A. (1975). Lenin y la revolucin cultural. Mxico, Era.
LENIN, V. (s/d a). Sobre a cooperao. In Obras escolhidas, vol. III. So Paulo, Alfa-Omega.
________. (s/d b). Relatrio sobre o trabalho no campo. In Obras escolhidas, vol. III. So Paulo, Alfa-
Omega.
MARX, K. (1977). Introduo crtica da economia poltica. In: Contribuio crtica da economia
poltica. So Paulo, Martins Fontes.
_________(1985). O Capital, vol. II, livro 1. So Paulo, Nova Cultural.
RAGGIONIERI, E. (1973). Lenin y la Internacional Comunista. In Los cuatro primeros congresos de
la Internacional Comunista. Crdoba, Cuadernos de Pasado y Presente.
Você também pode gostar
- Lingua - Espanhola LivroDocumento601 páginasLingua - Espanhola LivroSimony Oliveira100% (4)
- Relatório de Estagio AdministraçãoDocumento15 páginasRelatório de Estagio AdministraçãoPedro Henrique50% (4)
- Compendio Da Historia Do BrasilDocumento374 páginasCompendio Da Historia Do BrasilREDEBOLIVARIANAAinda não há avaliações
- Apostila Pronatec CooperativismoDocumento92 páginasApostila Pronatec CooperativismoLaura PinheiroAinda não há avaliações
- A Revoluà à o Russa - Sheila Fitzpatrick PDFDocumento343 páginasA Revoluà à o Russa - Sheila Fitzpatrick PDFmiguel denta100% (4)
- Ferreira Da Ponte V PDFDocumento187 páginasFerreira Da Ponte V PDFAécio Timbó Braga50% (2)
- A Governaçao Eletrônica em MoçambiqueDocumento11 páginasA Governaçao Eletrônica em MoçambiqueSergio Alfredo Macore80% (5)
- Maria Da Penha Exercicio Modulo IDocumento8 páginasMaria Da Penha Exercicio Modulo Ilais95% (22)
- As Relações Colômbia, Países Vizinhos e Estados Unidos PDFDocumento26 páginasAs Relações Colômbia, Países Vizinhos e Estados Unidos PDFREDEBOLIVARIANAAinda não há avaliações
- Livro Unir 2009-1gestao EscolarDocumento206 páginasLivro Unir 2009-1gestao EscolarKatia AlvesAinda não há avaliações
- 287-Revista DEP - Diplomacia Estrategia PolItica - 01 PortuguesDocumento226 páginas287-Revista DEP - Diplomacia Estrategia PolItica - 01 PortuguesREDEBOLIVARIANAAinda não há avaliações
- Teorias Marxistas Sore o Capitalismo ContemporâneoDocumento0 páginaTeorias Marxistas Sore o Capitalismo ContemporâneoREDEBOLIVARIANAAinda não há avaliações
- Zambeze 945Documento24 páginasZambeze 945Fernando B. JamoAinda não há avaliações
- 3 Retrospectiva Principais Julgados de 2019 7 Principais Julgados de Direito ConstitucionalDocumento2 páginas3 Retrospectiva Principais Julgados de 2019 7 Principais Julgados de Direito ConstitucionalclemilsonAinda não há avaliações
- Ato de Nomeação Ingressantes 2 Chamada.Documento15 páginasAto de Nomeação Ingressantes 2 Chamada.Henrique Baena da SilvaAinda não há avaliações
- Carteira SocinproDocumento1 páginaCarteira SocinpromarianotavaresAinda não há avaliações
- bg14172 TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA E REFORMA À PEDIDODocumento30 páginasbg14172 TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA E REFORMA À PEDIDORicardoAinda não há avaliações
- Fortaleza, 19 de Agosto de 2021 - SÉRIE 3 - ANO XIII Nº191 - Caderno 2/4 - Preço: R$ 18,73Documento72 páginasFortaleza, 19 de Agosto de 2021 - SÉRIE 3 - ANO XIII Nº191 - Caderno 2/4 - Preço: R$ 18,73Renan CaldasAinda não há avaliações
- FICHA E RELAÇAO DE DOC. PARA REGISTRO - ESOCIAL MikaelaDocumento1 páginaFICHA E RELAÇAO DE DOC. PARA REGISTRO - ESOCIAL MikaelasociaistayebiaAinda não há avaliações
- A Sociologia Da Educação e o Estado Apos A Globalizacao DALEDocumento22 páginasA Sociologia Da Educação e o Estado Apos A Globalizacao DALERauldeLeoniAinda não há avaliações
- Auditor Fiscal de Tributos Municipais - GabaritoDocumento1 páginaAuditor Fiscal de Tributos Municipais - GabaritoErica MarinhoAinda não há avaliações
- 8º Ano - Língua InglesaDocumento2 páginas8º Ano - Língua InglesaLDZINHAAinda não há avaliações
- Resultado Final Apos Todas As EtapasDocumento22 páginasResultado Final Apos Todas As EtapasTorresAinda não há avaliações
- UruguaiDocumento25 páginasUruguaiElaine AlvesAinda não há avaliações
- INDÍGENASDocumento32 páginasINDÍGENASJoão Paulo dos SantosAinda não há avaliações
- Boletim2023833Documento119 páginasBoletim2023833Kelvin Cantarelli dos SantosAinda não há avaliações
- 76º Caderno Cultural de CoaraciDocumento16 páginas76º Caderno Cultural de CoaraciPauloAinda não há avaliações
- Regimento Interno Camara Municipal de Nova IguacuDocumento115 páginasRegimento Interno Camara Municipal de Nova IguacuCecílio SousaAinda não há avaliações
- Prática Penal: Delegado de PolíciaDocumento9 páginasPrática Penal: Delegado de PolíciaDireito UrcaAinda não há avaliações
- Contrato de Concessão de UsoDocumento3 páginasContrato de Concessão de UsochicogestorAinda não há avaliações
- Hulw Edital31 AnexoDocumento155 páginasHulw Edital31 AnexoDinei ManjiAinda não há avaliações
- 6.portaria de Consolidação N1 Atencao PrimariaDocumento53 páginas6.portaria de Consolidação N1 Atencao PrimariaRichard SalvatoAinda não há avaliações
- Parecer Deputados RJDocumento13 páginasParecer Deputados RJNatalFonsecaAinda não há avaliações
- Rio de Janeiro 2019-06-17 CompletoDocumento84 páginasRio de Janeiro 2019-06-17 CompletoAdrianaMarquesAinda não há avaliações
- FÍSICA MÉDICA Aprovados e Classificados-24-01-2020Documento187 páginasFÍSICA MÉDICA Aprovados e Classificados-24-01-2020João MateusAinda não há avaliações
- Aprovacao de NAPADocumento6 páginasAprovacao de NAPAMateus MachanguanaAinda não há avaliações