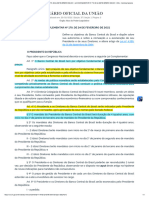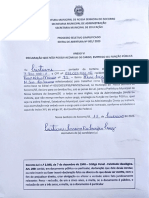Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Participação Social Na Atuação Dos Conselhos Municipais de Bertioga - SP
A Participação Social Na Atuação Dos Conselhos Municipais de Bertioga - SP
Enviado por
Rejane Pereira0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações10 páginasTítulo original
08
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações10 páginasA Participação Social Na Atuação Dos Conselhos Municipais de Bertioga - SP
A Participação Social Na Atuação Dos Conselhos Municipais de Bertioga - SP
Enviado por
Rejane PereiraDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 10
Resumo
Aps a promulgao da Constituio Federal de 1988,
os conselhos das reas sociais se evidenciaram como
instrumentos habilitadores no processo de descentra-
lizao das polticas sociais no mbito local, abrindo
possibilidades de participao poltica e superando
as modalidades tradicionais vigentes at ento. O ob-
jetivo deste trabalho foi o de identificar a composio
dos Conselhos Setoriais do Municpio de Bertioga/SP,
sua forma de atuao e analisar a participao da so-
ciedade civil, utilizando-se a metodologia de estudo
de caso na linha qualitativa. Os resultados mostraram
que, embora o tempo transcorrido a partir das leis que
os institucionalizaram seja curto para esperar resul-
tados sedimentados, as conquistas e os obstculos, na
prtica, sinalizam uma fragilidade, indicando a neces-
sidade de capacitar seus membros e criar mecanismos
para integr-los, a partir da ao coletiva, para exer-
cer influncia sobre o sistema poltico.
Palavras-chave: Conselhos municipais; Controle so-
cial formal; Participao social.
Lucia Helena Presoto
Coordenadora pedaggica do Curso de Ps-Graduao Lato
Sensu em Sade Pblica Instituto Nacional de Estudos em Sade
INES/SP. Mestre em Sade Pblica pela Faculdade de Sade
Pblica/USP
E-mail: presoto@uol.com.br
Mrcia Faria Westphal
Professora Titular do Departamento de Prtica de Sade Pblica
da Faculdade de Sade Pblica/USP
E-mail: marciafw@usp.br
A participao social na atuao dos conselhos
municipais de Bertioga - SP
Social participation in the Bertioga - SP municipal councils
actions
68 Sade e Sociedade v.14, n.1, p.68-77, jan-abr 2005
Abstract
After the establishment of the Federal Constitution
of 1988 the councils on social areas were evidenced
as enabling instruments in the process of decentrali-
zation of social policies at the local level, opening
opportunities for the political participation and
standing out in relation to the traditional modalities
in force until then. The aim of this work was to identify
the composition of Bertioga Sector Councils, their
form of action and analyze the participation of the
civil society, using the case study methodology in the
qualitative line. The results showed that even though
the time frame from their foundation up to the present
is short to show concrete results, the achievements
and the obstacles, in practice, point out a fragility,
indicating the need of training on the part of their
members as well as the creation of mechanisms to
integrate them, based on collective action, if they are
to have any influence over the political system.
Keywords: Municipal Councils; Formal Controls; So-
cial participation.
Introduo
A crescente complexidade da problemtica das ques-
tes sociais que afetam a sade humana, como desem-
prego, falta de moradia, excluso e violncia, exige a
busca de solues mltiplas, porm integradas (La-
londe, 1996) .
Para lidar com estas diversidades, uma das propos-
tas da Promoo de Sade, a estratgia de Municpi-
os/Cidades Saudveis, constitui um processo que tem
como um dos objetivos a operacionalizao de nova
forma de gesto municipal, envolvendo a formulao
de polticas pblicas voltadas para a melhoria da qua-
lidade de vida das pessoas. Pressupe-se que isso ocor-
ra num territrio onde as autoridades locais se rela-
cionem com a populao apoiadas nos princpios de
participao social, intersetorialidade, eqidade e
sustentabilidade. A participao, nesta estratgia,
precisa ser vista como um encontro de categorias so-
ciais, classes e grupos de interesse com a perspectiva
de partilhar o processo decisrio, superando os con-
flitos atravs da negociao. Desta forma, cabe ao
Estado buscar envolver, cada vez mais e de forma di-
reta, os cidados na produo e/ou gerenciamento dos
servios pblicos (PAHO 1999).
Atendendo a esta nova ordem, no Brasil, depois da
promulgao da Constituio de 1988 e das leis que
regulamentaram suas determinaes, institucionali-
zaram-se novas instncias de participao dentro do
aparelho do Estado os conselhos paritrios nos dife-
rentes nveis de governo, principal objeto de anlise
deste estudo.
A Participao Social: conceitos
Definir participao no tarefa fcil por se tratar de
uma ao com diferentes interpretaes. De acordo
com a poca e a conjuntura histrica, ela aparece asso-
ciada a vrios termos como democracia, representa-
o, organizao, conscientizao, cidadania, entre
outros.
Os diferentes olhares dos autores expressam di-
versos aspectos desse conceito rico e complexo.
Ammann (1978) a define, de forma ampla, como o pro-
cesso onde as diversas camadas sociais tomam parte
na gesto, produo e usufruto dos bens de uma socie-
dade, focalizando-a na sua dimenso mais ampla.
Sade e Sociedade v.14, n.1, p.68-77, jan-abr 2005 69
Demo (1988) entende participao como uma conquis-
ta, diferente de concesso ou algo preexistente; foca-
liza a dimenso processual, chamando ateno para
o fato da cidadania dever ser estudada sob a tica do
conflito em funo de interesses diversos de diferen-
tes grupos.
Um outro conceito, apresentado por Valla (1993),
defende a institucionalizao da participao popu-
lar nos rgos e servios do Estado. Para ele, a parti-
cipao o instrumento de governo mais adequado
para construir um regime democrtico e o Estado deve
criar um conjunto de mecanismos participativos,
visando a incorporao dos cidados aos programas
de governo local. A participao em Conselhos Seto-
riais Municipais pode ser includa nesta abordagem
conceitual de Valla, que no descarta a questo do con-
flito de interesses. Assim, o autor alerta para uma con-
tradio nesta forma de participao, que, de um lado
legitima a poltica do Estado diante da populao e,
de outro, significa um canal para as entidades popu-
lares disputarem o controle e a destinao da verba
pblica.
Boschi (1987) chama ateno para o fato destes
movimentos caracterizados pela ao coletiva deve-
rem se desenvolver fora dos canais existentes (parti-
dos polticos e sindicatos) de acesso ao Estado, para
se tornarem sujeitos coletivos que forjam uma identi-
dade ou pressionam por novas e mais amplas formas
de participao.
Entretanto, Telles (1994) acredita que mecanismos
mais flexveis e menos formais, uma nova institucio-
nalidade, tm sido criados pelas organizaes soci-
ais com procedimentos e regras prprias, podendo ser
revisadas e renovadas de forma democrtica a partir
da reflexo sobre a ao. Tambm denominada partici-
pao cidad, esta nova forma utiliza no apenas me-
canismos institucionais disponveis ou a serem cria-
dos, mas os articula com outros mecanismos e canais
legitimados pelo processo social, cabendo ao Estado
apenas estabelecer regras para lidar com o corporati-
vismo e os particularismos, chamando ateno para
a necessidade de se requalificar a participao popu-
lar nos termos da participao cidad que interfere,
interage e influencia na construo de um senso de
ordem pblica regida pelos critrios da eqidade e da
justia.
Os movimentos sociais destacam a participao
de um conjunto de atores distintos dando significado
poltico s suas lutas e mobilizaes. Sua atuao re-
vela a resistncia diante da tentativa de controle, his-
toricamente exercida pelo Governo. Inicialmente, em
sua maioria, estes movimentos eram de carter
reivindicatrio, onde um grupo se unia para lutar por
benefcios prprios ou do bairro. Para Touraine (1973)
eram de carter defensivo e contestatrio, porm
muitos deles tomaram outra dimenso ao incorporar
o esprito da luta pela cidadania. Embora a relao do
Estado com a sociedade civil, a princpio, ocorresse
num espao de enfrentamento, o propsito e o cami-
nho trilhado tiveram um sentido de interao, articu-
lando o desenvolvimento com o bem-estar social.
A Participao em Conselhos Setoriais Governa-
mentais: histrico e constituio
A essncia da participao reside na possibilidade dos
usurios opinarem e participarem efetivamente na
implantao e gesto dos servios pblicos dos quais
so beneficiados.
Em resposta a estas necessidades, a legislao bra-
sileira prev, desde a Constituio de 1988, a criao
de rgos colegiados os Conselhos Federais, Esta-
duais e Municipais das reas sociais.
A participao da sociedade civil organizada em
conselhos permite o exerccio do controle social so-
bre as polticas governamentais, a formulao e pro-
posio de diretrizes, o estabelecimento de meios e
prioridades de atuao voltadas para o atendimento
das necessidades e interesses dos diversos segmen-
tos sociais, a avaliao das aes e a negociao do
direcionamento dos recursos financeiros existentes.
O tema participao perpassa a histria da socie-
dade humana. A partir das sociedades familiares, a
humanidade passou por vrias fases de organizao
como as hordas e tribos, estados primitivos de organi-
zao incipiente at a concepo moderna de Estado.
Na Grcia, a participao era restrita a alguns gru-
pos da sociedade, e as decises importantes, sujeitas
apenas aos cidados. Consideravam-se cidados aque-
les com plena liberdade de direitos civis, contrapondo-
se aos escravos. Os romanos avanaram um pouco mais
no concernente participao social, principalmente
nas questes de direito e cidadania (CAMPOS 1988).
70 Sade e Sociedade v.14, n.1, p.68-77, jan-abr 2005
A revoluo francesa e a industrial inglesa no scu-
lo XVIII foram decisivas para a ascenso da burguesia,
marcando o fim do feudalismo, dando, ao mesmo tem-
po, uma relevncia para a questo dos direitos e crian-
do condies para um aprofundamento dos desnveis
sociais. At a Igreja Catlica, durante longo tempo li-
gada ao poder monrquico, abriu os olhos para a nova
ordem, culminando com a Encclica Rerum Novarum
do Papa Leo XIII, editada no fim do sculo XIX, uma
das sementes do Estado Subsidirio (CAMPOS 1988).
No Brasil, os regimes polticos at a dcada de
1930 resultaram de uma aliana das oligarquias ru-
rais apoiadas por setores do clero catlico tradicional.
O clientelismo poltico desenvolveu-se neste perodo
sob a forma de troca de favores e protees adminis-
trativas por polticos locais. A incipiente industriali-
zao de algumas cidades se fez baseada na mo-de-
obra imigrante, antes destinada agricultura. Movi-
mentos operrios, porta de entrada para a participa-
o, comearam neste perodo sua organizao na
defesa de seus direitos sociais e da regulamentao
do trabalho assalariado. (Westphal, 1992).
Embora o governo Getlio Vargas tenha sido um
regime totalitrio somente superado pela ditadura
militar, caracterizou-se por ter promovido avanos
substanciais em termos de legislao trabalhista, ga-
rantindo direitos de cidadania regulada populao
inserida no mercado de trabalho (Campos, 1988).
A industrializao provocou o aguamento das
contradies econmicas e sociais no meio rural; os
camponeses intensificaram suas manifestaes a fa-
vor da reforma agrria avolumando conflitos entre
latifundirios e posseiros. As conquistas sociais fo-
ram revestidas com o cunho de regulao e o Estado
concedeu benefcios passveis de cobrana em vs-
pera de eleies. Este tipo de atuao do Estado e das
lideranas, ao abrir espaos para o controle dos movi-
mentos operrios, marcaram as reivindicaes sociais
da poca (Westphal, 1992).
Entre a segunda guerra mundial e a dcada de
1960, o Pas foi palco dos regimes populistas basea-
dos na poltica de negociaes entre lderes polticos
e massas populares, acendendo a chama social pelo
voto e sua existncia no meio urbano, eleito, agora,
como espao fundamental dos projetos nacional-
desenvolvimentistas. Este perodo gerou reformas
constitucionais e administrativas, intensa disputa po-
ltico-partidria entre dezenas de partidos, polticas
sindicais atreladas aos governos e o surgimento dos
movimentos de base em mbito dos bairros e do tra-
balho da Igreja.
O Estado em crise, o desperdcio e a burocratizao
do sistema partidrio no conseguiam dar resposta
s demandas da sociedade. Isto somado ao agravamen-
to dos conflitos sociais e crescente conscientizao
de vrios segmentos sociais propiciaram o surgimen-
to de novas alternativas de participao. Neste mo-
mento nasceram novos atores sociais e polticos, lu-
tando no s pelos seus interesses, mas pela constru-
o e efetivao de direitos e de uma cultura poltica
de respeito s liberdades, eqidade social e trans-
parncia das aes do Estado (Westphal. 1992).
No inicio dos anos de 1980, o Brasil viveu a difcil
transio de um perodo autoritrio. O Estado reco-
nhece, sob presso da sociedade civil, a necessidade
de um processo de abertura poltica. Acadmicos, ci-
entistas e tecnocratas progressistas debatiam em se-
minrios e congressos as endemias e a degradao da
qualidade de vida da populao. Esta discusso tomou
fora com movimentos populares como associao de
moradores, de mulheres, sindicatos, igrejas e parti-
dos polticos, que exigiam solues para os problemas
de sade criados por este regime (Luz, 1991).
Na dcada de 1990, a participao foi ampliada e
institucionalizada, no sentido explicitado por Valla
(1993) e Boschi (1987), em diversos setores no mbito
das democracias representativas.
Ainda nos anos 90, o mundo intensificou o proces-
so de globalizao, assumindo gradativamente carac-
tersticas agrupadas em dois grandes conjuntos: a
difuso social da produo, caracterizada pela des-
centralizao da produo atravs da transnacionali-
zao da produo (fbrica difusa), e a fragmentao
geogrfica e social do processo de trabalho, que re-
sultaram numa certa desindustrializao dos pases
centrais e industrializao ou re-industrializao dos
pases perifricos, obrigando a uma reestruturao
das empresas e, conseqentemente, a um novo mode-
lo de organizao social do trabalho que caracterizou
o segundo grupo o isolamento poltico das classes
trabalhadoras na produo, marcada pelo trabalho
temporrio, subcontratao, feminilizao da fora de
Sade e Sociedade v.14, n.1, p.68-77, jan-abr 2005 71
trabalho, entre outros. Estes fatores produziram frag-
mentao e heterogeneizao dos segmentos inseri-
dos no processo produtivo, alm de terem facilitado a
emergncia de novos sujeitos sociais e novas prti-
cas de mobilizao intermediadas pelas organizaes
no- governamentais as ONGs.
As modificaes introduzidas pela descentraliza-
o e municipalizao das polticas sociais nas reas
de sade, educao e assistncia social, principalmen-
te nos ltimos anos, tm provocado novos desafios nas
gestes locais (Mendes, 2002).
No setor sade, a Participao da Comunidade
no concernente ao Estado passa a ser um dos princ-
pios orientadores do Sistema nico de Sade SUS,
constituindo para sua concretizao novos canais cri-
ados pela Constituio conselhos e conferncias. As
Conferncias Nacionais subseqentes VIII Confern-
cia, marco da participao da sociedade civil, trouxe-
ram tona questes relacionadas participao e
suas dificuldades no controle social.
A proposta de uma nova estratgia, Promoo da
Sade, resgata a concepo de sade como produo
social e busca desenvolver polticas pblicas e aes
de mbito coletivo que extrapolem inclusive o enfoque
do risco e sejam capazes de atuar sobre os determi-
nantes da doena de uma forma mais abrangente.
Suas estratgias objetivam incidir sobre as condies
de vida da populao, supondo aes intersetoriais
que envolvam educao, saneamento bsico, habita-
o, renda, trabalho, alimentao, meio ambiente, la-
zer, acesso a bens e a servios essenciais. Fundamen-
ta-se em um conceito integral de sade, com base nos
determinantes sociais, privilegiando a participao
social como estratgia prioritria no processo de to-
mada de deciso (Sicoli, 2003).
Reforadas pelas diretrizes da Promoo da Sa-
de, que entendem a participao social como um dos
pilares para a sustentabilidade e a eficincia de qual-
quer programa governamental, outras propostas tm
sido desenvolvidas, como a dos Municpios/Cidades
saudveis. Na Amrica Latina e particularmente no
Brasil, por influncia da Organizao Pan-America-
na de Sade OPAS e com apoio de universidades e
outras instituies nacionais, constitui uma das alter-
nativas para gesto participativa.
Para a Organizao Mundial de Sade OMS, cida-
de saudvel aquela em que as autoridades polticas
e civis, as instituies pblicas e privadas, os empres-
rios, os trabalhadores e a sociedade dedicam esforos
constantes para melhorar as condies de vida, tra-
balho e cultura da populao, estabelecem uma rela-
o harmoniosa com o meio ambiente, alm de expan-
direm os recursos comunitrios para melhorar a con-
vivncia, desenvolver a solidariedade, a co-gesto e a
democracia (Ferraz 1993, citado por Pelicioni 2000).
Neste cenrio, este estudo se prope a descrever e
analisar a estrutura e funcionamento dos Conselhos
Setoriais Municipais de Bertioga, por serem formas
institucionalizadas de articulao popular e por re-
presentarem a possibilidade de unir as iniciativas que
apiam a estratgia de Municpios/Cidades Saud-
veis. Pressupe-se que a participao da sociedade
civil seja organizada em conselhos capazes de permi-
tir, por meio do exerccio do controle social sobre as
polticas governamentais, a formulao e a proposi-
o de diretrizes e estratgias, alm do estabelecimen-
to de formas e prioridades de atuao voltadas para o
atendimento das necessidades e interesses dos diver-
sos segmentos sociais, avaliando aes e o direciona-
mento dos recursos financeiros existentes.
Os Conselhos Setoriais Municipais
No Brasil, nas ltimas dcadas, destacaram-se algu-
mas experincias colegiadas conselheiristas, como
os Conselhos Comunitrios, criados para atuar junto
administrao municipal ao final dos anos 70; os
Conselhos Populares, tambm nos anos 70 e parte dos
anos 80, e os Conselhos Gestores institucionalizados,
principais objetos de anlise deste trabalho (Gohn,
1990).
Os Conselhos Gestores Municipais so diferentes
dos Conselhos Comunitrios, Populares ou dos fruns
civis no-governamentais porque estes so compos-
tos exclusivamente de representantes da sociedade
civil, cujo poder reside na fora da mobilizao e da
presso e no possuem assento institucional no Poder
Pblico. Os Conselhos Gestores Municipais so dife-
rentes, tambm, daqueles existentes nas esferas pbli-
cas do passado, compostos exclusivamente por espe-
cialistas, com o objetivo de assessoria administra-
o pblica. A nova verso se apresenta como um canal
paritrio de expresso, representao e participao,
constitudo por gestores e representantes da socieda-
de civil. Em tese, so dotados de potencial de trans-
72 Sade e Sociedade v.14, n.1, p.68-77, jan-abr 2005
formao poltica e, se efetivamente representativos,
podero imprimir um novo formato s polticas soci-
ais, pois se relacionam com o processo de formao
das polticas e de tomada de decises (Gohn, 2001).
Os primeiros Conselhos Setoriais Municipais cri-
ados foram na rea da sade a partir de 1991, eviden-
ciando a tendncia de vnculo com a Lei Orgnica da
Sade 8.142/90 e a Norma Operacional Bsica NOB
91/93/96, que iniciaram a normatizao e operaciona-
lizao do SUS e da participao como princpio bsi-
co. Entretanto, a Norma Operacional de Assistncia
Social - NOAS/2000 foi fundamental para a consoli-
dao desta participao. A Lei Orgnica de Assistn-
cia Social - LOAS 8.742/93 normatizou a participao
em termos de assistncia social ao tornar obrigat-
ria a criao dos Conselhos de Assistncia Social. Ou-
tras leis complementaram estas medidas: a Lei 8.069/
90 Estatuto da Criana e Adolescente - ECA, que criou
o Conselho Municipal da Criana e Adolescente -
CMDCA; e a Lei 9.394/96 Lei de Diretrizes e Bases
LDB, que criou os Conselhos da Educao, entre ou-
tros (Moreira, 2002).
A partir de 1996, a legislao brasileira vinculou
o recebimento de recursos destinados s reas sociais
dos municpios criao dos seus Conselhos, expli-
cando porque a maioria surgiu aps esta data (Gohn,
2002).
Este artigo apresenta parte de um estudo de caso
realizado em Bertioga que teve como objetivo descre-
ver as percepes dos conselheiros das reas sociais,
institudos por leis municipais. A pesquisa buscou
identificar a composio, organizao e a atuao dos
conselhos deste municpio, a participao da socieda-
de civil e seu grau de envolvimento com os mesmos.
Bertioga um municpio do litoral norte de So
Paulo, com 30.619 habitantes, podendo chegar a
350.000 nos perodos de temporada de vero. A cida-
de chama ateno pelo patrimnio ambiental, com
uma rea de 482 km
2
, sendo 80% dele, territrio de
preservao ambiental regional e nacional (IBGE,
2000). O Projeto Bertioga Municpio Saudvel tem
procurado redirecionar as estratgias locais de desen-
volvimento com a participao da populao tendo em
vista a eqidade e a melhoria da qualidade de vida da
populao local.
Metodologia
O reconhecimento da importncia para este estudo de
dados objetivos sobre a legislao que legitima a exis-
tncia de conselhos, e a mediao por eles representa-
da entre estas e a realidade para a qual deve apresen-
tar solues, orientou o estudo para a metodologia de
estudo de caso, que permite analisar e relacionar,
seqencialmente, dois aspectos de uma mesma reali-
dade (Ludke, 1986)
Foram utilizados dois instrumentos de observa-
o: a anlise documental da legislao municipal que
normatiza e orienta a ao dos conselhos de Bertioga/
SP, e entrevista a vinte e oito conselheiros dos sete
conselhos das reas sociais com roteiros semi-estru-
turados. A amostra foi proporcional e intencional, sen-
do escolhidos quatro representantes de cada conse-
lho, de forma paritria (governo e a sociedade civil),
atendendo aos pressupostos conceituais da pesquisa.
Os dados obtidos pela anlise documental servi-
ram como referencial para a anlise qualitativa e te-
mtica das respostas das entrevistas. A percepo dos
conselheiros sobre sua atividade foi analisada atra-
vs do contedo do discurso por temas e frases repre-
sentativas apresentadas a seguir, sempre comparati-
vamente e com base no referencial legal e na partici-
pao, conforme conceitos citados.
Resultados e Discusso
Tomando-se por base as entrevistas dos conselheiros
realizadas num mbito mais amplo, neste artigo fo-
ram priorizados os seguintes temas: identificao e
papel dos conselhos, papel dos conselheiros, forma de
ingresso nos conselhos, funo dos representantes da
sociedade civil, relao estabelecida com o grupo que
representa e dificuldades para participar no conselho.
Quanto identificao, foram estudados os Con-
selhos Municipal de Habitao - CMH, Conselho Muni-
cipal de Meio Ambiente - CONDEMA, Conselho Muni-
cipal de Assistncia Social - CMAS, Conselho Munici-
pal do Idoso - CMI, Conselho Municipal da Criana e
do Adolescente CMDCA, Conselho Municipal da Edu-
cao CME e Conselho Municipal de Sade - CMS.
Papel dos conselhos: embora as funes estejam
explicitadas em lei e confirmadas nos Regimentos, na
Sade e Sociedade v.14, n.1, p.68-77, jan-abr 2005 73
prtica, percebe-se que os papis consultivo, delibe-
rativo e fiscalizador se confundem no entendimento
de seus conselheiros. Porm, a nica funo cumpri-
da, segundo os entrevistados, a fiscalizadora, com
exceo dos CMH e CONDEMA, que possuem poder
para deliberar ou interditar obras, atuando como r-
go controlador na sua pasta.
A maioria dos entrevistados entende ser funo do
conselho fiscalizar, e no se sentem comprometidos
com as solues, atribuindo esta responsabilidade ao
governo local. Isto se explica, talvez, pelo fato dos mo-
vimentos sociais terem comeado com carter rei-
vindicador, fiscalizador e pouco propositivo e, embo-
ra esse direcionamento tenha mudado nas ltimas
dcadas, na prtica, foram encontradas respostas
como: fiscalizao das verbas, o cumprimento das
propostas, andamentos das aes, atuao da pas-
ta correspondente quele conselho e da administra-
o pblica.
Estas funes compem o papel do conselho con-
comitantemente, e no de forma isolada. Na literatu-
ra h autores, como Borja (2000) citado por Gohn
(2002 p. 13), que entendem de duas maneiras o papel
dos conselhos: o de articulao da sociedade civil na
discusso de estratgias de gesto pblica, de uma
forma geral, e, em particular, na formulao de polti-
cas pblicas.
Papel dos conselheiros: As respostas exemplifi-
cam o distanciamento da maioria dos conselheiros
entrevistados da sua funo entendida como exerccio
de cidadania. As distores encontradas esto entre
aqueles que disseram exercer a funo de presidente.
As seguintes falas exemplificam as respostas dadas
neste sentido: minha funo ser presidente, no
interfiro nas discusses, sou apenas um mediador;
substituo o presidente nas suas ausncias.
H, ainda, aqueles que acreditam ser sua funo
apenas representar a Prefeitura. A maioria dos que
pensam assim so conselheiros por determinao do
chefe daquela pasta. Segundo eles, no estariam nes-
te cargo se tivessem outra opo, e quando pergunta-
dos sobre seu papel, responderam: Fao relatrios
das reunies prefeitura; informo sobre a funo
ou assuntos da pasta para os conselheiros, esclareo
o funcionamento ou forneo dados daquela pasta (se-
cretaria) de interesse do conselho; no dou opinio,
sou neutra, apenas represento a prefeitura.
Outro tipo de distoro foi expressa por aqueles
que disseram no ter funo, assim expressando o
significado da sua participao: Eu atrapalho o con-
selho porque no tenho tempo, j pedi para sair, mas
eles no tm ningum para me substituir; o conse-
lho no tem objetivo definido e sendo assim no tem
como a gente contribuir.
H, porm, aqueles que corporificam seu papel
como contribuio para o cumprimento da funo no
conselho. Os representantes desta categoria disseram:
participo porque quero contribuir para o desenvolvi-
mento sustentvel da cidade; contribuo esclarecen-
do as dvidas dos conselheiros sobre o funcionamen-
to da secretaria que represento. Alguns entrevistados
mostram uma percepo prxima do seu papel ao afir-
mar ser sua funo lutar pelos interesses da classe
que representam. Aqueles que entendem o papel dos
conselhos nesta perspectiva mais coletiva, como so-
cial, so minoria.
Para Calderon (2000), cabe aos conselhos partici-
par da formulao de polticas pblicas, da definio
dos objetivos e prioridades do governo municipal, da
estruturao de meios para atingi-los, do controle e
avaliao do processo. Pelo que foi demonstrado at
agora e mesmo pelo que tem sido comprovado por pes-
quisas, os conselheiros no conhecem suas funes
definidas pela legislao e por isso as competncias
estabelecidas nos regimentos no tm se efetivado na
prtica.
Forma de ingresso nos conselhos: os requisitos e
critrios de escolha dos conselheiros variam de acordo
com a lei especfica que define o campo de atuao
dos conselhos e as peculiaridades locais e regionais
(Moreira, 2002).
Nesta questo pode ser observado que a maioria
dos entrevistados ingressou no conselho por indica-
o das suas entidades de classe, no considerando a
necessidade de eleio ou interesse pessoal em parti-
cipar. Estes dados chamam a ateno para o risco de
uma manipulao do governo local na indicao dos
representantes nos conselhos de Bertioga. A eleio
dos conselheiros ao invs de seguir um processo mais
democrtico e transparente, acaba se transformando
num instrumento de negociao poltica.
Dificuldades para participar no conselho: as prin-
cipais dificuldades apresentadas pelos conselheiros
foram de natureza poltica. A primeira delas se refere
74 Sade e Sociedade v.14, n.1, p.68-77, jan-abr 2005
ao acesso ao poder pblico, definida pelos entrevista-
dos como: falta de disponibilidade para ser atendido
pelos representantes do governo; morosidade nos des-
pachos das solicitaes; falta de interesse por parte
do governo; interferncia poltica negativa. A segun-
da se refere indicao de conselheiros, funcionrios
pblicos, como representantes da sociedade civil, pelo
poder pblico, expressos como: represlia por ser fun-
cionrio da Prefeitura; vinculo com a prefeitura
Porm, mesmo com estas restries, a participa-
o se efetiva e isto pode ser observado na fala daque-
les que participam porque acreditam estar defenden-
do uma causa, segundo eles: o assunto diz respeito a
minha rea de atuao ou formao acadmica; por-
que tenho vontade de participar; porque acho impor-
tante estar a par da legislao vigente sobre a rea
que trabalho; inicialmente, me colocaram aqui, mas
agora eu acredito na causa.
Outro tipo de dificuldade reiterada por eles foram
problemas de ordem pessoal como: Falta de tempo;
e questes de baixa auto-estima e capacidade de par-
ticipar em grupos de trabalho, expressas como: difi-
culdade em ser ouvida dentro do Conselho; h dis-
criminao da elite com os demais. Uma outra difi-
culdade para funcionamento dos conselhos apresen-
tada pelos entrevistados est atrelada falta de
compromisso da populao. Para eles, a populao
desconhece o papel do Conselho; no tem interesse
em participar; descompromisso como cidado, en-
tende que s o governo tem deveres; briga apenas
por interesse pessoal; administro conflitos entre
diferentes interesses.
Outra barreira se relaciona com a infra-estrutu-
ra, organizao e outros recursos para funcionamen-
to dos conselhos. Assim se expressaram os entrevis-
tados: Falta de infra-estrutura local das reunies,
material de escritrio, forma de divulgao; defici-
ncia na comunicao interna e externa; forma de
convocao inadequada; falta de estmulo porque as
reunies no tm objetividade.
As respostas dos entrevistados que alegaram no
terem nenhum tipo de dificuldade foram as seguin-
tes: No sinto cobrana por parte da prefeitura; no
somos pressionados a fazer nada; cumprimos as
datas marcadas para reunio e a pauta.
A questo da infra-estrutura uma discusso re-
petida com freqncia nos trabalhos desta rea.
Martins (2000) reafirma a importncia da mobiliza-
o de diferentes segmentos da sociedade civil para
defender e promover os direitos da pessoa humana em
suas mltiplas dimenses. No entanto, o Estado e o
Governo podem e devem colaborar nessa tarefa, ten-
do agilidade e presteza no dilogo com todos os seg-
mentos, e disponibilizando recursos humanos e ma-
teriais para atender s demandas legtimas decorren-
tes dessa mobilizao.
Funo dos representantes da sociedade civil: a
maioria dos entrevistados entende que seu papel tra-
zer reivindicaes da populao e expressaram isto
dizendo que sua funo nos conselhos : trabalhar
em conjunto com a prefeitura para contribuir para
uma sociedade melhor e um municpio melhor; dar
melhor assistncia populao carente; buscar so-
lues para as necessidades da populao carente.
Um nmero significativo de pessoas entende que
a populao no tem representatividade, ou melhor,
no sabem o que ser representante de algum seg-
mento social, conforme entendimento da teoria pol-
tica (Benevides, 1991). Os entrevistados justificaram
a falta de compromisso, explicando ser conselheiro
somente para colaborar com o Governo na legitimao
do mesmo para o recebimento das verbas, via Conse-
lho, e assim se expressaram: apenas represento a ins-
tituio que me indicou, fao anotaes das reunies
e presto conta quando me perguntam (seja governo
ou sociedade civil); no troco nenhum tipo de infor-
mao com eles, apenas fao relatrios do que acon-
tece nas reunies para a Prefeitura; forneo infor-
maes sobre os assuntos da pasta que interessam
ao conselho.
Alguns conselheiros se manifestaram dizendo que
a populao faz parte do conselho, mas na realidade
no tem capacidade para isso, porque lhe falta conhe-
cimento tcnico para discutir os assuntos da pauta,
como sade, educao, oramento e outros.
Segundo Westphal (1992), um dos grandes proble-
mas da participao a representatividade. Muitos
representantes de organizaes ou movimentos com-
parecem ao rgo colegiado sem consultar suas ba-
ses, falando em seu nome e no em nome do grupo e
to pouco compartilham as decises tomadas nas reu-
nies com eles. Estes representantes so alvos fceis
da cooptao e tutela, o que compromete a legitimi-
dade do seu papel.
Sade e Sociedade v.14, n.1, p.68-77, jan-abr 2005 75
A maioria dos entrevistados disse no perceber
legitimidade no desempenho da funo dos represen-
tantes, alegando: fui jogada naquele conselho, no
entendo deste assunto; fui indicada para partici-
par; apenas repasso relatrios para prefeitura;
no discutimos isso na nossa entidade, ningum per-
gunta o que est acontecendo no conselho; eu repre-
sento uma classe que no existe.
Todavia, h aqueles que acreditam haver algum
tipo de representatividade. Algumas formas de cap-
tao dessas demandas foram expressas pelos entre-
vistados da forma a seguir: discutimos com a classe
os assuntos a serem levados para o conselho; atra-
vs de relatrios de tudo que acontece no conselho;
nas reunies da nossa entidade recolho as queixas.
Autores como Boschi (1987) e Jacobi (1989) cha-
mam ateno para avaliaes realizadas at o momen-
to sobre estes organismos de participao diante do
Estado. Segundo eles, importante ter conscincia do
poder e das limitaes destes movimentos, pois, em-
bora tenham conseguido impor mudanas de atitude
mesmo a administradores distantes dos interesses
populares, a abrangncia de suas aes tem se limita-
do a questes conjunturais, consideradas por muitos
estudiosos impotentes para impor modificaes gerais
s polticas sociais, no tirando seu mrito como con-
quista de espao pblico, embora necessite ser melhor
avaliado e explorado como canal de participao.
Relao estabelecida com a entidade que repre-
senta: Pela primeira vez na histria existe uma legis-
lao para garantir a participao efetiva da socieda-
de. Porm, nos conselhos setoriais de Bertioga se per-
cebe um envolvimento e comprometimento da popu-
lao nas decises de forma incipiente, porque as
reivindicaes so elaboradas de modo genrico, mos-
trando que os conselheiros no entendem claramen-
te o papel do conselho nem a sua funo nele.
Martins (2000) aponta a informao e a articula-
o entre seus membros e entidades como a principal
ferramenta para atingir o objetivo, sobretudo, daque-
les que representam o Governo, de modo que as aes
superem a fragmentao. Os conselhos, ao nascerem
setorizados para atenderem s necessidades de cada
rea ficam ainda mais frgeis, pois no constituem
um todo capaz de aes coletivas.
Consideraes Finais
Embora sejam consideradas prticas e objetivas as
idias dos autores citados, no que se refere eficcia
dos conselhos necessria uma reflexo para reestru-
turao interna e a conscientizao da sua real pro-
posta e as possibilidades de articulao.
Nos municpios sem tradio organizativa-asso-
ciativa, os conselhos tm sido apenas uma realidade
jurdico-formal e, muitas vezes, um instrumento a
mais nas mos dos prefeitos e das elites falando em
nome da comunidade, como seus representantes ofi-
ciais, no atendendo minimamente aos objetivos de
controle e fiscalizao dos negcios polticos (Gohn,
2002).
Deve-se pensar na articulao dos conselhos para
se fortalecerem mutuamente para negociao com a
esfera poltica de Bertioga. Para isso umas das prin-
cipais tarefas o investimento na formao de seus
integrantes de forma participativa e crtica. Entre os
aspectos apresentados pela pesquisa se destacaram
pontos como a necessidade de melhor compreender a
relao entre o Estado e a sociedade civil, conhecer o
papel dos conselhos e de seus conselheiros e a desbu-
rocratizao do aparelho pblico para, a partir disso,
desenvolver um trabalho interdisciplinar e interse-
torial, no qual a qualidade de vida deve ser considera-
da um critrio fundamental para a formulao das
polticas pblicas. S assim poder-se- caminhar para
a construo de uma nova realidade na transforma-
o da sociedade.
Referncias
AMMANN, S. B. Participao social. So Paulo: Cortez
e Moraes, 1978.
BENEVIDES, M. V. M. A cidadania ativa. So Paulo:
tica, 1991.
BOSCHI, R. R. A arte da associao: poltica de base e
democracia no Brasil. Trad. de M. A. S. Ramos. So
Paulo: Revistas dos Tribunais, 1987.
CALDERON, A. I. Democracia local e participao po-
pular: a lei orgnica paulista e os novos mecanis-
mos de participao popular em questo. So Pau-
lo: Cortez, 2000.
76 Sade e Sociedade v.14, n.1, p.68-77, jan-abr 2005
CAMPOS, J. Q. Sade em concordata. So Paulo: LTR,
1988.
DEMO, P. Participao conquista. So Paulo: Cortez,
1988.
GOHN, M. G. Conselhos gestores e participao popu-
lar. Servio Social e Sociedade, So Paulo, v. 9, n.
26, p.25-47, 1990.
GOHN, M. G. Conselhos gestores e participao socio-
poltica. So Paulo: Cortez, 2001.
GOHN, M. G. Papel dos conselhos gestores na gesto
pblica. Informativo Cepam, So Paulo, v. 1, n. 3, p.
7-15, mar. 2002.
JACOBI, P. Movimentos sociais e polticas pblicas.
So Paulo: Cortez, 1989.
LALONDE, M. O conceito de campo da sade: uma
perspectiva canadense. In: ORGANIZAO
PANAMERICANA DE SADE. Promoo de sade:
uma antologia. Washington, DC, 1996. (Publicao
cientfica, 557)
LDKE, M; ANDR, M. E. D. A. Pesquisa em educao:
abordagens qualitativas. So Paulo: EPU, 1986.
LUZ, M. T. Notas sobre as polticas de sade no Brasil
de transio democrtica anos 80. Revista de
Sade Coletiva, So Paulo, v. 1, n. 1, 1991.
MARTINS, M. H. B. Conselhos da cidadania. Informa-
tivo Cepam, So Paulo, v. 1, n. 1, Maio 2000.
MENDES, A. N. Gesto descentralizada das polticas
sociais e a democracia local. Informativo Cepam,
So Paulo, v. 1, n. 3, p. 17-20, mar. 2002.
MOREIRA, M. T. V. Instncia deliberativa das polti-
cas pblicas de cunho social: contorno jurdico dos
conselhos. Informativo Cepam, So Paulo, v. 1, n.
3, p.20-26, mar. 2002.
PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. The
healthy municipalities movement: a setting
approach and strategy for health promotion in
Latin American and the Caribe. (draft). Washing-
ton (DC), 1999.
PELICIONI, M. C. F. Educao em sade e educao
ambiental: estratgias de construo da escola pro-
motora da sade. So Paulo; 2000. Tese (Livre-
docncia em Sade Pblica) Faculdade de Sade
Pblica, Universidade de So Paulo.
SICCOLI, J. L.; NASCIMENTO, P. R. Promoo de sa-
de: concepo, princpios e operacionalizao.
Interface Comunicao, Sade, Educao,
Botucatu, v. 7, n. 12, p. 101-22, 2003.
TELLES, V. Sociedade civil, direitos e espaos pbli-
cos. In: VILLA-BAS, R. (Org.). Participao popu-
lar nos governos locais. So Paulo: Polis, 1994. v.14,
p. 43-53.
TOURAINE, A. Production de la societ. Paris: Seuil,
1973.
VALLA, V. V.; STOTZ, E. M. Participao popular, edu-
cao, sade teoria e prtica. Rio de Janeiro:
Relume-dumar, 1993.
WESTPHAL, M. F. Participao popular e polticas
municipais de sade: Cotia e Vargem Grande
Paulista. So Paulo, 1992. Tese (Livre docncia em
Sade Pblica) Faculdade de Sade Pblica, Uni-
versidade de So Paulo.
Recebido em: 29/06/2004
Aprovado em: 14/08/2004
Sade e Sociedade v.14, n.1, p.68-77, jan-abr 2005 77
Você também pode gostar
- Conciliação, Mediação e Arbitragem.Documento76 páginasConciliação, Mediação e Arbitragem.Eduardo Luiz AmbrozinAinda não há avaliações
- Revista Brasileira de Direito Processual - RBDpro Nº 72Documento288 páginasRevista Brasileira de Direito Processual - RBDpro Nº 72Alan Roberto GrossiAinda não há avaliações
- Laudo Liquidacao Trabalhista Com SentençaDocumento7 páginasLaudo Liquidacao Trabalhista Com SentençaJadson EricAinda não há avaliações
- Processo Cassação Claudia ReginaDocumento5 páginasProcesso Cassação Claudia ReginaCarlos FrançaAinda não há avaliações
- Carta A AdmDocumento7 páginasCarta A AdmSimao XavierAinda não há avaliações
- Estatuto Da Advocacia e Da OAB Comentado - Artigo Por Artigo (OAB)Documento98 páginasEstatuto Da Advocacia e Da OAB Comentado - Artigo Por Artigo (OAB)elmoAinda não há avaliações
- BR 102 III SERIE 2018+pdfDocumento34 páginasBR 102 III SERIE 2018+pdfEduardo NhassengoAinda não há avaliações
- Devapi FT M-94Documento4 páginasDevapi FT M-94Nunong21hotmailcomAinda não há avaliações
- Lei Complementar #179Documento4 páginasLei Complementar #179Rafael Gobbis ArantesAinda não há avaliações
- 2019-01-28 BarueriDocumento3 páginas2019-01-28 BarueriNelson GomesAinda não há avaliações
- CADERNO GABARITO COMENTADO - 2º Simulado ENAMADocumento46 páginasCADERNO GABARITO COMENTADO - 2º Simulado ENAMACarlos Arthur Coelho SenraAinda não há avaliações
- De Adm 2015 10 02 ADocumento63 páginasDe Adm 2015 10 02 AMárcio SilvaAinda não há avaliações
- Exame OAB 2009-2 Prova Prático Profissional - Direito Civil - Padrão RespostaDocumento6 páginasExame OAB 2009-2 Prova Prático Profissional - Direito Civil - Padrão RespostaJu-XAinda não há avaliações
- Teoria e Fundamentos Da Constituição Unidade IDocumento36 páginasTeoria e Fundamentos Da Constituição Unidade Iangela.soecialAinda não há avaliações
- Ação Civil Pública - Casan - Qualidade ÁguaDocumento11 páginasAção Civil Pública - Casan - Qualidade ÁguaeduardosensAinda não há avaliações
- 2018 11 05 - 023163 Edicao 1262Documento27 páginas2018 11 05 - 023163 Edicao 1262Webert FernandesAinda não há avaliações
- Iasp 2020 Camara de Mesquita RJ Auxiliar Legislativo ProvaDocumento6 páginasIasp 2020 Camara de Mesquita RJ Auxiliar Legislativo ProvaGabriel MaiaAinda não há avaliações
- 943e20969680e3290be5ae2e2cd09df8Documento52 páginas943e20969680e3290be5ae2e2cd09df8BichãoAinda não há avaliações
- A Problematica Do Sistema de Governo Na Guine BissauDocumento88 páginasA Problematica Do Sistema de Governo Na Guine BissauJosé CáAinda não há avaliações
- SC Cosit N 225-2017 - Simples Nacional MonofásicoDocumento6 páginasSC Cosit N 225-2017 - Simples Nacional MonofásicoJcss JuniorAinda não há avaliações
- Razões ReaisDocumento36 páginasRazões ReaisgrchiperAinda não há avaliações
- Processo Seletivo Declaração 2023 02-11-16!12!41 757Documento1 páginaProcesso Seletivo Declaração 2023 02-11-16!12!41 757Leandro CruzAinda não há avaliações
- Lei Do Trabalho - 23 - 2007Documento70 páginasLei Do Trabalho - 23 - 2007RaulonfacebookAinda não há avaliações
- Proc AcDocumento2 páginasProc AcLuis Fernando De SouzaAinda não há avaliações
- Paz de WestfáliaDocumento2 páginasPaz de WestfáliamaarmifsAinda não há avaliações
- Archivo de La Policia Brasileria Sobre Convergencia SocialistaDocumento65 páginasArchivo de La Policia Brasileria Sobre Convergencia SocialistaGustavo Carlos ReynosoAinda não há avaliações
- Fundo Constitucional Do Distrito Federal - OAB DF 1Documento30 páginasFundo Constitucional Do Distrito Federal - OAB DF 1Kleber KarpovAinda não há avaliações
- Edital 000357 - 000000 - 01 - 001Documento3 páginasEdital 000357 - 000000 - 01 - 001FelipeAinda não há avaliações
- Lista Da Capital 11092023Documento9 páginasLista Da Capital 11092023GeovannaAinda não há avaliações