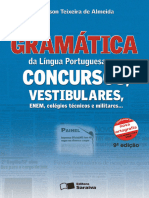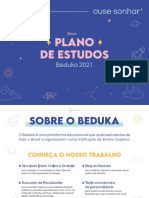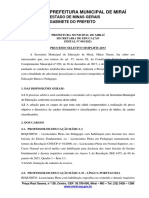Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Fascículo 01
Fascículo 01
Enviado por
Joao Siqueira SoaresTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Fascículo 01
Fascículo 01
Enviado por
Joao Siqueira SoaresDireitos autorais:
Formatos disponíveis
0
1
Linguagens, Cdigos
e suas Tecnologias
Redao, Interpretao,
Literatura e Lngua Estrangeira
Diego Pereira, Fonteles e Idlia Parente
U
n
i
v
e
r
s
i
d
a
d
e
A
b
e
r
t
a
d
o
N
o
r
d
e
s
t
e
e
E
n
s
i
n
o
D
i
s
t
n
c
i
a
s
o
m
a
r
c
a
s
r
e
g
i
s
t
r
a
d
a
s
d
a
F
u
n
d
a
o
D
e
m
c
r
i
t
o
R
o
c
h
a
.
p
r
o
i
b
i
d
a
a
d
u
p
l
i
c
a
o
o
u
r
e
p
r
o
d
u
o
d
e
s
s
e
f
a
s
c
c
u
l
o
.
C
p
i
a
n
o
a
u
t
o
r
i
z
a
d
a
c
r
i
m
e
.
E
sta
p
u
b
lica
o
n
o
p
o
d
e
se
r
co
m
e
rcia
liz
a
d
a
.
D
isp
o
n
v
e
l n
o
site
:
w
w
w
.fd
r.co
m
.b
r/
e
n
e
m
2
0
1
2
G
R
A
T
U
I
T
O
2
3 Universidade Aberta do Nordeste
Prezado(a) Leitor(a),
O Colgio Christus, empenhado em contribuir para seu sucesso no Enem 2012, disponibiliza, em parceria com a
Fundao Demcrito Rocha, doze fascculos contemplando as diversas reas do conhecimento: Linguagens, Cdigos
e suas Tecnologias; Matemtica e suas Tecnologias; Cincias da Natureza e suas Tecnologias; Cincias Humanas e suas
Tecnologias.
Assim, de fundamental importncia a leitura atenta desses fascculos, os quais iro ajud-lo bastante no importante
objetivo de ingressar em uma universidade. Neles, voc encontrar orientaes especcas sobre os contedos descritos na
matriz de referncia do Enem 2012, alm de vrios exerccios que exploram as competncias e as habilidades necessrias
para responder s questes do Enem.
H tambm um espao dedicado para desenvolver ou aprimorar as competncias e as habilidades a serem demonstradas
na redao. Com esse objetivo, alm de disponibilizar informaes especcas nessa rea, o Colgio Christus possibilita
a voc treinar a escrita por meio do projeto Christus - Redao 1000 online. Participando desse projeto, voc ter
oportunidade de submeter sua redao correo da equipe de professores do Colgio Christus. Somente o Pr-
Universitrio do Colgio Christus obteve nove alunos com a nota 1000 na redao do ltimo Enem. Compartilhe dessa
iniciativa. Para isso, acesse o site www.christus.com.br, leia o regulamento e encontre mais informaes para participar.
Convm ressaltar ainda que este trabalho, como todos que se propem a esse objetivo, no encerra totalmente as dvidas
e os questionamentos a respeito do assunto. No se trata, portanto, de algo denitivo, mas de um elenco de informaes
e orientaes fruto da experincia dos professores do Christus, as quais, aliadas ao conhecimento adquirido durante o
ano, facilitaro o alcance do objetivo.
Bom xito!
Redao
O Enem solicita uma redao estruturada na forma de
texto em prosa do tipo dissertativo-argumentativo, a
partir da proposta de um tema de ordem social, cien-
tca, cultural ou poltica. Nesse texto, sero avaliadas
as cinco competncias da Matriz do Enem, referentes
produo de um texto:
I. Demonstrar domnio da norma-padro da lngua es-
crita. O estudante deve utilizar o registro adequado
a uma situao formal de produo de texto escrito:
a norma-padro. Para isso, deve ter ateno aos as-
pectos gramaticais, como sintaxe de concordncia,
de regncia e de colocao, pontuao, exo no-
minal e verbal e crase; s convenes ortogrcas e
ao registro adequado ao texto solicitado conforme a
situao formal de produo textual exigida.
II. Compreender a proposta de redao e aplicar con-
ceitos das vrias reas de conhecimento para desen-
volver o tema, dentro dos limites estruturais do tex-
to dissertativo-argumentativo. O estudante deve ler
atenciosamente a proposta para compreender a te-
mtica e, assim, instaurar uma problemtica em que
se analisam, interpretam-se e se relacionam fatos, da-
dos, informaes, argumentos e opinies em defesa
de um ponto de vista; precisa tambm demonstrar
conhecimento da estrutura tipolgica de texto dis-
sertativo-argumentativo e estabelecer um projeto de
texto para desenvolver o tema congurando autoria.
III. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informa-
es, fatos, opinies e argumentos em defesa de um
ponto de vista. Em dada situao formal de interlo-
cuo, o estudante deve demonstrar desempenho no
tocante seleo, organizao, relao e inter-
pretao de fatos, dados, informaes, argumentos e
opinies em defesa do enfoque dado ao tema propos-
to, estabelecendo relaes lgicas e coerentes.
IV. Demonstrar conhecimento dos mecanismos lingus-
ticos necessrios para a construo da argumenta-
o. Nessa competncia, o estudante deve demons-
trar conhecimento dos mecanismos lingusticos
necessrios para a construo e a articulao dos
argumentos, dos fatos e das opinies selecionados
para a defesa de um ponto de vista, especialmente
com relao ao emprego de recursos coesivos, como
conectivos, tempos verbais, sequncia temporal, re-
4
laes anafricas, conexes entre os vocbulos, as
sentenas e os pargrafos, objetivando o estabe-
lecimento da coeso lexical (repetio, reiterao,
emprego de sinnimos, hipernimos, conexos), da
coeso gramatical e da coeso referencial.
V. Elaborar proposta de interveno para o problema
abordado, respeitando os direitos humanos. O autor
do texto precisa apresentar propostas de interveno
relacionada com o tema proposto e com o projeto de
texto desenvolvido sobre o tema, bem como a indi-
cao de possveis variveis para solucionar a proble-
mtica desenvolvida, respeitando os direitos humanos.
Deve atentar tambm para a viabilidade das propostas.
importante tambm destacar que o texto solicita-
do pelo Enem em prosa porque deve ser redigido em
pargrafos e dissertativo-argumentativo porque se
estrutura sob a seguinte forma: proposio (ou tese), ar-
gumentao e concluso e tem o objetivo de defender,
por meio de argumentos convincentes, uma ideia ou
uma opinio.
Observe o quadro abaixo e veja uma das possibilida-
des de desenvolver o texto dissertativo-argumentati-
vo para o Enem. Lembre-se: no se trata de um modelo
ou uma receita infalvel para a construo de texto, mas
sim de uma possibilidade de construo.
Introduo
Parte em que se estabelece a tese, que a ideia que se defende, uma armativa su-
cientemente denida e limitada e constitui o eixo central do texto para o qual vo con-
correr todas as outras ideias que reforam a posio apresentada.
Desenvolvimento
Parte em que se usam diversas estratgias argumentativas para envolver o leitor, para
impression-lo, para convenc-lo, para gerar credibilidade da tese que se est defenden-
do. Esses argumentos podem ser congurados como exemplos, dados estatsticos, fatos
comprovveis, evidncias, testemunhos, fatos histricos e outros.
Concluso
A concluso solicitada a de soluo ou proposta. Para chegar a essa concluso, toda a
construo argumentativa deve ter como objetivo a apresentao de possveis solues
para a questo levantada. A soluo ou as solues, porm, devem resultar de uma
relao lgica e coerente com os argumentos, as opinies, as informaes e os dados
apresentados no desenvolvimento.
Manual de Capacitao para Correo da Redao do ENEM 2011
Para produzir esse tipo de texto, voc dever desenvolver bem a habilidade de argumentar. Para isso, vamos
revisar o que argumentar. Voc j reetiu sobre esse termo?
Argumentar a habilidade de persuadir e convencer. A persuaso se estabelece no plano das emoes, quando
o interlocutor levado a fazer o que deseja o enunciador. J o convencimento se d no plano das ideias, quando o
locutor gerencia uma informao, com demonstraes e provas, para mudar a opinio do outro.
Pode-se convencer por meio de argumentos e razes, visando a levar o leitor a seguir uma linha de raciocnio
que o possibilite a concordar com os argumentos expostos. Essa linha de raciocnio pode ser bem estabelecida
quando se faz um bom projeto de texto.
O texto argumentativo, portanto, mais complexo que os outros, pois um recurso que leva em considerao a
experincia humana e est em contato com o saber. Por isso, necessrio que se tenha conhecimento do tema
sobre o qual se vai argumentar, e, para isso, importantssimo que se esteja em constante contato com a leitura.
ABREU, Antnio Surez. A arte de argumentar:
Gerenciando razo e emoo. 2 ed.-So Paulo: Ateli Editorial, 2000.
Alm de dominar a estrutura do texto dissertativo-
-argumentativo em prosa, o estudante deve ter conheci-
mentos diversicados uma vez que os temas solicitados
no Enem so de ordem social, cientca, cultural ou po-
ltica, por isso necessrio que voc esteja atento aos
acontecimentos, leia bastantes jornais, revistas e sites
que possam contribuir para a construo de seus argu-
mentos. As leituras diversas, com propsito denido,
ativam seu conhecimento prvio e, consequentemente,
contribuem para solidicar seu conhecimento de mun-
do. Relembre os temas j solicitados:
5 Universidade Aberta do Nordeste
1999 Cidadania e participao social
2000 Direito da criana e do adolescente: Como en-
frentar esse desao nacional
2001 Desenvolvimento e preservao ambiental:
como conciliar os interesses em conito
2002 O direito de votar: como fazer dessa conquista
um meio para promover as transformaes sociais que o
Brasil necessita?
2003 A violncia na sociedade brasileira: como mu-
dar as regras do jogo?
2004 Como garantir a liberdade de informao e evi-
tar abusos nos meios de comunicao?
2005 O trabalho infantil na sociedade brasileira
2006 O poder de transformao da leitura
2007 O desao de se conviver com as diferenas
2008 Meio ambiente
2009 A valorizao do idoso (prova anulada)
2009 O indivduo frente tica nacional
2010 O trabalho na construo da dignidade humana
2011 Viver em rede no sculo XXI: os limites entre o
pblico e o privado
http://educacao.uol.com.br/album/redacao_enem_album.jhtm
Leia mais!
Para redigir um bom texto dissertativo-argumentativo,
importante que voc evite
obscuridade: diz respeito ao uso de palavras ou
expresses que dicultam o sentido da mensagem
para o leitor.
ambiguidade: emprego de palavras ou expresses
cujos sentidos no estejam bem delimitados e preci-
sos. H dois tipos de ambiguidade:
A. A ambiguidade resultante do emprego inadequado
de uma palavra ou uma expresso que possibilita
duas ou mais interpretaes;
B. A ambiguidade de referncia, ou seja, quando o ter-
mo pode referir-se a mais de um elemento, mas a
situao contextual no especica.
prolixidade: consiste na utilizao exagerada e des-
necessria de palavras para exprimir uma ideia. Se
se pode expressar a ideia com quatro ou cinco pala-
vras, por que se devem usar dez ou mais?
Ateno!
Para treinar seus conhecimentos e suas habilidades
no processo de produo escrita do Enem, participe
do Christus - Redao 1000 online! Para isso, aces-
se o site www.christus.com.br e informe-se mais.
Linguagens, cdigos e suas tecnologias
Semana de Arte Moderna
Este ano, a Semana de Arte Moderna est comple-
tando 90 anos, e por ter sido um dos movimentos mais
representativos no cenrio artstico e cultural brasileiro,
foi o tema escolhido para iniciarmos o nosso estudo da
literatura brasileira e sua relao com as artes.
Ainda no se sabe ao certo quem teria dado a ideia
de realizar uma mostra de artes em So Paulo. De acor-
do com o jornal O Estado de So Paulo, de 18 de fe-
vereiro de 1922, a sugesto teria sido dada por Marinete
Prado, esposa de Paulo Prado, lho do mais importante
fazendeiro de caf do sculo XX. Contudo, j em 1920,
Oswald de Andrade prometera para 1922, ano do cente-
nrio da Independncia, uma ao dos artistas, adeptos
das novas ideias, que marcasse, de forma contundente,
os festejos do centenrio.
A Semana de Arte Moderna foi possvel graas ar-
recadao de fundos junto aos fazendeiros e aos expor-
tadores de caf. O primeiro a contribuir foi Paulo Prado.
importante mencionar um fato ocorrido em 1917, que
concorreu, de forma decisiva, para a realizao da Se-
mana de Arte Moderna. Esse fato foi a crtica feita por
Monteiro Lobato exposio de Anita Malfatti. Anita
chega ao Brasil depois de quatro anos de estudos na
Alemanha e nos Estados Unidos e faz uma exposio
de pinturas de inuncias expressionistas e cubistas no
salo de ch da loja Mappin, na rua Lbero Badar, em
So Paulo. No primeiro dia, a exposio obteve relativo
sucesso, recebendo, inclusive, reservas de quadros. No
segundo dia, porm, Monteiro Lobato, na poca crtico
de arte do jornal O Estado de So Paulo, que visitara
a exposio na vspera, publica o artigo Paranoia ou
Misticao?, em que, apesar de admitir que a artis-
ta tinha talento, denigre seu trabalho, e as reservas dos
6
quadros so canceladas. A violenta crtica feita por Lo-
bato Anita Malfatti fez que aqueles artistas e escritores
que defendiam o moderno nas artes sassem em defesa
da pintora, gerando um sentimento de grupo em torno
da defesa das ideias modernistas.
A Semana de Arte Moderna concentrou-se em trs
sesses, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Em
cada um desses dias, houve a predominncia de uma te-
mtica. Durante toda a semana, o saguo do Teatro Mu-
nicipal de So Paulo cou aberto ao pblico. Nele havia
uma exposio de artes plsticas. Na primeira noite (13-
2-1922), houve uma conferncia proferida por Graa
Aranha abrindo o evento. Essa conferncia intitulada A
emoo esttica na arte moderna mostrava o apoio
do escritor ao movimento modernista. Logo aps a con-
ferncia, houve declamao de poemas, por Guilherme
de Almeida e Ronald de Carvalho, e apresentao de
msicas de Ernani Braga e Villa-Lobos. Na segunda noite
(15-2-1922), a mais tumultuada e a mais importante das
trs, houve uma conferncia de Menotti del Picchia com
o objetivo de negar a ligao do modernismo brasileiro
com o futurismo de Marrinetti e defender a integrao
da poesia com os tempos modernos, como tambm
a criao de uma arte genuinamente brasileira com li-
berdade criadora. Na ltima noite (17-2-1922), a mais
tranquila das trs, houve um longo recital de Villa-Lobos,
Alfredo Gomes, Paulina dAmbrsio, Lima Viana, Maria
Emma, Lcia Villa-Lobos, Pedro Vieira e Anto Soares.
A imprensa, de um modo geral, desdenhou a Sema-
na de Arte Moderna; porm, O Estado de So Paulo,
maior jornal paulista da poca e um dos maiores do pas,
conservou uma sobriedade at certo ponto simptica
para com o evento. A Semana de Arte Moderna tinha os
seguintes objetivos fundamentais:
1. Reivindicar o direito permanente pesquisa esttica,
atualizao da arte brasileira e criao de uma
conscincia criadora nacional.
2. Reagir contra o academicismo de uma maneira geral.
3. Defender o uso da linguagem coloquial e da livre
expresso.
4. Valorizar a realidade nacional.
5. Exaltar as ideias modernistas.
Manifestos Ps-Semana de 22
A primeira fase do Modernismo brasileiro, conhecida
como Gerao de 22, caracterizou-se pelas tentativas de
solidicao do movimento renovador e pela divulgao
de obras e ideias modernistas. Apesar da diversidade de
correntes e ideias, pode-se dizer que, de modo geral,
os escritores de maior destaque dessa fase defendiam a
reconstruo da cultura brasileira sobre bases nacionais,
a promoo de uma reviso crtica de nosso passado his-
trico e de nossas tradies culturais. Eram, portanto,
defensores de uma viso nacionalista, porm crtica, da
realidade brasileira. Durante essa primeira fase, vrios
manifestos ganharam o cenrio intelectual nacional,
numa investigao profunda, e por vezes radical, de no-
vos contedos e de novas formas de expresso. Os re-
sultados deixados por esse perodo de pesquisas foram
a implantao denitiva do movimento modernista e a
maturidade e a autonomia da literatura brasileira. Fale-
mos um pouco sobre os manifestos ps-semana de 22.
PAU-BRASIL (1924) - Tem incio quando Oswald de An-
drade lana o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, na edi-
o de 18 de maro do Correio da Manh. Essa corrente
propunha uma arte brasileira de exportao, de raiz,
telrica e primitiva.
VERDE-AMARELO (1926) - As primeiras manifestaes
do movimento Verde-Amarelo aconteceram em 1926,
criticando a esttica Pau-Brasil, por julg-la afrancesa-
da, e pregando uma arte genuinamente nacional, de
tom ufanista, com a valorizao do elemento indgena
e sem fazer nenhuma concesso aos estrangeirismos. O
Verde-Amarelo evoluiu para o Movimento da Anta, de
franco carter direitista, com enunciaes fascistas.
ANTROPOFAGIA (1928) - Revidando com sarcasmo
o primitivismo xenfobo da Anta, Oswald de Andrade,
Tarsila do Amaral e Raul Bopp lanaram, em 1928, o
mais radical de todos os movimentos do perodo: a An-
tropofagia. O movimento foi inspirado no quadro Aba-
poru (antropfago, em tupi), que Tarsila do Amaral tinha
dado de presente a Oswald de Andrade. O movimento
prope a devorao da cultura e das tcnicas impor-
tadas e sua reformulao com autonomia, transforman-
do o produto importado em exportvel.
Questo comentada
Amaral,Tarsila do. O Mamoeiro. 1925, leo sobre tela, 65x70, IEB/USP.
7 Universidade Aberta do Nordeste
(Enem) O modernismo brasileiro teve forte inuncia das van-
guardas europeias. A partir da Semana de Arte Moderna, es-
ses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira deni-
tivamente. Tomando como referncia o quadro O Mamoeiro,
identica-se que, nas artes plsticas, a
A. imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas.
B. forma esttica ganha linhas retas e valoriza o cotidiano.
C. natureza passa a ser admirada como um espao utpico.
D. imagem privilegia uma ao moderna e industrializada.
E. forma apresenta contornos e detalhes humanos.
Soluo comentada
A opo A est errada, pois arma que a imagem passa a
valer mais que as formas vanguardistas, quando, na realidade,
o que se observa a predominncia do Cubismo na tela de
Tarsila do Amaral. Como se sabe o Cubismo foi das vanguar-
das europeias. A opo B est correta, pois em funo da
inuncia do Cubismo, percebe-se a utilizao de linhas retas
na confeco da obra, tambm se observa que a realidade
cotidiana brasileira destacada na obra. Isso uma inuncia
direta da Semana de Arte Moderna, pois um dos postulados
do modernismo brasileiro foi a valorizao da realidade na-
cional. A opo C est errada, pois arma que a nature-
za admirada como um espao utpico, e, como sabemos,
Tarsila fez parte do Manifesto Pau-Brasil que tinha uma viso
nacionalista crtica e no utpica. A opo D est errada
porque arma que a imagem privilegia uma ao moderna
e industrializada, enquanto a tela de Tarsila nos mostra uma
cena de uma cidadezinha, possivelmente do interior, sem ne-
nhuma marca de industrializao. A opo E tambm est
errada porque a imagem mostra uma cidadezinha com casas,
plantas, gua, uma ponte e algumas pessoas e no contornos
e detalhes humanos. Portanto, a resposta letra B.
Para aprender mais!
1. A exposio de Lasar Segall, em 1913, no causou
polmica. Anal, tratava-se do trabalho de um es-
trangeiro, que teria, portanto, o direito de apre-
sentar uma arte estranha ao gosto brasileiro. Mas,
com a exposio da pintora brasileira Anita Malfat-
ti, a reao foi diferente. Sua exposio, em 1917,
provocou a publicao de um artigo com severas
crticas por parte do escritor Monteiro Lobato. Em
funo das crticas desfavorveis a Anita Malfatti,
muitos artistas se uniram a ela em busca de uma
arte brasileira livre das regras impostas pelo aca-
demicismo. Eis a grande importncia histrica de
Anita Malfatti:
A. trazer de volta os valores clssicos para a arte brasi-
leira, pois as crticas feitas por Lobato promoveram
uma profunda reexo na viso da grande pintora
brasileira que se tornou o maior nome da Semana
de Arte Moderna.
B. revitalizar a arte romntica brasileira, pois observou
que o gosto brasileiro no comportava tanta inova-
o no uso da cor.
C. ao ser criticada, chamou a ateno para as inova-
es na arte e revelou que sua pintura apontava no-
vos caminhos, principalmente no uso da cor.
D. ao ser criticada por Lobato, preferiu dar sua pintu-
ra um novo vis. Torna-se a grande representante do
Surrealismo no Brasil.
E. iniciar uma inovao revolucionria na pintura mun-
dial, pois mesclou o Impressionismo ao Expressionis-
mo dando incio Semana de Arte Moderna.
2. Que importa a paisagem, a Glria, a baia, a linha
do horizonte?
O que eu vejo o beco
(Manuel Bandeira, Poema do beco.)
Manuel Bandeira compe, juntamente com Oswald e
Mrio de Andrade, a trade maior da primeira fase mo-
dernista, responsvel pela divulgao e pela solidicao
do movimento modernista em nosso pas. Entre as in-
meras contribuies deixadas pela poesia de Bandeira,
uma est exemplicada no poema posto acima e pode
ser identicada como
A. o rigor mtrico.
B. a forte musicalidade simbolista.
C. a violenta crtica social.
D. a perfeita escolha lexical.
E. o verso livre.
3.
Texto 1
Pronominais
D-me um cigarro
Diz a gramtica
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco
Da Nao Brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me d um cigarro.
ANDRADE, Oswald de. Seleo de textos. So Paulo: Nova Cultura, 1988)
8
Texto 2
Iniciar a frase com pronome tono s lcito na con-
versao familiar, despreocupada, ou na lngua escrita
quando se deseja reproduzir a fala dos personagens
(...)
(CEGALLA, Domingos Paschoal. So Paulo:
Nacional, 1980)
O uso do pronome tono no incio das frases destaca-
do por um poeta e por um gramtico nos textos postos
acima. Comparando a explicao dada pelos autores so-
bre essa regra, pode-se armar que ambos
A. condenam essa regra gramatical.
B. acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra.
C. criticam a presena de regras na gramtica.
D. armam que no h regras para o uso de pronomes.
E. relativizam essa regra gramatical.
4. A imprensa, de um modo geral, desdenhou a Se-
mana de Arte Moderna; houve at publicaes que
antecipadamente se declararam contra o evento
sem saber sequer do que se tratava. O Estado de
So Paulo, maior jornal paulista da poca e um
dos maiores do pas, manteve uma postura sbria
sobre o evento. Apesar da resistncia dos grupos
mais conservadores, aps a Semana de Arte Mo-
derna de 1922, ocorreu uma revoluo nas artes
brasileiras, revelando novas linguagens, formas e
abordagens, que chocavam pelo ineditismo e ou-
sadia. O perodo vivido pela Gerao de 22, tam-
bm chamado de fase heroica, em decorrncia da
implantao do Modernismo no Brasil em um mo-
mento ainda fortemente marcado por tendncias
conservadoras, caracterizado por intenso expe-
rimentalismo, tanto na forma como na temtica.
Nesse primeiro momento do Modernismo, desen-
volveram-se a poesia, mais intensamente, a prosa
e ainda a prosa-potica. Em todas essas formas,
observam-se inovaes como
A. o rompimento com o passado e a conservao do
academicismo literrio.
B. a incorporao e a valorizao do prosaico, do vul-
gar, do cotidiano, inclusive da linguagem coloquial,
na poesia e na prosa.
C. a prevalncia do nacionalismo ufanista e a rejeio
do nacionalismo crtico.
D. a rejeio do prosaico, do vulgar, do cotidiano e da
linguagem coloquial no texto literrio.
E. o rigor formal, personicado pelo uso do soneto e
pelas formas de composio com mtrica regular.
Leia mais!
Centenrio de nascimento de
Nelson Rodrigues
(23-8-1912/21-12-1980)
Nelson Rodrigues foi importante dramaturgo, jornalista
e escritor brasileiro, tido como o mais inuente drama-
turgo do Brasil. Nascido no Recife, Pernambuco, mudou-
-se, em 1916, para a cidade do Rio de Janeiro. Quando
maior, trabalhou no jornal A Manh, de propriedade
de seu pai. Foi reprter policial durante longos anos,
de onde acumulou uma vasta experincia para escrever
suas peas a respeito da sociedade. Sua primeira pea foi
A Mulher sem Pecado, que lhe deu os primeiros sinais
de prestgio dentro do cenrio teatral. O sucesso mesmo
veio com Vestido de Noiva, que trazia, em matria de
teatro, uma renovao nunca vista nos palcos brasileiros.
A consagrao se seguiria com vrios outros sucessos,
transformando-o no grande representante da literatura
teatral do seu tempo, apesar de suas peas serem ta-
chadas muitas vezes de obscenas e imorais. Em 1962,
comeou a escrever crnicas esportivas, deixando trans-
parecer toda a sua paixo por futebol. Veio a falecer em
1980 no Rio de Janeiro.
Funes da linguagem
importante, ao estudarmos as funes da linguagem,
que conheamos os elementos constitutivos de todo
processo lingustico, de todo ato de comunicao. Esses
elementos so:
1. Emissor, Destinador ou Remetente - aquele
que emite a mensagem; pode ser uma rma, uma
pessoa, um jornal, etc.
2. Receptor ou Interlocutor - aquele que recebe a
mensagem; pode ser uma pessoa ou um grupo de
pessoas (os leitores de um jornal, os alunos de uma
sala de aula, etc.).
3. Mensagem - o conjunto de informaes transmitidas.
4. Cdigo - o conjunto de signos e regras de com-
binao desses signos, utilizados na transmisso de
uma mensagem. A comunicao s ser efetiva se o
receptor souber decodicar a mensagem.
5. Canal de comunicao - o meio concreto pelo
qual a mensagem transmitida (voz, livro, revista,
emissora de TV, jornal, computador, etc.).
9 Universidade Aberta do Nordeste
6. Contexto ou Referente - a situao ou o assunto
a que a mensagem se refere.
Segundo Roman Jakobson, cada um dos seis fa-
tores anteriormente determinados dene uma dife-
rente funo da linguagem. Normalmente no se en-
contram mensagens verbais que se relacionem a uma
nica funo. A estrutura verbal de uma mensagem
depende basicamente da funo predominante. Veja-
mos quais so elas:
1. Funo referencial - a que se volta para a infor-
mao, para o prprio contexto. A inteno trans-
mitir ao interlocutor dados da realidade de uma for-
ma direta e objetiva, com palavras empregadas em
seu sentido denotativo.
2. Funo emotiva ou expressiva - nessa funo a
inteno do emissor posicionar-se em relao ao
tema de que est tratando, expressar seus senti-
mentos e emoes, produzindo um texto subjetivo,
escrito em primeira pessoa, que se transforma num
espelho de seu nimo, de suas emoes, de seu es-
tado, enm.
3. Funo conativa ou apelativa - ocorre essa fun-
o quando a inteno do emissor inuenciar o
receptor, pois a mensagem est centrada nele (re-
ceptor) em forma de ordem, apelo ou splica. Os
verbos no imperativo, o uso de vocativos e da se-
gunda pessoa so marcas gramaticais dessa funo.
4. Funo ftica - ocorre essa funo quando a pre-
ocupao do emissor manter contato com o re-
ceptor, prolongando uma comunicao ou ento
testando o canal de comunicao.
5. Funo metalingustica - essa funo acontece
quando a preocupao do emissor est voltada para
o prprio cdigo utilizado, ou seja, o cdigo o
tema da mensagem ou utilizado para explicar o
prprio cdigo.
6. Funo potica - essa funo est centrada na
mensagem e se caracteriza pela criatividade da lin-
guagem. Ocorre quando a linguagem considerada
em seu signicante, no seu valor rtmico, sonoro ou
visual.
Questo comentada
A propaganda pode ser denida como divulgao intencio-
nal e constante de mensagens destinadas a um determinado
auditrio visando criar uma imagem positiva ou negativa de
determinados fenmenos. A propaganda est muitas vezes
ligada ideia de manipulao de grandes massas por parte
de pequenos grupos. Alguns princpios da propaganda so: o
princpio da simplicao, da saturao, da deformao e da
parcialidade.
(Adaptado de Norberto Bobbio, et al. Dicionrio de poltica)
(Enem) Segundo o texto, muitas vezes a propaganda
A. no permite que minorias imponham ideias maioria.
B. depende diretamente da qualidade do produto que
vendido.
C. favorece o controle das massas difundindo as contradi-
es do produto.
D. est voltada especialmente para os interesses de quem
vende o produto.
E. convida o comprador reexo sobre a natureza do que
se prope vender.
Soluo comentada
O texto apresenta informaes sobre a propaganda, sabe-se
que, no texto publicitrio, predomina a funo apelativa ou
conativa da linguagem, pois como o objetivo de toda propa-
ganda inuenciar o receptor da mensagem a tomar uma
determinada deciso, todos os argumentos textuais utilizados
concorrem para esse m. Evidentemente, se o alvo o recep-
tor para tentar convenc-lo a fazer algo, o texto publicitrio
est voltado especialmente para os interesses de quem ven-
de o produto. Da a predominncia da funo apelativa, pois,
para vender o produto, necessrio convencer o comprador,
ou seja, o receptor da mensagem. Portanto, a opo correta
a letra D que arma que a propaganda est especialmente
voltada para os interesses de quem vende o produto.
Para aprender mais!
5.
Ol, como vai?
Eu vou indo, e voc, tudo bem?
Tudo bem, eu vou indo, correndo,
Pegar meu lugar no futuro, e voc?
Tudo bem, eu vou indo em busca
De um sono tranquilo, quem sabe?
Quanto tempo...
Pois ... Quanto tempo...
(Viola, Paulinho da. Sinal fechado.)
Observando o trecho da cano posta acima, que repro-
duz uma conversa entre duas pessoas que no se encon-
tram h muito tempo e no tm muito sobre o que falar,
percebe-se que nesse texto predomina a funo
A. metalingustica.
B. conativa.
10
C. potica.
D. ftica.
E. emotiva.
6.
L fora h uma treva dos diabos, um grande silncio.
Entretanto o luar entra por uma janela e o nordeste fu-
rioso espalha folhas secas no cho.
horrvel! Se aparecesse algum...Esto todos dormindo.
Se ao menos a criana chorasse...Nem sequer tenho
amizade a meu lho. Que misria!
Casimiro Lopes est dormindo. Marciano est dormindo.
Patifes!
E eu vou car aqui, s escuras, at no sei que horas,
at que, morto de fadiga, encoste a cabea mesa e
descanse uns minutos.
(Ramos, Graciliano. So Bernardo.35.
Ed.Rio de Janeiro: Record, 1980. p. 191.)
Analisando esse fragmento, retirado da obra So Ber-
nardo, de Graciliano Ramos, observa-se a presena de
interjeies, de alguns sinais de pontuao (reticncias,
ponto de exclamao ) e o emprego da primeira pessoa
do singular. Esses elementos textuais apontam para a
predominncia da funo
A. emotiva.
B. ftica.
C. referencial.
D. potica.
E. conativa.
7.
Observa-se que o texto posto acima busca persuadir o
receptor, no caso o consumidor, tentando convenc-lo
a consumir o produto anunciado. Nesse tipo de texto,
predomina a funo
A. metalingustica.
B. potica.
C. apelativa.
D. ftica.
E. emotiva.
8. benesse// s.2g. 1 ECLES emolumento a que tm
direito os curas, vigrios e outros eclesisticos; p-
-de-altura; direito de estola 2p.ext. aquilo que se
doa; presente, ddiva (a solidariedade brasileira
cumulou de b. os agelados) 3p.ext. vantagem ou
lucro que no deriva de esforo ou trabalho; sinecu-
ra 4 g. Condio favorvel; vantagem, ajuda (as b.
da mocidade) [...]
(Antnio Houaiss e Mauro de Salles Villar.
Dicionrio Houaiss da lngua portuguesa. Rio de janeiro: Objetiva, 2001)
Observa-se que o fragmento posto acima, retirado de
um dicionrio da lngua portuguesa, tem como fator es-
sencial o cdigo. O objetivo da mensagem referir-se
prpria linguagem. Portanto, esse fragmento exempli-
ca a funo
A. metalingustica.
B. apelativa.
C. potica;
D. conativa.
E. referencial.
O texto
A palavra texto proveniente do latim textum que signi-
ca tecido. H, pois, uma razo etimolgica para que ele
seja entendido como se fosse uma textura, ou seja, um
entrecruzamento de frases, como os os de um tecido. E
tal como os os de um tecido, essas frases so estanques,
independentes, embora unidas entre si, produzindo signi-
cados diferentes, de acordo com o contexto em que es-
to inseridas. Da a necessidade de se fazer um confronto
entre todas as partes que compem um texto, a m de
apreender o que est contido nas entrelinhas. Tendo em
vista que um texto no uma simples reunio de frases
isoladas, conclui-se que, para entender qualquer uma de
suas passagens, necessrio confront-la com as demais
partes que compem, pois, do contrrio, pode-se chegar
a um signicado oposto ao que realmente ele tem. Por
isso, deve-se levar sempre em conta o contexto em que
est inserida a passagem lida.
1. O contexto
a unidade lingustica maior (conhecimento ) na qual
se encaixa uma unidade lingustica menor (texto). Desse
11 Universidade Aberta do Nordeste
modo, uma frase se insere no contexto de uma orao,
que se insere no contexto de um perodo, que se inse-
re no contexto do pargrafo, que se insere no contexto
do captulo, que se insere no contexto de toda a obra.
O contexto deve vir sempre explicitado linguisticamente
ou ento deve estar implcito, o que ocorre quando os
elementos do enredo em que se produz o texto no ne-
cessitam de maiores esclarecimentos e do como pressu-
posto o contexto em que ele est encaixado.
Uma boa leitura nunca pode basear-se em trechos
isolados de um texto, porquanto o signicado das partes
sempre determinado pelo contexto dentro do qual se
situam. Assim, a leitura ideal deve apreender sempre o
pronunciamento contido nas entrelinhas do texto e per-
ceber a posio tomada pelo autor frente a uma questo
qualquer.
2. Como ler e entender o texto
Diante de um texto, deve-se proceder a dois tipos de lei-
tura: a informativa e a interpretativa. Na informativa,
h que se identicar, em primeiro lugar, a palavra-chave
de cada pargrafo e as palavras que estruturam as frases
bsicas da informao. J a leitura interpretativa exige
que se tenha a capacidade de compreenso, anlise e
sntese das informaes que se encontram nos diversos
pargrafos do texto.
2.1 Leitura informativa
Sua nalidade dar respostas especcas e, para tanto,
exige que a leitura seja seletiva e crtica.
I. Leitura seletiva - Para uma leitura seletiva, deve-se
procurar identicar, em cada pargrafo, a ideia-n-
cleo, pois em torno dela que o autor desenvolve
as ideias secundrias. A ideia-ncleo quase sempre
se encontra no primeiro perodo do pargrafo e ra-
ramente, no ltimo. A ideia ncleo (uma generali-
zao) constitui a base de tudo o que o autor relata
no pargrafo. conhecida como tpico frasal e, a
partir dela, seguem-se as demais ideias, as secund-
rias (especicaes). Quando o tpico frasal est no
primeiro perodo, diz-se que o pargrafo desen-
volvido com raciocnio dedutivo. Quando no ltimo,
diz-se que com raciocnio indutivo. Nesse tipo de
leitura, ou seja, a seletiva, tambm deve-se selecio-
nar, na continuidade do texto, os tpicos frasais de
cada um dos pargrafos. Ao fazer essa seleo, ob-
tm-se a sntese ou resumo do texto.
II. Leitura crtica - Para fazer esse tipo de leitura, ne-
cessrio que o leitor tenha uma viso que abarque
todo o assunto que est em pauta. A leitura crtica
exige o conhecimento da pertinncia dos contedos
do texto, com base no ponto de vista do autor, e no
do leitor, e a relao contida entre esse ponto de vista
e os tpicos frasais. Com isso, observa-se a subordi-
nao entre a ideia principal e as que a subsidiam.
2.2 Leitura interpretativa
Esse tipo de leitura exige, em primeiro lugar, que se te-
nha o domnio da leitura informativa e, a seguir, que o
leitor domine as seguintes capacidades:
I. Compreenso global do texto - O leitor deve en-
tender a mensagem literal contida no texto, isto , a
ideia central, o objetivo, a tese defendida, o ponto
de vista e a postura ideolgica do autor.
II. Anlise do texto - Refere-se capacidade de saber
decompor um texto em suas diferentes partes, par-
tindo do tpico frasal de cada pargrafo e verican-
do a sua relao com o contexto.
III. Sntese do texto - a reconstituio do texto j de-
composto pela anlise, eliminando-se o supruo,
com xao no essencial.
3. Erros Clssicos
I. Contradio - Um ou outro item conclui contraria-
mente ao texto. Para o leitor, parece estar correto,
mas, se vericar com mais cuidado, ver que a ar-
mao diz o contrrio do texto ou omite passagens
importantes para fugir do original. Deve-se tomar
cuidado com algumas palavras: pode, deve, no, ex-
ceto, inclusive e outras.
II. Extrapolao - Ocorre esse erro quando o exami-
nador faz a questo fora do texto, ou diz mais do
que o texto, ou generaliza o que particular. Mui-
tas vezes so fatos reais, mas no esto expressos
no texto. O leitor deve ater-se somente ao que est
relatado.
III. Reduo - Ocorre quando se particulariza o que
geral ou ento se despreza o contexto e entende-se
apenas uma parte do texto, com outro signicado
que no foi dado pelo autor.
Questo comentada
O politicamente correto tem seus exageros, como chamar
baixinho de verticalmente prejudicado, mas, no fundo,
vem de uma louvvel preocupao em no ofender os dife-
rentes. muito mais gentil chamar estrabismo de idiossin-
crasia tica do que de vesguice. O linguajar brasileiro est
cheio de expresses racistas e preconceituosas que precisam
de uma correo, e at as vrias denominaes para bbado
(pinguo, bebo, p-de-cana) poderiam ser substitudas por
12
algo como contumaz etlico, para lhe poupar os sentimen-
tos. O tratamento verbal dado aos negros o melhor exem-
plo da condescendncia que passa por tolerncia racial no
Brasil. Termos como crioulo, nego etc. so at conside-
rados carinhosos, do tipo de carinho que se d a inferiores, e,
felizmente, cada vez menos ouvidos. Negro tambm no
mais correto. Foi substitudo por afrodescendente, por in-
uncia dos afro-americans, num caso de colonialismo cul-
tural positivo. Est certo. Enquanto o racismo que no quer
dizer seu nome continua no Brasil, uma integrao real pode
comear pela linguagem.
(VERSSIMO, L, F. Peixe na cama.
Dirio de Pernambuco. 10 jun.2006 adaptado)
(Enem) Ao comparar a linguagem cotidiana utilizada no Brasil
e as exigncias do comportamento politicamente correto, o
autor tem a inteno de
A. criticar o racismo declarado do brasileiro, que convive
com a discriminao camuada em certas expresses lin-
gusticas.
B. defender o uso de termos que revelam a despreocupao
do brasileiro quanto ao preconceito racial, que inexiste no
Brasil.
C. mostrar que os problemas de intolerncia racial, no Brasil,
j esto superados, o que se evidencia na linguagem co-
tidiana.
D. questionar a condenao de certas expresses considera-
das politicamente incorretas, o que impede os falantes
de usarem a linguagem espontnea.
E. sugerir que o pas adote, alm de uma postura lingustica
politicamente correta, uma poltica de convivncia sem
preconceito racial.
Soluo comentada
Pela leitura do texto, percebe-se que a argumentao feita
pelo autor ao estabelecer uma comparao entre a linguagem
cotidiana do brasileiro e o comportamento politicamente
correto tem como objetivo sugerir que o pas no somen-
te adote uma linguagem politicamente correta com os vrios
segmentos sociais vtimas de preconceito, mas tambm adote
uma poltica de convivncia social livre de preconceito racial.
Portanto, a opo correta a letra E.
Para aprender mais!
(http://www.google.com.br. Acesso 14 jul. 2012)
9. Observando-se o contedo da tira posta acima,
principalmente o questionamento feito por Mafalda
no ltimo quadrinho, lcito inferir-se que Mafalda
A. se mostra otimista com relao ao futuro por isso
critica a postura do animal.
B. tem certeza de que o futuro ser catastrco, por
isso arma que o animal no tem futuro.
C. tem dvida com relao existncia de um futuro bom.
D. critica toda e qualquer viso ufanista sobre o futuro.
E. no consegue ter uma viso sobre o futuro porque
no entende o presente.
10.
Orfandade
Meu Deus,
me d cinco anos
me d um p de fedegoso com formiga preta,
me d um Natal e sua vspera,
o ressonar das pessoas no quartinho.
Me d a negrinha Fia pra eu brincar,
me d uma noite pra eu dormir com minha me.
Me d minha me, alegria s e medo remedivel,
me d a mo, me cura de ser grande,
meu Deus, meu pai,
meu pai.
(PRADO, Adlia. Poesia reunida.
So Paulo: Scipione, 2001)
Pela leitura do poema posta acima, percebe-se que o eu
lrico se sente completamente rfo
13 Universidade Aberta do Nordeste
A. por ter perdido os saudosos momentos de sua in-
fncia. Por isso suplica a Deus que lhe d novamen-
te a sua vida de criana e o faa esquecer que j
adulto, e que tudo de bom se foi.
B. por ter perdido sua me. Por isso lamenta a ausncia
dela e lembra os momentos tristes de solido junto
a um pai ausente e insensvel que s pensava no
trabalho.
C. por ter perdido a boa condio nanceira que teve
na infncia. Por isso no aceita a carncia material
vivida no presente e busca desesperadamente recu-
perar a antiga condio social.
D. por ter perdido sua f em Deus. Por isso tenta resgatar
essa f perdida e voltar a ser algum crente e cheio de
esperanas para poder seguir a caminhada da vida.
E. por ter perdido totalmente a crena no ser humano.
Por isso busca resgatar a vida buclica cercada de
animais que teve na infncia quando viveu na fazen-
da de um tio.
11.
A declarao de Hagar revela uma viso de mundo
A. democrtica e inovadora.
B. polarizada e restrita.
C. conciliadora e altrusta.
D. capitalista e comunista ao mesmo tempo.
E. reacionria e humanitria.
Lngua Espanhola
Para a realizao de uma boa prova de lngua estran-
geira, necessrio que o aluno tenha um bom conheci-
mento das estratgias de leitura e seja um leitor compe-
tente, pois, o Enem, nas provas de espanhol realizadas
at hoje, tem mostrado interesse basicamente pela inter-
pretao textual. Por isso, daremos nfase abordagem
da leitura e da interpretao em lngua estrangeira, no
caso, lngua espanhola.
bom lembrar que ler no apenas decodicar,
mas, para ler, preciso saber decodicar, ou seja, ter um
conhecimento, ainda que mnimo, do lxico da lngua na
qual se est lendo. De acordo com Palinscar e Brown, a
compreenso do que se l produto de trs condies.
1. Da clareza e coerncia do contedo dos tex-
tos, da familiaridade ou conhecimento da sua
estrutura e do nvel aceitvel do seu lxico, sin-
taxe e coeso interna.
2. Do grau em que o conhecimento prvio do
leitor seja relevante para o contedo do texto.
Em outras palavras, da possibilidade de o lei-
tor possuir os conhecimentos necessrios que
lhe vo permitir a atribuio de signicado aos
contedos do texto.
3. Das estratgias que o leitor utiliza para in-
tensicar a compreenso e a lembrana do
que l, assim como para detectar e compen-
sar os possveis erros ou falhas de compreen-
so. Estas estratgias so as responsveis pela
construo de uma interpretao para o texto
e, pelo fato de o leitor ser consciente do que
no entende, para poder resolver o problema
com o qual se depara.
De tal sorte, importante que o leitor conhea e
aplique as estratgias de leitura durante a realizao
da prova de espanhol do Enem, como tambm de ou-
tras provas que avaliem a leitura e a interpretao em
lngua espanhola. Portanto, vamos apresentar as cinco
estratgias de leitura, que, de acordo com Isabel Sol,
devem ser utilizadas na leitura e na interpretao em
lngua espanhola levando em conta as peculiaridades
desse idioma.
1. Compreender os propsitos implcitos e expl-
citos da leitura. Equivaleria a responder s per-
guntas: O que tenho que ler? Por que tenho que ler
este texto?
2. Ativar e aportar leitura os conhecimentos pr-
vios relevantes para o contedo em questo. O
que sei sobre o contedo do texto? O que sei sobre
contedos ans que possam ser teis para mim? Que
outras coisas sei que possam me ajudar: sobre o au-
tor, o gnero, o tipo de texto...? Vale lembrar que o
conhecimento prvio do leitor deve ser utilizado para
ajudar na compreenso da leitura do texto e na per-
cepo da melhor soluo para a situao-problema
apresentada pela questo, mas nunca para responder
questo em si, pois isso poder levar o aluno a co-
meter o erro da extrapolao textual.
14
3. Dirigir a ateno ao fundamental, em detri-
mento do que pode parecer mais trivial. Qual
a informao essencial proporcionada pelo texto e
necessria para conseguir o meu objetivo de leitura?
Que informaes posso considerar sem relevncia,
por sua redundncia, por seu detalhe, por no se-
rem pertinentes aos propsitos que persigo?
4. Comprovar continuamente se a compreenso
ocorre mediante a reviso, a recapitulao pe-
ridica e o questionamento. O que se pretende
explicar neste pargrafo? Qual a ideia fundamental
que extraio daqui? Posso reconstruir o o dos argu-
mentos expostos? Posso reconstruir as ideias conti-
das nos principais pontos? Tenho uma compreenso
adequada dos mesmos?
5. Elaborar e provar inferncias de diversos ti-
pos, como interpretaes, hipteses, previses
e concluses.
Questo comentada
El Tango
Ya sea como danza, msica, poesa o cabal expresin de una
losofa de vida, el tango posee una larga y valiosa trayectoria,
jalonada de encuentros y desencuentros, amores y odios, naci-
da desde lo ms hondo de la historia argentina.
El nuevo ambiente es el cabaret, su nuevo cultor la clase madia
portea, que ameniza sus momentos de diversin con nuevas
composiciones, sustituyendo el carcter malevo del tango pri-
mitivo por una nueva poesa ms acorde con las concepciones
estticas provenientes de Londres y Pars.
Ya en la dcada del 20 el tango se anima incluso a traspasar
las fronteras del pas, recalando en lujosos salones parisinos
donde es aclamado por pblicos selectos que adhieren en-
tusiastas a la sensualidad del nuevo baile. Ya no es privativo
de los bajos fondos porteos; ahora se escucha y se baila en
salones elegantes, clubs y casas particulares.
El tango revive con juveniles fuerzas en ajironadas versiones de
grupos rockeros, presentaciones en elegantes reductos de San
Telmo, Barracas y La Boca y pelculas forneas que lo divulgan
por el mundo entero.
(disponvel em: http://www.elpolvorin.over-blog.es.
Acesso em: 22 jun. 2011. Adaptado)
(Enem) Sabendo-se que a produo cultural de um pas pode
inuenciar, retratar ou, inclusive, ser reexo de acontecimen-
tos de sua histria, o tango, dentro do contexto histrico ar-
gentino, reconhecido por
A. manter-se inalterado ao longo de sua histria no pas.
B. inuenciar os subrbios, sem chegar a outras regies.
C. sobreviver e se difundir, ultrapassando as fronteiras do pas.
D. manifestar seu valor primitivo nas diferentes camadas sociais.
E. ignorar a inuncia de pases europeus, como Inglaterra
e Frana.
Soluo comentada
A opo A est errada porque informa que o tango, ao
longo de sua histria, permaneceu sem alteraes, enquan-
to o texto nos diz que o tango, ao longo do tempo, foi se
adaptando a novas situaes e realidades sociais. A opo B
tambm est errada, pois arma que o tango no chegou a
outros lugares alm do subrbio. Porm, observa-se que o tex-
to arma que o tango conquistou outros espaos, inclusive,
no exterior. A opo C est correta, pois arma que o tango
sobreviveu e se difundiu chegando, inclusive, ao exterior po-
demos comprovar essa informao no terceiro pargrafo do
texto. A opo D est errada porque diz que o tango ma-
nifestou seu valor primitivo em diferentes camadas. Porm, o
texto, no segundo pargrafo, diz: ...sustituyendo el carcter
malevo del tango primitivo por una nueva poesa ms acorde
con las concepciones estticas provenientes de Londres y Pa-
rs. A opo E tambm est errada, pois arma que o tan-
go ignorou a inuncia de pases europeus. Essa informao
est em desacordo com o contedo do segundo pargrafo.
Portanto, a opo correta a C.
Para aprender mais!
12.
Hablando sobre el ltimo partido del Boca el arquero
Crceres dijo a un periodista tras el juego que no com-
prendi lo que pas hoy en la cancha en la nal del tor-
neo clasura. En su opinin el equipo no ha jugado bien,
pero ha perdido.
(El Clarn, cuaderno de deportes.)
Aps a leitura do fragmento posto acima, possvel
observar que
A. o goleiro Crceres mostra grande conhecimento so-
bre o futebol e soube expressar seu ponto de vista
com muita coerncia.
B. a postura do atleta revela uma total falta de viso
crtica, pois, apesar de fornecer explicaes lgicas
para a derrota do time, no a aceita.
C. a declarao de Crceres incoerente, pois no h
relao de adversidade entre o fato de o time no
ter jogado bem e ter perdido; pelo contrrio, seria
possvel estabelecer uma relao de adio ou de
concluso.
D. o jogador revelou que tem conhecimento de fatos
internos do clube que levaram a uma derrota ines-
perada e inexplicvel.
15 Universidade Aberta do Nordeste
E. h uma tentativa do reprter em conduzir a resposta
do jogador, pois, sendo ele o reprter ligado ao clube
adversrio, deseja gerar uma crise interna no Boca.
13.
Pelo contedo da charge, percebe-se que a mulher
A. tem saudade da poca em que o homem tinha bons
modos na presena dela.
B. no se sente vontade na presena do marido.
C. gostaria de ser estranha como o marido.
D. pensa que ela e o marido so pessoas de no tra-
to social.
E. continua perdidamente apaixonada pelo marido.
14.
De acordo com a tira, pode-se armar que
A. h uma referncia acidez corporal que vem com
a idade.
B. h uma crtica ao comportamento excessivamente
calmo dos adultos.
C. h uma comparao entre a infncia e a fase adulta
no que diz respeito postura diante da vida.
D. a personagem se mostra triste diante da calma de
alguns adultos.
E. a fase adulta vista como sendo melhor que a ju-
ventude.
15.
La cumbia es una danza y ritmo con contenidos de
tres vertientes culturales distintas: indgena, negra y
blanca(espaola), siendo fruto del largo e intenso mes-
tizaje entre estas culturas durante la conquista y colonia
de tierras americanas. La presencia de estos elementos
culturales se puede apreciar as:
- En la instrumentacin estn los tambores de claro ori-
gen africano, las maracas, el guache y los pitos (millo
y gaitas) de origen indgena, mientras que los cantos y
coplas son aporte de la potica espaola, aunque
- Las vestiduras tienen claros rasgos espaoles: adapta-
das desde luego.
16
- Presencia de movimientos sensuales, marcadamente
galantes, seductores, caractersticas de los bailes de ori-
gen africano.
largas polleras, encajes, lentejuelas, candongas, etc. Y
los mismos tocados de ores y el maquillaje intenso en
las mujeres; camisa y pantaln blancos, un paoln rojo
anudado al cuello y sombrero en los hombres.
(El Pas, Espaa)
A cultura e as tradies de um povo podem ser obser-
vadas, muitas vezes, por meio de sua msica e de suas
danas. Um dos ritmos mais populares da Colmbia
a cumbia. Sobre essa manifestao folclrica e popular,
pode-se armar que
A. a inuncia espanhola na formao da cumbia se
evidencia nos instrumentos musicais.
B. a presena de movimentos sensuais, marcadamen-
te, galantes e sedutores, mostra a inuncia africa-
na nessa dana colombiana.
C. a vestimenta usada na cumbia evidencia a inuncia
indgena nessa dana.
D. na formao da cumbia observamos apenas a inu-
ncia das culturas espanhola e africana.
E. a cumbia uma dana essencialmente americana,
pois no mostra nenhuma inuncia europeia.
A coeso textual
A funo da coeso a de promover a continuidade do
texto, a sequncia interligada de suas partes, para que
no se perca o o de unidade que garante a sua inter-
pretabilidade.
O que se diz precisa ter sentido. Para que tenha sen-
tido o que a gente diz, as palavras devem estar interli-
gadas; os perodos, os pargrafos devem estar encadea-
dos. A compreenso que se consegue ter do que o outro
diz resulta dessa relao mltipla que se estabelece em
cada segmento, em todos os seus nveis.
importante, pois, ressaltar que a continuidade que
se instaura pela coeso , fundamentalmente, uma conti-
nuidade de sentido, uma continuidade semntica, que se
expressa, no geral, pelas relaes de reiterao, associa-
o e conexo. Falemos um pouco sobre essas relaes.
1. Reiterao A reiterao se estabelece por meio
dos seguintes processos: repetio (parfrase, pa-
ralelismo e repetio propriamente dita) e substi-
tuio (substituio gramatical, substituio lexi-
cal e elipse)
2. Associao A associao se d pelo processo da
seleo lexical (seleo de palavras semanticamente
prximas).
3. Conexo A conexo se d pelo estabelecimento de
relaes sinttico-semnticas entre termos, oraes e pa-
rgrafos. Essas relaes se estabelecem por meio de pre-
posies, conjunes, advrbios e respectivas locues.
Questo comentada
Es posible reducir la basura
En Mxico se producen ms de 10 millones de metros cbicos
de basura mensualmente, depositados en ms de 50 mil tira-
deros de basura legales y clandestinos, que afectan de manera
directa nuestra calidade de vida, pues nuestros recursos na-
turales son utilizados desproporcionalmente, como materias
primas que luego desechamos y tiramos convirtindolos en
materiales intiles y focos de infeccin.
Todo aquello que compramos y consumimos tiene una relaci-
n directa con lo que tiramos. Consumiendo racionalmente,
evitando el derroche y usando slo lo indispensable, directa-
mente colaboramos con el cuidado del ambiente.
Si la basura se compone de varios desperdicios y si como desper-
dicios no fueron basura, si los separamos adecuadamente, podre-
mos controlarlos y evitar posteriores problemas. Reciclar se traduce
en importantes ahorros de energa, ahorro de agua potable, ahor-
ro de materias primas, menor impacto en los ecosistemas y sus
recursos naturales y ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo.
Es necesario saber para empezar a actuar...
(Disponvel em: http://www.tododecarton.com.
Acesso em: 27 abr. 2010. Adaptado.)
(Enem) A partir do que se arma no ltimo pargrafo:
Es necesario saber para empezar a actuar..., pode-se
constatar que o texto foi escrito com a inteno de
A. informar o leitor a respeito da importncia da reci-
clagem para a conservao do meio ambiente.
B. indicar os cuidados que se deve ter para no consu-
mir alimentos que podem ser focos de infeco.
C. denunciar o quanto o consumismo nocivo, pois
o gerador dos dejetos produzidos no Mxico.
D. ensinar como economizar tempo, dinheiro e esforo
a partir dos 50 mil depsitos de lixo legalizados.
E. alertar a populao mexicana para os perigos causa-
dos pelos consumidores de matria-prima reciclvel.
Soluo comentada
O comando da questo localiza a situao-problema no lti-
mo pargrafo do texto. Esse fato facilita a resoluo da ques-
17 Universidade Aberta do Nordeste
to por parte do aluno, pois direciona a ateno do leitor
apenas para um determinado ponto do texto, porm no se
deve esquecer que todo texto um conjunto. Isso signica
que, mesmo direcionando a ateno para o ltimo pargrafo
na resoluo da situao-problema, no se pode desprezar as
outras informaes presentes no texto. A citao colocada no
comando da questo Es necesario saber para empezar a ac-
tuar... evidencia que a inteno do autor do texto informar
o leitor a respeito da importncia da reciclagem para a conser-
vao do meio ambiente.
Para aprender mais!
16.
A charge, posta acima, remete o leitor a um problema
que sempre aigiu o ser humano. Esse problema, nos
dias atuais, tem se mostrado uma constante na vida de
muitas pessoas que moram nas grandes cidades e tm
uma vida muito agitada. Estamos falando de um proble-
ma relacionado
A. sade fsica do homem.
B. situao nanceira do homem.
C. a um estado de esprito do ser humano.
D. a uma questo poltica e social.
E. a uma questo religiosa.
Texto para as questes 17 e 18.
Reciba un fraternal saludo y bendiciones por su magn-
ca labor. Quisiera saber que informacin a la fecha tiene
sobre una posible cura del VIH. Tengo entendido que
luego del encuentro realizado en Mxico qued bien cla-
ro que uno de los retos es detener lo ms pronto posible
esta pandemia que nos afecta a millones de personas
conrmadas, sin que se tengan en realidad datos de los
millones quizs de portadores que an no asumen la res-
ponsabilidad de hacerse la prueba y cuyo temor es com-
prensible. Doctor, s que su informacin se convertir
en una voz de esperanza para muchos de nosotros que
esperamos ansiosos ese da que espero no sea lejano. Es-
toy seguro que los desafos a la ciencia no pueden ser en
vano y ms cuando existen seres con mucha capacidad
e inteligencia para lograrlo. Un abrazo y muchas gracias
de nuevo por su dedicacin a acompaarnos.
Je
Respuesta del dr. Natterstad
Querido Je
Tu pregunta es de lo ms oportuna. Creo que el ao
2010 seal un momento decisivo para la bsqueda de
la erradicacin(una cura) del VIH. Fue un ao en el que la
discusin de una cura realmente previsible desempea
un papel ms importante que nunca en muchas confe-
rencias y publicaciones cientcas. De hecho apareci en
una revista mdica en diciembre un informe de segui-
miento que trata de un hombre (el paciente de Berln)
que llevara ms de tres aos curado.
Hay ms buenas noticias: ! un grupo internacional de
investigadores se ha jado una meta de encontrar una
cura en la prxima dcada!? Qu te parece esa voz de
esperanza?
Un abrazo fuerte,
Dr. Steve Natterstad.
17. O ttulo de um texto procura antecipar para o leitor
o tema que ser tratado pelo autor. Com base na
leitura do texto posto acima, o ttulo mais adequado
para ele
A. ltimos avances para la cura del VIH.
B. Aumenta el nmero de casos de Sida en todo el mundo.
C. Se ha encontrado la cura para el VIH Sida.
D. Casos del VIH Sida en nios recin nacidos.
E. Disminuyen las muertes por el VIH Sida.
18. Aps uma leitura do texto, deduz-se que
A. ...portadores que an no asumen la responsa-
bilidad de hacerse la prueba... faz referncia s
pessoas que possivelmente tm Aids, porm sem
conrmao.
18
B. o dr. Natterstad, em sua resposta a Je, considerando
fatos como a cura do paciente de Berlim, argumenta
que em 2010 se encontrou uma soluo denitiva
para a Aids.
C. na frase lo ms pronto posible, a palavra pron-
to apresenta uma ideia de distncia.
D. a palavra lejano pode ser substituda por cerca-
no sem alterar a informao fornecida pelo texto.
E. as informaes apresentadas no texto mataram to-
das as esperanas dos portadores do HIV.
19.
Observando-se a tira, percebe-se que Gaturro
A. tem uma viso negativa sobre o aleitamento materno.
B. considera o leite materno um alimento de alta
qualidade.
C. pensa em fazer uma campanha para divulgar o leite
materno.
D. ao comparar o leite materno gasolina, transmite
uma viso negativa sobre o aleitamento materno.
E. tem saudades de quando era um recm-nascido.
Ampliando conhecimentos para o Enem
1.
Queremos libertar a poesia do presdio canoro das
frmulas acadmicas, dar elasticidade e amplitude aos
processos tcnicos, para que a ideia se transubstancie,
sinttica e livre (...). Nada de postio, meloso, articial,
arrevesado, preciso: queremos escrever com sangue,
que humanidade com eletricidade, que movimento,
expresso dinmica do sculo; violncia, que energia
bandeirante.
A leitura do fragmento posto acima, evidencia propos-
tas do Movimento Modernista de 22. Com base nisso, o
fragmento a seguir que evidencia as propostas do Movi-
mento Modernista de 22
A. Torce, aprimora, alteia, lima/ A frase; e, enm/ No
verso de ouro engasta a rima,/ Como um rubim.
B. Descrever o objeto matar trs quartos dele
C. Buscamos e defendemos a Arte pela Arte
D. No rimarei a palavra sono/ com a incorresponden-
te palavra outono./ Rimarei com a palavra carne/ ou
qualquer outra, que todas me convm.
E. Eu quero compor um soneto duro/ como poeta al-
gum ousara escrever./ Eu quero pintar um soneto
escuro,/ seco, abafado, difcil de ler
2.
A origem do nome de um dos quadros mais importantes
do Modernismo brasileiro
O Abaporu o mais importante quadro j produzido no
Brasil. Tarsila do Amaral pintou-o como presente de ani-
versrio a Oswald de Andrade, seu marido na poca. O
nome signica aba (homem) e poru ( antropfago).
O quadro inspirou Oswald de Andrade a escrever seu
Manifesto Antropofgico, bero de um movimento
que propunha a deglutio da cultura europeia, trans-
formando-a em algo brasileiro.
Mas qual o signicado do quadro? Difcil dizer, mas, na
opinio de certos crticos, o homem avantajado com a
cabea pequena seria o brasileiro desmiolado. Quanto
aos ps e as mos, enormes, era como Tarsila via nosso
povo (sofridos trabalhadores). O sol simboliza a penosa
rotina do homem do campo, dando duro debaixo de sol
inclemente. Ainda hoje, a polmica obra tem avivado
acaloradas discusses.
(Contrim, Mrcio. Revista Lngua Portuguesa.
Ano, 5, n 59, set. de 2010. Adaptado.)
19 Universidade Aberta do Nordeste
A leitura do texto e a observao da imagem permitem
concluir que
A. o autor tece leve crtica a Tarsila por ter a artista pro-
duzido uma obra em que retrata o brasileiro como
um povo de cabea pequena, ou seja, um povo
desmiolado.
B. necessrio decifrar o Abaporu para fazer parte
do patrimnio cultural nacional, em virtude, inclusi-
ve, do seu valor material.
C. o Abaporu foi criado e seus signicados esclare-
cidos por Tarsila do Amaral, no havendo, portanto,
necessidade de qualquer outra interpretao.
D. o Abaporu foi representativo para a criao do
Movimento Antropofgico, inspirando Oswald
de Andrade na fundao dessa manifestao ar-
tstica brasileira.
E. o Abaporu, alm de ter inspirado Oswald de
Andrade na criao do Movimento Antropof-
gico, representa o incio da fase social na pintura
de Tarsila do Amaral. Isso se d pela forte crtica
social presente na tela ao fazer aluso ao sofri-
mento do trabalhador brasileiro.
3. A Semana de Arte Moderna, vista isoladamente,
no deveria merecer tanta ateno. Os jornais da
poca, por exemplo, no lhe dedicaram mais do que
algumas poucas colunas, e a opinio pblica cou
distante. Seus participantes no tinham sequer um
projeto artstico comum; unia-os apenas o sentimen-
to de liberdade de criao e o desejo de romper com
a cultura tradicional. Apesar disso, a Semana foi aos
poucos ganhando uma enorme importncia histri-
ca e rejeitando o chamado colonialismo mental, pre-
gando uma maior delidade realidade brasileira e
valorizando bastante o regionalismo. Os reexos da
Semana zeram-se sentir em todo o decorrer dos
anos 1920, atravessaram a dcada de 1930 e, de
alguma forma, tm relao com a arte que se faz
hoje. Com isso, pode-se dizer que
A. o romance regional assumiu caractersticas de exal-
tao, retratando os aspectos romnticos da vida
sertaneja.
B. a escultura e a pintura tiveram seu apogeu com a
valorizao dos modelos clssicos.
C. o movimento redescobriu o Brasil, revitalizando os
temas nacionais e reinterpretando nossa realidade.
D. os modelos arquitetnicos do perodo buscaram sua
inspirao na tradio do barroco portugus.
E. a preocupao dominante dos autores foi retratar
os males da colonizao.
4. Em 1924, Oswald de Andrade lanou o Manifesto
da Poesia Pau-Brasil, dando incio ao movimento
Pau-Brasil, que, a exemplo do nosso primeiro pro-
duto de exportao, o pau-brasil, defendia a criao
de uma poesia brasileira de exportao. Demons-
trando irreverncia e revolta contra a cultura aca-
dmica e a dominao cultural europeia em nosso
pas, o movimento propunha
A. uma poesia primitivista, construda com base na re-
viso crtica de nosso passado histrico e cultural e
na aceitao e valorizao dos contrastes da realida-
de e da cultura brasileiras.
B. a defesa do nacionalismo ufanista com evidente
inclinao para o nazifascismo e um forte vis de
xenofobia pregando a rejeio de toda e qualquer
inuncia estrangeira.
C. que, assim como os ndios primitivos devoravam seu
inimigo, acreditando que, desse modo, assimilariam
suas qualidades, se zesse a devorao simblica
da cultura estrangeira, aproveitando suas inovaes
artsticas, porm sem perder a identidade nacional.
D. uma poesia brasileira com forte trao xenfobo que
buscasse a irreverncia e a revolta contra a cultura
acadmica e a dominao cultural europeia no Brasil.
E. uma poesia nacionalista que denunciasse as con-
tradies sociais presentes no Pas e que, apesar de
buscar o novo, defendesse todos os padres acad-
micos usados na literatura at ento.
5.
Tentativa
Andei pelo mundo no meio dos homens!
uns compravam joias, uns compravam po.
No houve mercado nem mercadoria
que seduzisse a minha vaga mo.
Calado, Calado, me diga, Calado
por onde se encontra minha seduo.
Alguns, sorriram, muitos, soluaram,
Uns, porque tiveram, outros porque no.
Calado, Calado, eu, que no quis nada,
por que ando com pena no meu corao?
(Ceclia Meireles. Obra potica.
Rio de Janeiro, 1978. Fragmento.)
No fragmento posto acima, observa-se o envolvimento
20
pessoal do emissor, que comunica sentimentos, emoes,
inquietaes, avaliaes e opinies centradas na expres-
so de eu, de seu mundo interior. Essas caractersticas
citadas mostram que no fragmento predomina a funo
A. conativa. B. expressiva.
C. referencial. D. ftica.
E. potica.
6.
Linguagem inata
Se voc uma daquelas pessoas que odeiam estudar gra-
mtica, talvez se sinta mais confortvel em saber que voc
j nasceu sabendo. o que sugere um estudo de Marie
Coppola e Elissa Newport, especialistas em cincias cogniti-
vas da Universidade de Rochester, em Nova York. Um expe-
rimento com um grupo de surdos da Nicargua indica que
a lngua de sinais que utilizam, aprendida em casa e sem
uma educao formal, incorpora o conceito gramatical de
sujeito da orao, presente em todas as lnguas humanas
conhecidas. Tal fato parece conrmar uma tese de que
o linguista americano Noam Chomsky defende desde os
anos 50: a de que a gramtica inata ao homem, em vez
de adquirida pelo aprendizado. Para Chomsky, a rapidez
com que uma criana aprende uma lngua se deve a uma
disposio inata para o domnio da gramtica.
(Superinteressante, So Paulo, mar. 2006)
Observando o contedo do texto posto acima, percebe-
-se que a funo da linguagem predominante a refe-
rencial. Isso decorre do fato
A. de a inteno essencial do emissor do texto se trans-
mitir informaes sobre o referente limitando as in-
terferncias pessoais ao mnimo.
B. da inteno do emissor em testar o canal de comu-
nicao.
C. de a nfase recair sobre a construo do texto, a
seleo e a disposio das palavras.
D. de o destaque recair no receptor a quem se deseja
persuadir atravs da mensagem do texto.
E. de a nfase ser dada ao papel do emissor, observan-
do-se o envolvimento pessoal dele que comunica
seus sentimentos usando verbos e pronomes em 1
pessoa do singular.
7.
Lembrem de mim
Como de um
Que ouvia a chuva
Como quem assiste missa
Como quem hesita, mestia,
Entre a pressa e a preguia.
(Paulo Leminski. Caprichos e relaxos. So Paulo: Brasiliense, 1983)
No fragmento posto acima, observa-se que a nfase recai
sobre a construo do texto, a seleo e a disposio das
palavras. Isso evidencia que a funo predominante a
A. metalingustica. B. ftica.
C. conativa. D. referencial.
E. potica.
8.
PELA CULATRA
Perdi meu amor na balada:
campanha viral alvo de processos
No incio do ms, comeou a circular na internet um v-
deo que mostra um rapaz pedindo ajuda para encontrar
uma garota que tinha conhecido em uma casa noturna
de So Paulo. No entanto, a pea fazia parte de uma
campanha da Nokia para divulgao de novo celular, o
que se descobriu em vdeos divulgados posteriormen-
te. O Procon-SP e o Conselho Nacional de Autorregula-
mentao Publicitria (Conar) j abriram processos para
investigar se houve violao das regras de publicidade e
do Cdigo de Defesa do Consumidor.
Chamado de Perdi meu amor na balada, o vdeo ge-
rou alguma comoo nas redes sociais. A representao
contra a Nokia no Conar foi motivada por denncias de
consumidores que se sentiram enganados. Para o Procon-
-SP, a publicidade deve ser veiculada de forma que o con-
sumidor, fcil e imediatamente, a identique como tal. A
Nokia ainda no se pronunciou sobre o caso e a agncia
Na jaca, responsvel pela pea, armou por meio da sua
assessoria de imprensa que no ir manifestar-se.
Disponvel em: http://www.istoe.com.br/assunto/semana/historico/paginar/2.
Acesso em: 25 de julho de 2012.
Tendo em vista que um texto um todo harmnico, para
entender qualquer uma de suas passagens, necess-
rio confront-la com as demais partes que o compem.
No texto lido, qual o fragmento que explica a expresso
PELA CULATRA?
A. No incio do ms, comeou a circular na internet
um vdeo que mostra um rapaz pedindo ajuda para
encontrar uma garota que tinha conhecido em uma
casa noturna de So Paulo.
21 Universidade Aberta do Nordeste
B. O Procon-SP e o Conselho Nacional de Autorregu-
lamentao Publicitria (Conar) j abriram processos
para investigar se houve violao das regras de pu-
blicidade e do Cdigo de Defesa do Consumidor.
C. A representao contra a Nokia no Conar foi mo-
tivada por denncias de consumidores que se senti-
ram enganados.
D. Para o Procon-SP, a publicidade deve ser veiculada
de forma que o consumidor, fcil e imediatamente,
a identique como tal.
E. A Nokia ainda no se pronunciou sobre o caso e a
agncia Na jaca, responsvel pela pea, armou por
meio da sua assessoria de imprensa que no ir se
manifestar.
Texto para as questes 9 e 10.
9. O texto posto acima tem como objetivo principal
A. induzir o pblico-alvo a consumir o produto divulgado.
B. alertar sobre os riscos de consumir produtos in-
dustrializados.
C. divulgar um refrigerante diettico.
D. sugerir o consumo de sucos naturais.
E. condenar o consumo excessivo de produtos com co-
rantes articiais.
10. Temos no texto da propaganda ...Fanta: refresca,
alegra, sabe tan bien... ao dizer que fanta sabe
tan bien, o emissor do texto informa ao receptor
que o refrigerante anunciado
A. tem sabor estranho.
B. tem vrios sabores.
C. sabe como agradar o consumidor.
D. tem sabor agradvel.
E. tem gosto de fruta.
11.
Para hacer un anlisis del poder que no sea econmi-
co, de qu disponemos actualmente? Creo que de muy
poco. Disponemos, en primer lugar, de que tanto la
apropiacin como el poder no se dan, no se cambia, ni
se retoman sino que se ejercen, no existen ms que en
acto. Disponemos adems de esta otra armacin, que
el poder no es principalmente mantenimiento ni repro-
duccin de las relaciones econmicas sino ante todo una
relacin de fuerza. La pregunta consistira pues ahora
en saber: si el poder se ejerce, qu es este ejercicio?,
en qu consiste?, cul es su funcionamiento? Hay una
respuesta imediata que me parece proviene de muchos
anlisis actuales: el poder es esencialmente lo que repri-
me. El poder reprime la naturaleza, los instintos, a una
classe, a los individuos. Aun cuando se encuentra en el
discurso actual esta denicin del poder, una y otra vez
repetida, como algo que reprime, no es el discurso con-
temporneo quien la ha inventado, ya lo haba dicho
Hegel, Freud y Marcuse. En cualquier caso, ser rgano
de represin es en el vocabulario actual el calicativo casi
onrico del poder. No debe pues el anlisis del poder ser
en primer lugar y esencialmente el anlisis de los meca-
nismos de represin?
(Microfsica del poder, Michel Foucault)
De acordo com o texto, pode-se inferir que
A. a condio onrica do poder algo que j havia sido
dito por Hegel, Freud e Marcuse.
B. para se fazer uma anlise do poder econmico, dis-
pomos atualmente de muito pouco.
C. a natureza, os instintos, uma classe e indivduos so
reprimidos pelo poder.
D. o poder uma relao de fora e sua anlise nunca
22
deve ser primeiramente a anlise dos mecanismos de
represso.
E. no h uma relao entre poder e represso.
Texto para as questes 12 a 14.
La excepcin cultural latinoamericana
El rechinar de dientes del otoo europeo tiene su contra-
peso en la tmida primavera que llega a esos pases que
llaman emergentes. Y lo que vale para el clima vale para
la cultura. Mientras la crisis del Viejo Continente obliga
a Gobiernos a mandar su cuota de prestigio cultural al
aparcamiento de los presupuestos, Latinoamrica quiere
colocarla en la va rpida de las autopistas, includas las
que le quedan por construir.
En medio de una crisis de la Amrica Latina parece estar
a salvo, la constante invocacin a la cultura tiene que ser
tambin una forma de exorcizar el fantasma del control
econmico.
Como explica el politlogo brasileo Emir Sader, impul-
sor del Foro Social de Porto Alegre, a mayor desarrollo
econmico, mayores condiciones para el desarrollo en
la produccin cultural; sin embargo, esta ltima no se
explica por el mayor o menor nivel de desarrollo eco-
nmico. Y recurre al ejemplo de la literatura contem-
pornea: Difcilmente podra decirse que la produccin
ms signicativa proviene de los pases del centro del
capitalismo; y cuando lo hace, es de la mano de autores
cuyas races se hunden en la periferia. Basta pensar en
las antiguas colonias en el caso del ingls o en la literatu-
ra latino-americana del siglo XX en el caso del espaol.
No es, pues, extrao que las migraciones sean otro de
los ejes de un congreso en el que todo es cultura.
(MARCOS, J. R. La excepcin cultural latino-americana.
Dispinible en: http//:www.elpas.es. Aceso en 10 jun. 2012)
12. As expresses rechinar de dientes del otoo euro-
peo y tmida primavera da primeira orao do
primeiro pargrafo, carregam
A. uma signicao idntica.
B. um contedo metafrico.
C. ideias inverossmeis.
D. preconceitos sobre a Europa.
E. pressupostos econmicos.
13. No incio do texto, assinala-se que a crise que afeta
a Europa justica, nesse continente,
A. a reduo do oramento destinado cultura.
B. os subsdios para manter a indstria cultural.
C. o refgio na leitura para compensar o desnimo.
D. a ajuda de mecenas para o apoio s artes.
E. o impulso produo de cultura exportvel.
14. No segundo pargrafo, o autor expe que a cultura
deve
A. deslocar-se para a Amrica Latina.
B. revoltar-se contra os polticos.
C. inspirar-se nos pases comunistas.
D. distanciar-se da submisso economia.
E. submeter-se aos interesses dos europeus.
Texto para as questes 15 e 16.
15. Observando o contedo da tira, percebemos que a
postura de Felipe em relao cultura
A. elogiada por todos os seus amigos.
B. criticada por todos os seus amigos.
C. no compartilhada por seus amigos.
D. fere a tica e a moral.
E. representa uma viso plenamente factvel.
16. No balo do primeiro quadrinho, observamos que o
comentrio feito por Mafalda estabelece uma
A. violenta crtica.
B. interrogao losca.
C. dvida existencial.
D. explicao ambgua.
E. ressalva ao elogio.
23 Universidade Aberta do Nordeste
Promoo Parceria Apoio Realizao
Ateno!! Inscreva-se j e tenha acesso a outros materiais sobre
o Enem no www.fdr.com.br/enem2012
Presidente: Luciana Dummar
Coordenao da Universidade Aberta do Nordeste: Eloisa Vidal
Coordenao Pedaggica: Ana Paula Costa Salmin
Coordenao de Produo Editorial: Srio Falco
Editor de Design: Deglaucy Jorge Teixeira
Projeto Grco e Capas: Dhara Sena e Welton Travassos
Editorao Eletrnica: Dhara Sena
Ilustraes: Karlson Gracie
Expediente
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
ABREU, Antnio Surez. A arte de argumentar: geren-
ciando razo e emoo. 2. ed. So Paulo: Ateli Edito-
rial, 2000
ANTUNES, Irand. Lutar com palavras: coeso e coern-
cia. 2. ed. [s.n] Parbola Editorial.
BOSI, Alfredo. Histria concisa da literatura brasileira. 4
ed. So Paulo: Editora Cultrix, 2008.
CNDIDO, Antnio; Castelo, J. Aderaldo. Presena da
literatura brasileira: histria e antologia. 13. ed. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.
CEREJA, William Roberto; Cleto, Ciley; Magalhes, The-
reza Cochar; Interpretao de textos: construindo com-
petncias e habilidades em leitura. 1. ed. So Paulo: Atu-
al, 2009.
CEREJA, William Roberto; Magalhes, Thereza Cochar.
Literatura brasileira: ensino mdio. 3. ed. So Paulo:
Atual, 2005.
COUTINHO, Afrnio. Introduo Literatura no Brasil.
19. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007.
INFANTE, Ulisses. Curso de literatura de lngua portugue-
sa: ensino mdio. V. nico. So Paulo: Scipione, 2005.
JOUVE, Vincent. A leitura. Traduo de: Brigitte Hervor..
So Paulo: Editora UNEP, 2002.
KLEIMAN, ngela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da
leitura.14 ed. Campinas: Editores, 2011.
MARCUSCHI, Luiz Antnio. Produo textual, anlise de
gneros e compreenso. So Paulo: Parbola editorial,
2008.
MARTIN, Robert. Para entender a lingstica: epistemo-
logia elementar de uma disciplina. 2. ed.[s.l]: Parbola
Editorial, [s.d].
MOISS, Massaud. A anlise literria. So Paulo: 17
reimpr. [s.l]: [s.n],1969.
___________. Histria da literatura brasileira. 6 ed. So
Paulo: Editora Cultrix, 2007.
OLIVEIRA, Clenir Bellezi de. Arte literria brasileira. So
Paulo: Moderna, 2000.
PROENA, Graa. Descobrindo a histria da arte. 1 impr.
1. ed. So Paulo: tica, 2005
SARMENTO, Leila Luar. Ocina de redao. 3. ed. So
Paulo: Moderna, 2006.
SAVIOLI, Plato Francisco; Fiorin, Jos Luiz. Para enten-
der o texto. 12. ed. So Paulo: Editora tica, 2001.
SOL, Isabel. Estratgias de leitura. Traduo de: Cludia
Schilling. 6. ed. Porto Alegre: ArtMed, 1998.
TERRA, Ernani; Nicola, Jos de. Prticas de linguagem:
leitura & produo de textos. So Paulo: Scipione, 2008.
Você também pode gostar
- A Formula Magica Da Redacao Nota MilDocumento20 páginasA Formula Magica Da Redacao Nota MilANA SAVIA DE SOUZA MELO100% (3)
- Prova de Estatística Comentada - 3° AnoDocumento4 páginasProva de Estatística Comentada - 3° Anoclairtorocha100% (2)
- GuiaENEM-2015 BX PDFDocumento516 páginasGuiaENEM-2015 BX PDFMoah Oliveira50% (2)
- Roda Da Vida - ImprimirDocumento4 páginasRoda Da Vida - ImprimirAna Paula FiorottiAinda não há avaliações
- 1º-Simulado-ENEM Dia 1Documento36 páginas1º-Simulado-ENEM Dia 1Marcele100% (1)
- Introdução A AlgebraDocumento120 páginasIntrodução A AlgebraJulia PizaAinda não há avaliações
- Material Intensivo MatematicaDocumento511 páginasMaterial Intensivo MatematicaMirlaineAinda não há avaliações
- Simulado ENEM 45 Questões Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias + RedaçãoDocumento16 páginasSimulado ENEM 45 Questões Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias + RedaçãoFilipe ReisAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido - SAEB/ REDAÇÃODocumento4 páginasEstudo Dirigido - SAEB/ REDAÇÃOPaulo HenriqueAinda não há avaliações
- Fasc 12 03102011Documento16 páginasFasc 12 03102011clairtorochaAinda não há avaliações
- Fascículo 08 ENEM 2011Documento16 páginasFascículo 08 ENEM 2011Guto BragaAinda não há avaliações
- Fascículos ENEM 2013 - Fascículo 04 PDFDocumento16 páginasFascículos ENEM 2013 - Fascículo 04 PDFjackmstrAinda não há avaliações
- Lista Mat FinanceiraDocumento3 páginasLista Mat FinanceiraclairtorochaAinda não há avaliações
- Edital IFMT.2019.106.CS.2020.1.ENEM - Resultado Geral VGDDocumento5 páginasEdital IFMT.2019.106.CS.2020.1.ENEM - Resultado Geral VGDPriscila Macedo de MouraAinda não há avaliações
- INEQUACAODocumento40 páginasINEQUACAOMarcelo Renato Moreira BaptistaAinda não há avaliações
- Questões de Concursos e Perguntas de Concursos Públicos - Aprova Concursos PDFDocumento2 páginasQuestões de Concursos e Perguntas de Concursos Públicos - Aprova Concursos PDFMarcos Chinaider100% (1)
- FOLHA DE REDAÇÃO ENEM SESI DANIEL VCRloopDocumento2 páginasFOLHA DE REDAÇÃO ENEM SESI DANIEL VCRloopdavidmartyn639Ainda não há avaliações
- Evasão Escolar - Causas, Consequências, Solução e Dados No Brasil - Toda MatériaDocumento3 páginasEvasão Escolar - Causas, Consequências, Solução e Dados No Brasil - Toda MatériaRafael Jungo JambaAinda não há avaliações
- Plano de Ação - PVDocumento2 páginasPlano de Ação - PVDavid de JesusAinda não há avaliações
- Cursinho Júlio Protásio - Matemática - Osley - 30.07.2022Documento7 páginasCursinho Júlio Protásio - Matemática - Osley - 30.07.2022Ana Beatriz Varela MoreiraAinda não há avaliações
- Apostilade Ciências HumanasDocumento62 páginasApostilade Ciências HumanasGiovanna LaraAinda não há avaliações
- Simulado 1Documento32 páginasSimulado 1LEONARDO PONTES DE MELOAinda não há avaliações
- O Ensino de Filosofia e o Uso Das Tecnologias Digitais Relato Sobre o Ensino Remoto em Tempos de Covid 19 CópiaDocumento6 páginasO Ensino de Filosofia e o Uso Das Tecnologias Digitais Relato Sobre o Ensino Remoto em Tempos de Covid 19 CópiaJaqueline SoaresAinda não há avaliações
- Resumo Gramatica Da Lingua Portuguesa para Concursos Nilson AlmeidaDocumento3 páginasResumo Gramatica Da Lingua Portuguesa para Concursos Nilson AlmeidaRafael MagalhaesAinda não há avaliações
- Plano de Estudos Beduka 2021Documento72 páginasPlano de Estudos Beduka 2021Meus estudos100% (1)
- Edital Nº 001-2021 - Processo Seletivo SimplificadoDocumento22 páginasEdital Nº 001-2021 - Processo Seletivo SimplificadoMaria Aparecida Rocha TodescoAinda não há avaliações
- Lstconv RVM1ch PBLDocumento117 páginasLstconv RVM1ch PBLlojacarmoksAinda não há avaliações
- Edital Nossa Bolsa 2022-02 FINALDocumento35 páginasEdital Nossa Bolsa 2022-02 FINALRosana MotaAinda não há avaliações
- Sistemática de Avaliação 2023-2Documento14 páginasSistemática de Avaliação 2023-2SHEYTON DANIELAinda não há avaliações
- Catálogo EaD Pernambuco 2018Documento268 páginasCatálogo EaD Pernambuco 2018Breanna GomezAinda não há avaliações
- Lista de Documentos Naturalização OrdinariaDocumento3 páginasLista de Documentos Naturalização OrdinariaValdomiro Martins100% (1)
- 1 Avaliacao 3-ANO Manha LND Simulado-de-Matematica-SAEB Prof Gilson-MeirelesDocumento4 páginas1 Avaliacao 3-ANO Manha LND Simulado-de-Matematica-SAEB Prof Gilson-MeirelesMarvin SantosAinda não há avaliações
- Apostila de Redação em Word 2023 SilmaraDocumento28 páginasApostila de Redação em Word 2023 Silmarabrian martinsAinda não há avaliações
- Perguntas Mais Frequentes 2023Documento5 páginasPerguntas Mais Frequentes 2023Leonardo PiauilinoAinda não há avaliações
- Questões de MatemáticaDocumento41 páginasQuestões de MatemáticaLUCCAS BATISTA MOREIRAAinda não há avaliações