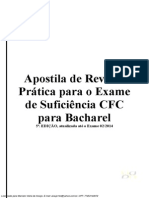Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Revista Concreto 51 PDF
Revista Concreto 51 PDF
Enviado por
Jeferson LimaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Revista Concreto 51 PDF
Revista Concreto 51 PDF
Enviado por
Jeferson LimaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Obras simples,
porm engenhosas
Ensaio de aderncia
ao-concreto para
controle de qualidade
Ensino de Engenharia
Maior evento tcnico
da construo
comemora as bodas
de ouro
Acontece nas Regionais
Tecnologia
Obras simples,
porm engenhosas
Ensaio de aderncia
ao-concreto para
controle de qualidade
Ensino de Engenharia
Acontece nas Regionais
Tecnologia
IBRACON
Instituto Brasileiro do Concreto
IBRACON
& Construes & Construes
Instituto Brasileiro do Concreto
& Construes
IBRACON
Instituto Brasileiro do Concreto
Cimentos/Concretos:
materiais construtivos
em contnua evoluo
Maior evento tcnico
da construo
comemora as bodas
de ouro
Ano XXXVI | N 51
Jul. Ago. Set. | 2008
ISSN 1809-7197
www.ibracon.org.br
Ano XXXVI
Jul. Ago. Set. | 2008
ISSN 1809-7197
www.ibracon.org.br
| N 51
0
5
25
75
95
100
CapaRevistaConcreto51
ter a-feira,29dejulhode200817:39:51
MC-PowerFlow
Sem idias e inovao
no existe futuro
MC-PowerFlow Innovation in building chemicals
MC-PowerFlow o resultado do desenvolvimento contnuo dos aditivos a base de ter de
Policarboxilato (PCE). Trata-se de uma nova linha com formulaes originais baseadas em
matrias-primas desenvolvidas exclusivamente pela MC, e oferecem
inmeras vantagens em comparao aos aditivos a base de policarboxilato
existentes no mercado. Tempo de trabalhabilidade prolongado e estabilidade em sua
aplicao otimizam o seu custo-benefcio a nova linha de aditivos MC-PowerFlow a
resposta para os desafios enfrentados atualmente na produo e lanamento do concreto.
Nova gerao de
superplastificantes
www.mc-bauchemie.com.br
Telefone (11) 4159-3050
Instituto Brasileiro do Concreto
Fundado em 1972
Declarado de Utilidade Pblica Estadual
Lei 2538 ce 11/11/1980
Declarado de Utilidade Pblica Federal
Decreto 86871 de 25/01/1982
Diretor Presidente
Rubens Machado Bittencourt
Diretor 1 Vice-Presidente
Paulo Helene
Diretor 2 Vice-Presidente
Mrio William Esper
Diretor 1 Secretrio
Nelson Covas
Diretor 2 Secretrio
Sonia Regina Freitas
Diretor 1 Tesoureiro
Claudio Sbrighi Neto
Diretor 2 Tesoureiro
Luiz Prado Vieira Jnior
Diretor Tcnico
Carlos de Oliveira Campos
Diretor de Eventos
Tlio Nogueira Bittencourt
Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento
Luiz Carlos Pinto da Silva Filho
Diretor de Publicaes e Divulgao Tcnica
Jos Luiz Antunes de Oliveira e Sousa
Diretor de Marketing
Alexandre Baumgart
Diretor de Relaes Institucionais
Wagner Roberto Lopes
Diretor de Cursos
Juan Fernando Matas Martin
Diretor de Certicao de Mo-de-obra
Jlio Timerman
Conhea o que h de
mais avanado nessas
tecnologias construtivas
Cimentos e Concretos
Acontece
nas Regionais
Veja as principais atraes
do 50 Congresso Brasileiro
do Concreto
14
1 8
4 Editorial
5 Converse com o IBRACON
7 Personalidade Entrevistada. Selmo Kuperman
14 Aditivos para cimento
22 Calorimetria e controle de materiais
27 Panorama da indstria de cimentos no Brasil
29 Aditivos superplasticantes PCEs
35 Obras simples da engenharia
38 Pisos industriais com CRFA
43 Paredes de Concreto
45 Nano-concreto: desaos
52 Ensaio de aderncia ao-concreto
58 Pisos industriais com CAA
63 Impermeabilizao de lajes
65 Sustentabilidade na indstria de cimento
73 Trabalhabilidade do CAA
86 Engastamento em viga protendida
97 Recordes da Engenharia em Concreto
Crditos Capa:
Niederaussem Cooling Tower
MC-Bauchemie Mller GmbH Co
Sumrio
E Mais...
Revista CONCRETO & Construes
Revista Ocial do IBRACON
Revista de carter cientco, tecnolgico
e informativo para o setor produtivo da construo
civil, para o ensino e para a pesquisa em concreto
ISSN 1809-7197
Tiragem desta edio 5.000 exemplares
Publicao Trimestral
Distribuida gratuitamente aos associados
PUBLICIDADE E PROMOO
Arlene Regnier de Lima Ferreira
arlene@ibracon.org.br
EDITOR
Fbio Lus Pedroso MTB 41728
fabio@ibracon.org.br
DIAGRAMAO
Gill Pereira (Ellementto-Arte)
gill@ellementto-arte.com
ASSINATURA E ATENDIMENTO
ofce@ibracon.org.br
Grca: Ipsis Grca e Editora
Preo: R$ 12,00
As idias emitidas pelos entrevistados ou em
artigos assinados so de responsabilidade de seus
autores e no expressam, necessariamente, a
opinio do Instituto.
Copyright 2008 IBRACON. Todos os direitos de
reproduo reservados. Esta revista e suas partes
no podem ser reproduzidas nem copiadas, em
nenhuma forma de impresso mecnica, eletrnica,
ou qualquer outra, sem o consentimento por escrito
dos autores e editores.
PRESIDENTE DO COMIT EDITORIAL
Tulio Bittencourt, PEF-EPUSP, Brasil
COMIT EDITORIAL
Ana E. P. G. A. Jacintho, UNICAMP, Brasil
Joaquim Figueiras, FEUP, Portugal
Jos Luiz A. de Oliveira e Sousa , UNICAMP, Brasil
Luis Carlos Pinto da Silva Filho, UFRGS, Brasil
Paulo Helene, PCC-EPUSP, Brasil
Paulo Monteiro, UC BERKELEY, USA
Pedro Castro, CINVESTAV, Mxico
Raul Husni, UBA, Argentina
Rubens Bittencourt, IBRACON, Brasil
Ruy Ohtake, ARQUITETURA, Brasil
IBRACON
Rua Julieta Esprito Santo Pinheiro, 68
Jardim Olmpia CEP 05542-120
So Paulo SP
REVISTA CONCRETo
4
E
D
I
T
O
R
I
A
L
Ouvir, sentir
e entender
a estrutura
A Diretoria Tcnica do IBRACON almeja lanar
questionamentos e, se possvel, debates em torno de
alguns temas, tais como, por exemplo: signicativo
ou no a decimal no resultado do ensaio compresso
do corpo-de-prova? Questionar a repetitibilidade do
resultado de determinao do mdulo de elasticidade.
Estes questionamentos se baseiam, principalmente,
nos ltimos resultados de ensaios em corpos-de-
prova do Programa Interlaboratorial de Concreto,
coordenado pelo INMETRO, realizado com a elite
dos laboratrios no Brasil. Os resultados fornecidos
no programa indicam, dentro da mesma classe de
concreto, para estes ensaios, uma variao de quase
100%.
Questionar por que no se resolveram os
problemas estruturais das reas de coberturas de
uma edicao alta, habitacional ou comercial. A
freqncia da patologia de trincas, rachaduras e
inltraes so muito altas.
Ainda dentro dos questionamentos e
reexes, propor uma discusso de como projetar
visando durabilidade, ou mesmo eternidade. Ser
possvel analisar uma estrutura? No uma anlise
numrica, mas, comportamental? Ser possvel
analisar o conforto estrutural? Analisar a plenitude do
equilbrio de tenses naturais relativas construo
e ocupao, bem como as impostas pela natureza
como o sol, a chuva e os ventos? Ouvir, sentir e
entender uma estrutura em concreto armado, isto ser
possvel?
Geralmente, a estrutura incomodada se
manifesta. Cabe ao engenheiro manter e entender
esta comunicao. Uma estrutura entendida no seu
ser, equilibrada, no lugar certo ou adequada ao
uso, no reclama, no grita, no se manifesta e se
comporta como eterna e alheia ao entorno ou ao uso
a que se destina.
O Panteo de Agripa e o Coliseu, em Roma;
aquedutos de Segvia e de Nimes; a Barragem
de Cornalbo; pontes, pirmides e um nmero
signicativo de grandes e eternas obras esto pelo
mundo afora para exemplicar os materiais, a forma
e, acima de tudo, a concepo estrutural destas obras.
So obras harmoniosas, sem grandes reentrncias
ou salincias. Percebe-se o equilbrio de formas e
dimenses. So eternas dentro dos ciclos da natureza.
Por que ouvir, sentir ou entender uma
estrutura? Porque a mesma tem frio, calor,
desconforto estrutural e nem sempre se sente segura
no solo em que se apia.
Os modernos
e prticos programas
para calcular uma
estrutura esto
simplificando tanto as
tarefas que o projetista
de estrutura se esquece de
conceber o comportamento
estrutural. A arte de projetar
passa a ser calcular esforos e
carregamentos, e no analisar as
interferncias que existem em um
projeto de forma global.
O desconforto das estruturas se caracteriza
em balanos arrojados, sem contrapartida
dimensional, so balanos em desequilbrio,
salientes em relao ao corpo principal; pilares
esbeltos, lajes engastadas ou confinadas em
todo permetro e expostas s intempries; lajes
de coberturas de altas torres residenciais ou
comerciais totalmente expostas a ventos, chuvas,
frio e calor. O coeficiente de dilatao trmica
do concreto armado existe e atua de acordo
com as variaes de temperaturas. Segue a lei
da natureza, que a de procurar e direcionar a
dilatao pelo caminho mais fcil, sem obstculos,
para se manifestar. Geralmente, a laje se dilata
para a periferia da torre.
O pilar, no centro da edicao, protegido,
na sombra, se comporta diferentemente do pilar
da periferia, que recebe os raios solares do nascer
ao por do sol e, provavelmente, ou, na maioria dos
casos, a nica diferena de dimensionamento para
estes so as solicitaes de esforos por peso prprio
ou carregamentos. Quem ocupa um apartamento de
cobertura conhece estas manifestaes pela presena
das ssuras e inltraes.
O projeto deve contemplar o conforto
estrutural, evitar tenses desnecessrias. A estrutura
deve estar em repouso, precisa dormir. Deve estar
preparada para as variaes e manifestaes de frio
e calor. Uma estrutura em repouso no incomoda o
usurio, no requer manuteno excessiva, no se
manifesta.
As obras milenares de engenheiros annimos
esto espalhadas por todos os cantos do mundo,
so marcas de civilizaes, imprios ou regies, so
exemplos de como projetar e construir. Na atualidade,
surgem as obras do gnio Oscar Niemeyer. So obras-
primas, nicas, verdadeiras obras de arte. Citando
apenas duas: vejam a harmonia de formas na Catedral
de Braslia e no Museu de Arte Contempornea de
Niteri. A catedral, original, nica, plantada,
apoiada e eterna. J, no museu, a originalidade se
manifesta de forma invertida, a obra parece pronta a
alar vo, um equilbrio sustentvel,
bem distribudo, circular, perfeito.
Hoje, como h dois ou quatro mil anos,
temos construdo e sabemos faz-lo, no podemos
esquecer as lies da natureza e exemplos antigos de
obras milenares.
CARLOS CAMPOS
Diretor Tcnico IBRACON
REVISTA CONCRETO
5
C
O
N
V
E
R
S
E
C
O
M
O
I
B
R
A
C
O
N
IBRACON
Converse com o
Cimento pozolnico
Bom dia. A nossa empresa atua no ramo da
Construo Civil e Rodoviria no Estado do To-
cantins e de Gois. Estou a procura de Cimento
Vulcanizado para compra. Gostaria de saber
onde encontrar.
Caso tenha algum representante que venda este
produto em Gois ou Tocantins, favor nos informar.
Obrigado pela ateno. (62) 3257-5044
Joaquim Moreira Barbosa
ETASA
Caro Joaquim,
Os tipos de cimentos normalizados no Brasil so:
CP I Cimento Portland Comum
CP II, E, F ou Z Cimento Portland Composto
CP III Cimento Portland de Alto Forno
CP IV Cimento Portland Pozolnico
CP V ARI Cimento Portland de Alta Resistncia
Inicial
No Estado do Tocantins, h forte presena de agrega-
dos reativos, da a indicao para se usar no concreto
os cimentos CP III ou CP IV.
Talvez a indagao seja sobre cimento POZOLNICO,
uma vez que no existe cimento vulcanizado.Neste
caso, os fornecedores so a Votorantim, de Sobra-
dinho, ou a Nassau, de Belm.
Carlos Campos Diretor Tcnico IBRACON
Artigo para Revista
Caro Fbio,
Sou professor do curso de Engenharia Civil da Unesp,
em Bauru.
Estou te enviando anexo um artigo sobre traos de
concreto. Pensei que talvez ele pudesse ser publicado
na revista Concreto & Construes.
Se tiver que coloc-lo numa outra formatao, por
favor, me comunique.
Aguardo sua resposta.
Grato pela ateno. Felicidades.
Paulo Srgio dos Santos
Caro Prof. Paulo Srgio,
Como no consegui que a mensagem encaminhada
por e-mail chegasse ao senhor, nem tenho seus
contatos, respondo-lhe por meio desta seo. Espero
que no se importe. Aproveito para esclarecer ou-
tros prossionais que tenham interesse em publicar
artigos na revista CONCRETO & Construes.
Segue a resposta:
O artigo encaixa-se na seo Artigo Cientco da
revista CONCRETO. Mas, precisa ser completado
com abstract e key-words. Por favor, envie-me es-
sas sees com o mesmo tamanho do resumo e das
palavras-chaves.
Aps receb-lo, vou encaminh-lo para o Comit
Editorial da revista. Aprovado, ele entra na lista de
artigos. A previso que seja publicado no comeo
de 2009.
Para quem deseja publicar artigos na revista CON-
CRETO & Construes, os artigos devem ser enviados
para o e-mail: fabio@ibracon.org.br.
Atenciosamente,
Fbio Lus Pedroso Editor
Exponorma 2008
Vencido o desao do primeiro Exponorma, em
2007, a Associao Brasileira de Normas Tcnicas
(ABNT) investe na segunda edio, marcada para
os dias 27 a 29 de outubro, em So Paulo, com a
expectativa de inserir o evento, denitivamente,
no calendrio da indstria nacional. Normalizao,
Sustentabilidade e Globalizao o tema escolhi-
do para este ano e o cenrio ser outra vez o ITM
Expo, onde acontecero um congresso, palestras
tcnicas e uma exposio.
O principal objetivo do Exponorma, na verso 2008,
conscientizar a sociedade da importncia das
normas tcnicas para a sustentabilidade e a globa-
lizao. Idealizado para marcar o encerramento das
comemoraes do Dia Mundial da Normalizao,
celebrado em 14 de outubro, o evento visa ainda
estimular o envolvimento da sociedade na norma-
lizao, promover a discusso da contribuio das
normas tcnicas para a sustentabilidade e para a
defesa do consumidor.
A escolha do tema resulta do cenrio imposto pela
globalizao, no qual empresas nacionais passaram
a competir com as estrangeiras nos mercados interno
e externo, usando como ferramentas no s dife-
renciais de qualidade e preo, mas tambm sociais
e ambientais.
Nos pases mais desenvolvidos, que so os prin-
cipais mercados do Brasil, comum a exigncia
REVISTA CONCRETo
6
IBRACON
Cursos Master PEC Master em Produo
de Estruturas de Concreto
Programa de cursos de atualizao
tecnolgica ministrado pelo IBRACON
PRTICAS DE PROJETO E EXECUO DE EDIFCIOS PROTENDIDOS
05 de Setembro de 2008
50 Congresso Brasileiro do Concreto, Centro de Convenes da Bahia, Salvador Bahia
OBJETIVO
Discorrer sobre as vantagens da adoo de lajes protendidas para a arquitetura e para a engenharia.
Apresentar as particularidades do projeto e da execuo destes tipos de obras. Apresentar os novos conceitos,
materiais e equipamentos utilizados. Analisar o estado da arte no Brasil e as perspectivas de desenvolvimento.
PROGRAMA DO CURSO
Introduo, conceitos bsicos, vantagens da protenso
Caractersticas do projeto em concreto protendido
Diferentes tipos de estruturas modelagem e anlise
Dimensionamento e traado dos cabos
Detalhes construtivos
Caractersticas e requisitos das obras para protenso
Materiais, equipamentos e operao
Fabricao e instalao dos cabos
Concretagem
Protenso e variaes nos alongamentos
Acabamentos
PROFESSORES
Eng Eugenio Luiz Cauduro, CAUDURO CONSULTORIA LTDA Especialista em Concreto Protendido, participou
da protenso de mais de 200 edifcios. Gerente da Freyssinet. Gerente da Belgo Mineira em protenso.
Eng Marcelo Silveira, MD ENGENHEIROS ASSOCIADOS Especialista em Estruturas Protendidas. Projetou mais
de 58 edifcios protendidos de mais de 15 andares, j construdos, comerciais e residenciais.
www.arcelormittal.com/br
PATROCINADOR
0
5
25
75
95
100
CalhauCursoMasterPECArcelor
quarta-feira,30dejulhode200812:42:10
de certicao para produtos, para assegurar que
o processo produtivo contempla a proteo do
meio ambiente, aplica normas de segurana do
trabalhador e no utiliza mo-de-obra infantil, por
exemplo, justica o presidente da ABNT, Pedro
Buzatto Costa.
O Exponorma manter em 2008 o mesmo formato
da edio de estria, reunindo um congresso, uma
exposio e eventos paralelos, como palestras,
reunies setoriais e mini-cursos. Em 2007, recebeu
1.800 visitantes, mobilizou 400 pessoas no con-
gresso e outras 200 nos eventos paralelos. Foram
parceiros da ABNT na iniciativa a Eletrobrs, o
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao
e Qualidade Industrial (Inmetro), o Ministrio da
Cincia e Tecnologia, o Ministrio do Turismo, a
Petrobras, o Servio Brasileiro de Apoio s Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae) e Servio Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai).
Assessoria de Imprensa
Comunidades Virtuales de Construccion,
Arquitetura e Ingenieria
Colombia Sur America
A continuacin les relacionamos la Informacion en
Internet de las Comunidades Virtuales de Integracion
del Portal INCIARCO, en las cuales pueden Registrar-
se Libremente y Participar para Integrarse con otras
Personas del Mundo Hispano que Comparten sus
mismos Gustos Personales y Profesionales.
Registrarse, Activar su Cuenta y Participar es Muy Facil y
Libre de Cualquier Costo, pudiendo hacer uso de nues-
tros Recursos en Internet para Presentar sus Productos
y Servicios, asi como Conocer a otras Personas y Com-
partir con las mismas Informacion y Esparcimiento.
inciarco.com/foros
Desde los Enlaces presentados en el Portal INCIARCO,
podran acceder a las Comunidades, asi como a otros
Servicios de Informacion y de Herramientas, que les
seran de Mucha Utilidad.
inciarco.com
De manera adicional, les compartimos la Informacion
de otro Servicio que Ofrecemos, de Programacion de
Proyectos con Microsoft Project, asi como el Desarrollo
de Soluciones con Microsoft Excel que se Integran con
Microsoft Project y con Programas como ConstruPlan/
ConstruControl y CIO, para generar Informacion Util
en el Presupuesto y Control de Proyectos.
arturo.inciarco.com
Sean Miembros de las Comunidades del Portal IN-
CIARCO, las cuales han sido creadas para Benecio
de Ustedes, y Complementenlas con sus Aportes de
Informacion y Comentarios, en los Temas y Mensajes
que Ustedes Deseen Compartir.
Un Saludo Muy Especial.Cordialmente, con Aprecio
y Respeto.
Arturo Antonio Dacosta Soler Ingeniero Civil
Administrador de las Comunidades del Portal INCIARCO
REVISTA CONCRETO
7
p
e
r
s
o
n
a
l
i
d
a
d
e
e
n
t
r
e
v
i
s
t
a
d
a
Selmo Chapira Kuperman
Selmo Kuperman iniciou sua carreira prossional em 1970 no Instituto de
Pesquisas Tecnolgicas de So Paulo. Pouco tempo depois, ingressou como
engenheiro tecnologista na Themag, trabalhando principalmente com obras de
tneis e barragens. Suas contribuies nesta rea renderam-lhe, em 2002, o
Prmio IBRACON Ary Torres.
Formado na Escola Politcnica da USP, onde obteve seus ttulos de mestre e doutor,
Kuperman professor visitante da escola desde 1990, ministrando a disciplina de
ps-graduao Tenses de origem trmica barragens e outras estruturas. Ele
autor e co-autor de, aproximadamente, 100 artigos tcnicos e de livros. Suas
reas de interesse so: concreto compactado com rolo; reaes lcali-agregado;
manuteno de barragens; instrumentao; e segurana de barragens.
Muito atuante no meio tcnico, Kuperman membro do American Concrete
Institute ACI por mais de 30 anos, servindo aos Comits de Concreto Massa,
de Concreto de Retrao Compensada, Concreto Projetado, dentre outros.
tambm membro da ASTM International e da Association of State Dam Safety
Ofcial ASDSO. Foi presidente do IBRACON na gesto 1997-99.
Atualmente, Selmo Kuperman diretor-presidente da Desek, empresa de
consultoria em engenharia e construo.
REVISTA CONCRETo
8
IBRACON No incio de sua formao em enge-
nharia civil, o senhor fez estgio no escritrio de
clculo estrutural Jlio Kassoy e Mrio Franco.
Que recordaes e experincias traz consigo
dessa poca?
Selmo Chapira Kuperman Aps ter trabalha-
do durante dois anos como estagirio de uma
construtora, quei alguns meses estagiando em
clculo estrutural. Foi uma poca boa, pois o
crebro do estudante como uma esponja que
absorve conhecimentos; por isso, a busca pelo
saber no escritrio Julio Kassoy e Mrio
Franco foi muito rica.
IBRACON Logo que
concluiu sua graduao, o
senhor foi para o Instituto
de Pesquisas Tecnolgicas
do Estado de So Paulo
(IPT) trabalhar como pes-
quisador na rea de tecno-
logia de concreto. Como
explica seu interesse por
essa especialidade?
Selmo Chapira Kuper-
man Como eu j ha-
via cumprido estgios em
construo e clculo, achei
que a parte da pesquisa
tecnolgica poderia ser interessante, prin-
cipalmente pelo desao que representava.
Na poca, meus conhecimentos sobre o
assunto eram parcos e tive de comear pra-
ticamente do zero, estudando tudo o que fosse
possvel sobre concreto e ensaios de laborat-
rio. Aos poucos, compreendi que a tecnologia
de concreto envolvia muita arte e criatividade,
no havia frmulas mgicas que pudessem ser
aplicadas, sendo cada dosagem diferente das
outras, pois mudavam completamente os ma-
teriais. Notei que era muito importante nesta
rea o fator humano: na escolha dos materiais,
nas dosagens de concretos, nos ensaios, nas in-
terpretaes. Creio que a paixo pelo assunto
comeou ali.
IBRACON Voc participou do incio do pro-
cesso de construo das grandes barragens bra-
sileiras, como as usinas de Ilha Solteira e Jupi.
Quais foram as principais mudanas, em termos
de projeto, pesquisa e construo de barragens,
ocorrida de l para c? Que mudanas foram
positivas? Quais as negativas?
Selmo Chapira Kuperman Realmente, tive
a sorte de estar no lugar certo, na hora certa. O
chamado milagre brasileiro estava no princ-
pio e a Themag, projetista de barragens, preci-
sava de algum para trabalhar com tecnologia
de concreto e instrumentao para as usinas
hidreltricas Jupi, em nal de construo, e
Ilha Solteira, que estava sendo iniciada. Era o
ano 1970 e fui contratado. Aquelas duas obras
foram uma verdadeira escola, no s para mim,
mas para toda uma gerao de barrageiros.
Em cada projeto havia tempo suciente para
estudar as melhores alternativas de soluo
para qualquer problema, era possvel pesquisar
novos materiais e tcnicas construtivas, e os pro-
jetos eram to bem detalhados que quase
no havia espao para erros ou enganos.
As mudanas daqueles tempos para os
atuais foram enormes. Em
termos de projeto, houve
o advento do computador
e das inmeras consequ-
ncias benficas trazidas
por esta ferramenta. Os
programas de computador
permitem tomadas de deci-
so mais abalizadas, pois
muito mais fcil e rpido es-
tudar alternativas e efetuar
simulaes paramtricas.
Outro ponto positivo foi a
introduo da necessidade
de estudos ambientais e
a necessidade de adoo de medidas
mitigadoras nos vrios projetos, alm da
obrigatoriedade de construo de eclusas
em vrias novas usinas.
As pesquisas passaram a ser consideradas im-
portantes, inclusive sob o aspecto institucional
- a verba destinada pela Agncia Nacional de
Energia Eltrica - ANEEL para pesquisas tem
permitido signicativos avanos no conheci-
mento da engenharia, propiciando solues
mais seguras e econmicas. A globalizao
trouxe tambm melhorias, pois a competio
passou a ser internacional e o fato de empre-
sas estrangeiras entrarem no pas obrigou as
nacionais a evolurem mais rapidamente para
enfrentar a concorrncia.
Por outro lado, o fato do pas ter cado para-
lizado por quase 20 anos causou uma signi-
cativa desagregao das empresas brasileiras
de projeto e construo no que diz respeito
s obras de barragens. Perdeu-se boa parte de
crebros bem treinados e competentes, que mi-
graram para outros ramos ou se aposentaram,
no tendo havido reposies, pois os egressos
das faculdades de engenharia civil no viam
futuro neste mercado e preferiram migrar, prin-
cipalmente, para as reas de bancos e mercado
de capital.
A globalizao trouxe
melhorias, pois a
competio passou a ser
internacional, obrigando
as empresas nacionais a
evoluir mais rapidamente
para enfrentar a
concorrncia.
REVISTA CONCRETO
9
p
e
r
s
o
n
a
l
i
d
a
d
e
e
n
t
r
e
v
i
s
t
a
d
a
Outro fato negativo foi a imposio de licita-
es de projetos e construes decididas pelo
menor preo, seja por parte de rgos governa-
mentais, seja pela iniciativa privada, o que leva
contratao, o mais das vezes, de empresas
de projetos e de construtores que no tm o
know-how para a construo de uma barra-
gem. Ou, se o tem, no dispem de recursos
sucientes para as investigaes geolgicas e
de tecnologia do concreto que iro embasar o
projeto bsico. O resultado pode ser um projeto
bsico mal formulado, que pode vir a acarretar
custos inesperados e, s vezes, extraordinrios,
durante a construo ou na fase de operao:
as investigaes geolgicas indicam um tipo de
solo, mas, na fase de escavao, foi constatada
composio diferente; ou, no projeto est
especicado um tipo de concreto, mas,
por inexistncia de estudos adequados,
este pode vir a ser composto de agrega-
dos reativos com os lcalis
do cimento, etc. E isso num
contexto em que o contra-
tante quer receber o pro-
duto pronto, conforme as
especicaes, mas no s-
caliza, cando a produo
e o controle de qualidade a
cargo do construtor, o que
representa um conito de
interesses: se o controle
for rigoroso, a produo
cai, os custos aumentam e
corre-se o risco de atrasos e
multas; se o controle no
adequado, cai a qualidade da obra.
A sensvel reduo nos investimentos para
os estudos de viabilidade, para os projetos
bsicos, nos controles tecnolgicos de obra e,
nalmente, nas scalizaes de campo leva, em
determinados casos, a situaes onde algumas
barragens construdas passam a apresentar de-
feitos congnitos, s vezes irreversveis, como
resistncias no conveis, ssuras causadas por
tenses de origem trmica e problemas relacio-
nados com reao lcali-agregado, o que pode
inclusive vir a causar danos ao funcionamento
das peas eletro-mecnicas. Os investidores
ainda no perceberam que, em muitas obras,
acabam gastando mais dinheiro nos consertos
do que despenderiam se tivessem investido
mais em qualidade quando do projeto e da
construo.
A meu ver uma das sadas para mitigar estes
problemas est em:
Primeiro: obrigatoriedade de contratao,
por parte dos proprietrios, de empresas de
engenharia competentes que possam fazer
nos projetos o chamado peer review, ou seja,
revisar de modo independente seus pontos
importantes;
Segundo: obrigatoriedade de contratao
do controle da qualidade da construo
diretamente pelo proprietrio.
IBRACON Quais as tecnologias usadas
nessas usinas?
Selmo Chapira Kuperman As usinas de Jupi
e Ilha Solteira foram pioneiras em uma srie
de novas tecnologias introduzidas no pas no
que diz respeito rea civil. Entre os inmeros
aspectos novos no campo da tecnologia de
concreto encontram-se:
ensaios especiais de laboratrio
para as determinaes de calor
especco, coeciente de dilatao
trmica, difusividade trmica,
elevao adiabtica
de temperatura,
uncia, capacidade de
deformao, coeciente
de permeabilidade;
uso de corpos de prova
de at 45cm de dimetro
e 90cm de altura, entre
outros;
estudos de tenses
de origem trmica
atravs do mtodo dos
elementos nitos e, com
isso, a xao de alturas
de camadas, intervalos
de lanamento entre camadas e
temperaturas de lanamento;
utilizao ampla de concretos
refrigerados e lanados a baixas
temperaturas, chegando em muitos casos
a 7
o
C;
estudos profundos sobre reao lcali-
agregado e uso de materiais pozolnicos
para mitigar a reao, assim como construo
de fbrica de pozolana articial para suprir
as obras;
mtodos de dosagem especcos para
concreto-massa;
uso de novas metodologias construtivas,
tais como: formas deslizantes, esteiras
transportadoras, uso de caambas de grande
capacidade (cerca de 3m
3
) de concreto;
controle completo de qualidade de todos
os materiais utilizados nas obras alm dos
concretos, tais como elastmeros, aos, etc;
este sistema, aliado intensa scalizao de
campo e liberaes de concretagens foi, em
A sensvel reduo nos
investimentos para os estudos
de viabilidade, para os projetos
bsicos, nos controles
tecnolgicos de obra e,
nalmente, nas scalizaes de
campo leva, em determinados
casos, a situaes onde algumas
barragens construdas
passam a apresentar
defeitos congnitos.
seguidos. Entre as tcnicas utlizadas estavam o
concreto bombeado, concreto transportado por
esteiras, espalhamento do concreto com trator
de lminas, vibrao com bateria de vibradores,
formas deslizantes abrangendo reas enor-
mes, concreto expansivo, concreto com bras,
concreto poroso, concretos-massa variados e
concretos estruturais de elevadas resistncias
compresso para poca (cerca de 50MPa), entre
vrios outros aspectos. Os aspectos logsticos de
Itaipu foram to complexos que, em meados da
dcada de 1990, engenheiros do Brasil foram
a China para explicar aos chineses como havia
sido o planejamento construtivo, aspectos do
projeto e outros detalhes que pudessem ser por
eles aproveitados para construo da famosa
hidreltrica de Trs Gargantas.
Em Tucuru, os problemas logsticos eram
de outra ordem de grandeza, pois os gran-
des desaos estavam ligados distncia da
obra aos grandes centros
e ao fato de se trabalhar
pela primeira vez num
grande empreendimento
hidreltrico na regio ama-
znica. Boa parte dos pro-
ssionais que trabalharam
em Tucuru veio de outros
grandes empreendimentos
que havia sido construdos
na dcada de 1970 pela
CESP, Furnas e Cemig. Desta
forma, a mo de obra do
projeto e da construo era
experiente e, apesar da dis-
tncia, pde resolver de maneira bastante
adequada todos os desaos impostos.
Foi utilizada refrigerao no concreto,
a partir de vrios estudos trmicos realizados,
inclusive com variaes signicativas das tempe-
raturas de lanamento nas diversas estruturas.
A reatividade dos agregados foi combatida com
uso de pozolana articial e, posteriormente,
com cimento pozolnico. Novas tcnicas cons-
trutivas foram empregadas, como a ponte de
concretagem, na primeira etapa, e concreto
compactado com rolo, na segunda etapa.
Pode-se dizer que os 8.000.000m
3
de concre-
to lanados esto impecveis. Alm de tudo,
tanto Tucuru quanto Itaipu, contam com um
esquema de instrumentao de auscultao de
primeira grandeza.
IBRACON Quais so os fatores determinantes
na construo de grandes barragens no Brasil
e no mundo?
Selmo Chapira Kuperman Uma das
seu tempo, um precursor do denominado
sistema de qualidade total;
utilizao intensa de instrumentao nas
estruturas de concreto e suas fundaes
com as nalidades de segurana, vericao
do atendimento aos critrios de projeto e
tambm como pesquisa;
uso de idades superiores a 28 dias para
os controles de resistncia dos concretos:
90, 180 e at 360 dias; com isso, a economia
de cimento foi marcante e as ssuraes
trmicas minimizadas;
para que tudo isso fosse vivel, houve
necessidade da construo de um laboratrio
de primeira grandeza e, na poca, foi o da
CESP considerado o mais avanado do pas,
em tecnologia do concreto - este mrito
cabe, atualmente, ao laboratrio de
Furnas, em Gois.
IBRACON Voc partici-
pou tambm dos projetos
de barragens de Itaipu e
Tucuru. Quais as principais
diferenas, em termos de
pesquisa, projeto e tecno-
logias construtivas desses
empreendimentos em re-
lao aos anteriores? Quais
foram os desaos?
Selmo Chapira Kuper-
man Os grandes desaos
de Itaipu estavam ligados
grandiosidade do em-
preendimento. A logstica
teve papel fundamental, assim como a
garantia da qualidade. Anal, numa obra
de 12.600.000m
3
de concreto, onde se
chegou a volumes de concreto mensais prxi-
mos de 300.000m
3
, no poderia haver falta de
materiais de qualidade, testados previamente
e aprovados, caso contrrio o ritmo construtivo
poderia ser afetado, bem como a qualidade
do produto nal Da mesma forma, o projeto
deveria prever, muito tempo antes, os possveis
problemas e estudar suas solues! Novas tcni-
cas foram desenvolvidas, tais como: os primeiros
estudos e aplicaes de concreto compactado
com rolo no Brasil, graas ao apoio de um la-
boratrio de primeira grandeza de tecnologia
de concreto e de estruturas (inclusive com laje
de reao) construdo especialmente para a
usina de Itaipu.
Esta obra utilizou quase todos os tipos de
concreto conhecidos e mtodos construtivos
para que a qualidade fosse a melhor, os pra-
zos, obedecidos, e os projetos, rigorosamente
O controle completo de
qualidade de todos os materiais
utilizados nas obras, alm
dos concretos, tais como
elastmeros, aos, etc, aliado
intensa scalizao de campo e
liberaes de concretagens, foi,
em seu tempo, um precursor
do denominado sistema de
qualidade total.
REVISTA CONCRETO
11
p
e
r
s
o
n
a
l
i
d
a
d
e
e
n
t
r
e
v
i
s
t
a
d
a
softwares baseados no mtodo dos elemen-
tos nitos possibilitam estimar com maior
realismo as variaes de temperaturas nas
barragens e, conseqentemente, melhorar o
controle da ssurao.
IBRACON O CCR ainda a tecnologia mais
avanada na construo de barragens? Quais
suas expectativas para o Simpsio Internacional
Concreto Compactado com Rolo?
Selmo Chapira Kuperman O CCR est hoje
no estgio de uma convergncia de idias, ad-
vindas do uso dessa tcnica e de sua pesquisa
no mundo todo. O Brasil, pelo nmero de obras
construdas em CCR, teve a oportunidade de
testar e aplicar essa tcnica vinda do exterior,
contribuiu para seu aprimoramento. Du-
rante todo esse tempo, houve uma troca
muito frutfera entre os engenheiros bra-
sileiros e os de outros pases.
Atualmente, seja pela fa-
cilidade construtiva, pelo
seu desempenho e pela
economia de custos, nos
estudos de viabilidade de
projeto de construo de
barragens, o CCR uma
das primeiras alternativas
construtivas a ser conside-
radas.
O Simpsio CCR visa justa-
mente trazer para o Brasil
o dilogo que vem acon-
tecendo sobre o concreto
compactado com rolo no
mundo, em simpsios e em congressos rea-
lizados na China, na Espanha, nos Estados
Unidos. No Brasil, o ltimo evento sobre o
CCR aconteceu h dez anos, sendo patrocina-
do pelo IBRACON e pelo Comit Brasileiro de
Grandes Barragens. Por isso, o atual presidente
do IBRACON, Rubens Machado Bittencourt,
viu como oportuna a realizao de um Sim-
psio sobre o CCR no 50 Congresso Brasileiro
do Concreto, a ser realizado em Salvador, em
setembro.
Apesar do pouco tempo que tivemos para orga-
nizar o evento, procuramos convidar experts de
diferentes pases, de diferentes reas do globo,
para que dessem seus depoimentos do que
ocorre com o CCR em cada continente. O obje-
tivo conhecer os diferentes parmetros usados
na aplicao do CCR, gerando um ambiente de
debate que contribua para o aperfeioamento
ainda maior do material, para que as constru-
es tenham seu desempenho melhorado e seu
custo minimizado.
primeiras grandes barragens de concreto
construdas no mundo foi a Barragem de
Hoover, construda na dcada de 30, nos Es-
tados Unidos. Boa parte do que se faz ainda
hoje , em termos de construo de grandes
barragens, originada daquela obra. Claro:
aperfeioado inmeras vezes. Houve mudan-
as: novos equipamentos e novos materiais.
Mas, os princpios construtivos so ainda os
da Barragem de Hoover.
Uma inovao signicativa para a construo
de barragens foi o advento do concreto com-
pactado com rolo (CCR), em 1970, nos Estados
Unidos e no Japo, porque reduziu custos e
prazos. No Brasil, as primeiras experincias com
esta tecnologia foram realizadas em Itaipu. Em
seguida, ele foi usado em So Simo,
em Tucuru, e muitas outras. De 1986,
quando se construiu a primeira barragem
brasileira com CCR, at hoje, foram cons-
trudas aproximadamente
50 barragens no pas com
essa tecnologia.
O CCR, diferentemente
do concreto convencio-
nal, no necessita de vi-
bradores de imerso para
realizar o adensamento
do concreto, pois este
feito por meio de rolos
compactadores. Com eles,
no h necessidade de
paradas na construo: o
concreto lanado con-
tinuamente, agilizando o
processo construtivo. Outra vantagem:
o concreto pode ser lanado em tempo
chuvoso. O resultado um produto
de alta qualidade que propicia rapidez de
construo e signicativas redues de custo
da obra.
Outro fator que vem contribuindo para a cons-
truo de barragens o desenvolvimento de
aditivos, componentes que melhoram a apli-
cabilidade do concreto e suas caractersticas,
trazendo tambm economia e de uso em todo
mundo.
No Brasil, podemos citar ainda a evoluo na
fabricao de cimentos desde a dcada de 70.
Hoje em dia, a indstria cimentcia fornece ao
mercado diversos tipos de cimentos, o que per-
mite que, para cada tipo de estrutura, se utilize
um tipo especial de cimento.
Pode-se ainda citar o uso de softwares sosti-
cados para clculos nos projetos de barragens,
pois possibilitaram melhorar os dimensiona-
mentos com impactos na economia. Vrios
Atualmente, por sua
facilidade construtiva, seu
desempenho e pela economia
de custos, nos estudos de
viabilidade de projeto de
construo de barragens,
o CCR uma das primeiras
alternativas construtivas a
ser considerada.
REVISTA CONCRETo
12
IBRACON Qual a participao da academia
no desenvolvimento da construo de grandes
barragens?
Selmo Chapira Kuperman No Brasil, a
contribuio da academia para a evoluo
construtiva de barragens muito reduzida.
Seja porque sua funo principal a forma-
o de engenheiros, no dar apoio cons-
truo de usinas e barragens. Seja porque a
formao do professor no busca a aproxi-
mao da academia com o mercado, devido
dedicao exclusiva. Acredito que deveria
se abrir uma brecha para que os profissio-
nais no-doutores pudessem contribuir com
a formao dos engenheiros, por meio de
cursos especiais, pois os engenheiros saem da
graduao sabendo muito pouco sobre
a estrutura de uma barragem.
Praticamente, todo o conhecimento se
desenvolve em campo. Os desaos de
campo impem a busca
de alternativas construti-
vas obtidas por meio da
contratao de empresas
de consultoria e de enge-
nheiros com larga expe-
rincia na construo de
barragens.
No incio da construo
das grandes barragens
brasileiras, os engenhei-
ros responsveis foram
tutelados por especialis-
tas estrangeiros. Quando
comearam a ser constru-
das Jupi, Ilha Solteira, Itumbiara e
So Simo, no havia ainda um know-
how inteiramente nacional, ento as
empresas trouxeram vrios consultores es-
trangeiros, que vinham aqui periodicamen-
te, sugerindo diversas solues baseadas
em suas experincias. Mesmo no controle
de qualidade por meio de ensaios e labora-
trios, na rea de tecnologia do concreto,
onde a academia poderia ter contribudo, o
que se observava que os laboratrios de
campo das grandes barragens eram muito
melhor equipados que os laboratrios das
universidades.
Hoje, no h mais essa necessidade de trazer
especialistas de fora, pois vrios especialistas
brasileiros tornaram-se consultores interna-
cionais no campo da hidrulica, da geotecnia,
da tecnologia de concreto, entre outros. Por
outro lado, recentemente tem havido uma
cooperao entre as empresas de gerao de
energia eltrica e as universidades no campo
da pesquisa de problemas que afetam barra-
gens e outras estruturas, como, por exemplo,
nos estudos sobre as reaes lcali-agregados,
que afetam barragens, mas tambm edifcios,
pontes, viadutos, tneis e por a afora. Essa
cooperao vem de uma regulamentao
da Agncia Nacional de Energia Eltrica
ANEEL que obriga as empresas de energia a
investirem parte de seu faturamento anual
em pesquisa e desenvolvimento. Parte des-
sas pesquisas resulta em melhoria na prpria
construo de barragens ou na manuteno
de barragens existentes.
IBRACON O Governo Lula decidiu por
aproveitar o potencial hdrico da Amaznia.
Dois projetos de usinas hidreltricas j
foram licitados no rio Madeira Santo
Antnio e Jirau e o prximo ser a
usina de Belo Monte, no rio Xingu.
Qual sua expectativa em
relao qualidade des-
sas construes e ao seu
i mpacto ambi ental na
Amaznia?
Selmo Chapira Kuper-
man So duas usinas
hidreltricas portentosas,
que demandaro volumes
enormes de concreto, e
com impactos ambientais
grandes, porm j perfei-
tamente equacionados,
e que esto sendo estu-
dadas h muitos anos.
Acredito que elas tenham os estudos
geolgicos, geotcnicos e de concreto
necessrios para um bom projeto bsi-
co. E, alm disso, as empresas que ganharam
os leiles so grupos com grande experincia
em construo de usinas, sabem como as
obras devem ser tocadas. Por isso, no tenho
o menor temor quanto qualidade da cons-
truo e da operao dessas usinas.
Com relao aos impactos ambientais, creio
tambm que esto bem dimensionados e
minimizados. Tenho acompanhado a cons-
truo de outras usinas de porte em outras
regies do pas e noto que os impactos
ambientais dessas usinas foram minimiza-
dos, tudo o que foi pedido para mitigar o
impacto, nas populaes vizinhas, na sa-
de, na navegao, na educao, em relao
s populaes indgenas, foi cumprido. Os
grupos que iro construir Santo Antnio e
Jirau tm tradio em lidar com a questo
do impacto ambiental.
Deveria se abrir uma brecha
para que os prossionais
no-doutores pudessem
contribuir com a formao
dos engenheiros, por meio
de cursos especiais, pois os
engenheiros saem da
graduao sabendo muito
pouco sobre a estrutura
de uma barragem.
REVISTA CONCRETO
13
p
e
r
s
o
n
a
l
i
d
a
d
e
e
n
t
r
e
v
i
s
t
a
d
a
IBRACON To importante quanto construir
barragens ter o controle de operao e de
manuteno delas. Esse controle e manuten-
o so satisfatrios no pas? O que precisa
ser feito para melhorar o programa de ma-
nuteno de barragens pelo pas?
Selmo Chapira Kuperman preciso fazer
uma diviso: as barragens de usinas hidrel-
tricas e as barragens para outras finalidades.
As barragens das usinas hidreltricas, na
grande maioria dos casos - eu no conheo
todas - ao menos, as UHEs (Grandes Usinas
Hidreltricas) tm programas de manuten-
o de primeiro mundo, que so exemplos
mundiais, como o caso das usinas de CESP,
de FURNAS, da ELETRONORTE, da CHESF, da
COPEL, da CEMIG, entre outras. Isto
porque a ANEEL exige que o propriet-
rio apresente todo ano, se no me en-
gano, um relatrio sobre as condies
dessas barragens, assim
como envia inspetores
para avaliar as condies
dessas barragens. O mes-
mo no ocorre para as
PCHs (Pequenas Centrais
Hidreltricas): para parte
delas, principalmente as
antigas, os programas
de manuteno so ru-
di mentares e dei xam
a desejar.
Por outro lado, nas bar-
ragens para outros usos
para abastecimento de
gua, principalmente a realidade
calamitosa em partes do pas. Todos os
anos ocorrem rupturas de barragens de
pequeno porte ou audes no Brasil, em nme-
ro muito alto. Esses dados so compilados e
divulgados por uma comunidade de barra-
geiros, na Internet, chamada Dam Safety.
Uma das solues para essa situao pode
estar na aprovao de um projeto de lei em
tramitao no Congresso Nacional sobre Se-
gurana de Barragens, porque vai obrigar os
proprietrios a cuidar das barragens sob pena
de multas e crimes ambientais. o projeto
de lei 1181 de 2003. Ele estabelece a Poltica
Nacional de Segurana de Barragens, cria o
Conselho Nacional de Segurana de Barra-
gens e o Sistema Nacional de Informaes de
Segurana de Barragens. Atualmente, Minas
Gerais possui uma lei estadual que pune os
proprietrios de barragens que no cuidarem
adequadamente de sua propriedade. Essa
lei foi implantada depois do rompimento
de diversas barragens de rejeitos minerais
no estado e das situaes calamitosas que
provocaram.
IBRACON Voc foi presidente do IBRACON.
Qual a importncia do instituto para o setor
de construo civil, especialmente nessa po-
ca de retomada do setor no Brasil?
Selmo Chapira Kuperman O IBRACON
fundamental para o setor nacional de
construo civil porque o frum onde o
conhecimento sobre o concreto debatido,
onde os engenheiros podem recorrer para
buscar know-how. Ele o plo concentrador
de informaes tcnicas e tem prestado este
servio h muitos anos, a duras penas. Como
hoje as obras esto sendo geridas por
engenheiros recm-egressos das facul-
dades e a transmisso de conhecimentos
da antiga para a nova gerao no foi
satisfatria no passado
(o campo das barragens
um exemplo deste pro-
blema, embora exista uma
quanti dade enorme de
publicaes a respeito), o
IBRACON fundamental
para os profissionais jo-
vens, pois onde devem
buscar as referncias para
no cometer os erros que
ns cometemos quando
estvamos no incio de car-
reira. Por isso, o IBRACON
deveria receber um maior
apoio das empresas, que assim estaro
investindo na qualidade e na economia
das construes e na formao adequada
dos engenheiros mais jovens.
IBRACON O senhor recebeu recentemen-
te o ttulo de scio honorrio do American
Concrete Institute (ACI). Como foi receber a
homenagem? Qual seu valor simblico em
sua carreira prossional?
Selmo Chapira Kuperman Receber a ho-
menagem foi emocionante. Foi um ttulo que
no esperava e que presta uma homenagem
no somente a mim, mas, principalmente,
engenharia nacional e ao IBRACON, porque
o Instituto Brasileiro do Concreto interna-
cionalizou-se, passou a ter mais interao
com as entidades congneres mundiais e,
especialmente, com o ACI. Receber a home-
nagem me diz, especialmente, que estou na
direo certa, no caminho certo, e que devo
prosseguir.
Todos os anos ocorrem
rupturas de barragens de
pequeno porte ou audes
no Brasil, em nmero
muito alto. Uma das
solues pode estar no
projeto de lei 1181.
REVISTA CONCRETo
14
Cimento: mais, melhor e mais
barato com uso de aditivos
Manfredo Belohuby
Sika Brasil S/A
Resumo
A indstria de cimento vem apresentan-
do um rpido crescimento em todo o mundo.
Em 2005, a produo mundial alcanou a marca
de 2,27 bilhes de toneladas, distribudos con-
forme o grco 1.
A produo de cimento vem apre-
sentando um ritmo de crescimento bastante
intenso, considerando dados mundiais. O
crescimento verificado entre 1998 e 2005
foi de, aproximadamente, 80%. Os maiores
produtores mundiais de cimento so, pela
ordem: China, ndia, EUA, Japo, Coria
e Espanha.
No Brasil, vivemos um perodo bastante
produtivo at 1999, ano em que superamos os
40 milhes de toneladas. Em virtude da reces-
so vivida logo aps, a produo de cimento
no Brasil apresentou declnio, chegando a
registrar somente 33 milhes de toneladas
em 2003/2004, voltando a crescer aps 2005.
Em 2006, a produo voltou ao nvel de 41,6
milhes de toneladas, o que coloca o Brasil
novamente no patamar dos maiores produtores
mundiais de cimento.
Como toda atividade econmica, prin-
cipalmente aquelas ligadas com a extrao e
beneciamento de recursos naturais, as preocu-
paes da indstria do cimento voltam-se para
as questes de sustentabilidade, procurando
formas de racionalizar a expanso da produo
com os cuidados relativos ao meio-ambiente.
Dessa forma, a produo de cimentos compos-
tos ganha cada vez mais importncia, uma vez
REVISTA CONCRETO
15
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
que procura reduzir a necessidade de extrao
de minrio, bem como diminuir a emisso de
CO
2
resultante do processo de produo do
clnquer, substituindo-o por alternativas como
escria de alto-forno, cinzas volantes ou ller.
A produo de cimentos compostos em
nvel mundial pode ser observada no grco 2.
Verica-se, pelo grco 2, que somen-
te 34% da produo mundial de cimento so
cimentos puros, sendo que esta proporo
encontra-se em ritmo de queda acelerada. Por
outro lado, 66% dos cimentos produzidos so
compostos, cimentos estes que apresentam
quase sempre a necessidade de algum produ-
to complementar para atingir a performance
requerida.
A produo de cimento tipo I vem dimi-
nuindo na Europa e em outros mercados, e esta
queda ser intensicada pelos prximos anos
at 2012, com a implementao do European
Union Grenhouse Gas Emission Trading Sche-
me, de acordo com o Protocolo de Kyoto.
Esta tendncia tambm se observa no
Brasil, onde os cimentos Portland tipos I e V re-
presentam menos de 8% da produo total, e os
cimentos compostos tipos II, III e IV representam
ampla maioria (fonte: SNIC 2006).
Cimentos produzidos com uma elevada
substituio de clnquer esto continuamen-
te ganhando participao no mercado. Isto
vem ocasionando maiores desaos, no que
concerne produo, desenvolvimento de
resistncias do produto nal e cuidados com
o meio-ambiente, traduzindo-se por uma pres-
so interna sobre a indstria cimenteira para
a reduo gradual do uso de matrias-primas
nobres, reduo de custos e uso sustentvel
das fontes energticas, somada a uma pres-
so externa para o aumento da qualidade do
produto e cuidados ambientais.
Aditivos para moagem
Cerca de 36% do consumo energtico
total de uma planta de produo de cimento
destinado moagem, enquanto 30% destina-se
produo de clnquer.
O uso de aditivos para moagem por
parte da indstria cimenteira uma tentati-
va de agir justamente nestes pontos crticos,
contribuindo decisivamente para a produo
de cimentos de elevada qualidade, de forma
rentvel e, ao mesmo tempo, atendendo s
necessidades de proteo ambiental.
Os aditivos para moagem atuam em trs
frentes principais, quais sejam:
melhorando a ecincia do processo de
moagem, resultando em aumento do
volume de produo e conseqente
reduo no consumo de energia;
melhorando a qualidade do produto nal,
originando novos produtos e permitindo
um aumento na substituio de clnquer;
satisfazendo necessidades especcas
relativas a ecologia e meio-ambiente, pela
reduo da energia necessria moagem e
reduo do consumo de energia necessrio
produo de clnquer, reduzindo
REVISTA CONCRETo
16
tambm as emisses de CO
2
resultantes
destes processos.
A gura 1 ilustra as oportunidades resul-
tantes para os fabricantes de cimento atravs
do uso de aditivos para moagem.
Os aditivos para moagem atualmente
em uso tm como principais caractersticas:
permitir ganhos de produtividade (t/h),
atravs da facilitao do processo de
moagem e do controle da re-aglomerao
das partculas namente modas;
proporcionar ganhos de resistncias
iniciais, nais ou ambas;
proporcionar reduo dos tempos de pega
do cimento.
Alguns aditivos para moagem oferecem
como caracterstica adicional uma melhora na
uidez do cimento. Isto torna-se importante,
sobretudo, porque facilita o transporte do
cimento, evitando entupimentos e obstrues
de tubulaes, e para a estocagem do produto
acabado, possibilitando um aumento da capaci-
dade de estocagem dos silos atravs da melhor
acomodao do cimento.
Tipos de aditivos
Os aditivos para moagem so tradicio-
nalmente divididos em duas categorias princi-
pais: os agentes de moagem propriamente ditos
e os melhoradores de performance.
Basicamente, os aditivos de moagem
propriamente ditos agem de forma a impedir
a re-aglutinao das partculas namente
REVISTA CONCRETO
17
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
modas, aumentando assim a capacidade
do separador e impedindo que as partculas
modas e re-aglutinadas retornem ao moinho
como partculas grossas ou no devidamente
modas. Alm disso, os aditivos previnem a
formao do coating dos corpos moedores
e do interior do moinho, ou seja, a xao de
p de cimento namente modo nas superf-
cies que promovem a moagem, aumentando
assim a ecincia do sistema.
O aumento da ecincia do sistema
como um todo se reete de forma direta
no aumento da produtividade (t/h) e, con-
seqentemente, na reduo do consumo
energtico.
Os aditivos de moagem proporcionam
ganhos de produtividade em torno de 10 a
20%, mantidas as caractersticas do cimento
e dos equipamentos de moagem.
J, os aditivos melhoradores de per-
formance reagem quimicamente com o
cimento, de forma a melhorar caractersti-
cas como: resistncias iniciais, resistncias
finais, incio e fim de pega. Alguns aditivos
melhoradores de performance proporcionam
ganhos de at 5 MPa nas resistncias iniciais
(1 a 3 dias) ou finais (28 dias), para cimen-
tos com mesma finura Blaine. Os tempos de
pega podem ser diminudos drasticamente, o
que resulta extremamente importante para
cimentos com altos teores de escria, como
os do tipo CP-III.
Estes aditivos permitem a produo
de cimentos especiais a partir de cimentos
bsicos. Permitem, tambm, a substituio
de uma quantidade maior de clnquer por
adies de custo menor, proporcionando
ganhos expressivos, tanto no que se refere a
custos de matria-prima, assim como menores
emisses de CO
2
, dada a menor necessidade
de produo de clnquer.
Concluso
Os aditivos de moagem so largamente
utilizados em todo o mundo e passam a ser
cada vez mais procurados tambm no Brasil.
As pesquisas avanam na busca por produtos
cada vez mais ecientes, de forma a atender
um mercado cada vez mais exigente, chegan-
do inclusive produo de matrias-primas
especcas para esta nalidade por parte das
indstrias qumicas.
Dadas as caractersticas muito diferentes
encontradas em nosso pas, tanto no que con-
cerne a matrias-primas, jazidas e equipamen-
tos disponveis, o desenvolvimento de aditivos
especiais, feitos sob medida para atender os
requisitos de cada produtor, torna-se, sem d-
vida, um diferencial importante. Know-how
especco e assistncia tcnica contnua so
diferenciais a serem analisados pelo produtores
de cimento na escolha de seus fornecedores.
O objetivo nal da indstria do cimento
e dos fornecedores de aditivos a mesma: pro-
duo de mais cimento, de melhor qualidade, e
da forma mais econmica, preservando sempre
o meio-ambiente.
REVISTA CONCRETo
18
O Instituto Brasileiro do Concreto -
IBRACON realiza a Cinqentenria edio do
Congresso Brasileiro do Concreto, em Salvador,
Bahia, de 4 a 9 de setembro de 2008. Maior
frum nacional e latino-americano de debates
sobre o concreto e suas aplicaes em obras
civis, o evento objetiva discutir e difundir as
pesquisas e tecnologias construtivas para a
cadeia da construo civil.
A marca do Congresso Brasileiro do
Concreto a diversidade de acontecimentos
tcnico-cientcos realizados simultaneamente.
Esto previstas para o 50 CBC 2008:
413 palestras tcnico-cientcas, onde as
pesquisas em andamento nas universidades
e institutos de pesquisa nacionais e
latino-americanos so apresentadas
aos participantes;
2 Painis de Temas Controversos, que
debatero temas atuais e polmicos do
mercado de construo;
11 Conferncias Plenrias, proferidas
por renomados especialistas de empresas e
universidades nacionais e estrangeiras,
sobre seus ramos de atuao;
Workshop sobre Pavimentos de Concreto
(PAV 2008): apresentar as tcnicas
nacionais e internacionais para a execuo,
controle e manuteno de pisos industriais
e pavimentos de concreto;
3 Concursos Estudantis: competies entre
os estudantes de engenharia e arquitetura
em torno da elaborao de um prtico e
de uma bola de concreto e de um
pr-projeto arquitetnico;
Cursos de Atualizao Prossional sobre
as tecnologias construtivas, ministrados
por prossionais diretamente envolvidos
com o assunto;
Simpsio sobre Concreto Compactado
com Rolo (RCC 2008): apresentar as
pesquisas e aplicaes com o RCC nos
cinco continentes;
IV Feira de Produtos e Servios para a
Construo, onde os participantes podem
se atualizar sobre os produtos e servios
oferecidos pelas empresas do setor;
Palestras Tcnico-Comerciais:
apresentaes formais dos produtos e
servios expostos na Feira;
Visitas tcnicas programadas: congressistas
tm a chance de conhecer obras
emblemticas de Salvador;
Reunies Institucionais: diretores do
Instituto renem-se para planejar suas
atividades anuais.
Uma maratona do saber, onde participam
estudantes, pesquisadores, professores, tcnicos,
projetistas, tecnologistas, vendedores tcnicos,
engenheiros em geral, marqueteiros, empresrios,
construtores, fornecedores, funcionrios pblicos
e outros agentes da cadeia da construo.
As inscries esto abertas. Valores
promocionais para quem se inscrever pelo site
at o dia 20 de agosto.
Mais informaes: www.ibracon.org.br
IBRACON vai comemorar o
50 Congresso Brasileiro
do Concreto em Salvador
Elevador Lacerda Salvador, Bahia
REVISTA CONCRETO
19
A
C
O
N
T
E
C
E
n
a
s
r
e
g
i
o
n
a
i
s
Num espao de 28,4
mil m
2
, a Feira Brasilei-
ra das Construes em
Concreto (FEIBRACON)
vai trazer ao pblico as
novidades em termos de
produtos, equipamentos,
tecnologias e sistemas cons-
trutivos base de concreto.
Sero 70 estandes de ex-
posio, onde as empresas
tm a chance de estreitar
seu relacionamento com os
clientes, pela apresentao
tcnica de seus produtos e
servios e pela realizao de
demonstraes prticas.
A I V FEI BRACON
ser aberta ao pblico e
acontecer no 2 piso do
Centro de Convenes
da Bahia, considerado o melhor centro de con-
venes do Nordeste brasileiro. A participao
na feira permite s empresas patrocinadoras e
expositoras a deduo no Imposto de Renda,
pois o evento se enquadra no programa do
Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento Cient-
co e Tecnolgico. Informe-se sobre os espaos
de venda: 11-3735-0202.
Palestrantes Internacionais
Esto conrmadas as presenas e pales-
tras nas Conferncias Plenrias Internacionais
do 50 Congresso Brasileiro do Concreto:
Brian Forbes (GHD, Austrlia):
RCC Desenvolvimento e Inovao
Charles Nmai (BASF, EUA): O impacto
do uso de aditivos superplasticantes na
execuo de concretos protendidos e
pr-fabricados.
Daniel Cusson (National Research Council
of Canada/ University of Sherbrooke,
EUA): A cura interna no concreto de alto
desempenho de pontes
Julie M. Vandenbossche (Universidade
de Illinois em Urbana-Champaign, EUA):
Projeto, construo e aplicaes em
Whitetopping ultradelgado A experincia
dos EUA
Joaqun Dez-Cascn Sagrado
(Universidade de Cantabria, Espanha)
Johann Geringer (Department of Water
Affairs and Forestry, frica do Sul)
Kumar Mehta (Universidade da
Califrnia em Berkeley; EUA)
Mark Snyder (Universidade de Pittsburg,
EUA): 100 anos de pavimentao nos
Estados Unidos
Paulo Monteiro (Universidade da
Califrnia em Berkeley, EUA):
Caracterizao da Nanoestrutura e
Microestrutura do Concreto para a
Otimizao de sua Durabilidade
Per Fidjestol (Elkem Materials, Noruega):
A histria da slica no concreto da
novidade de seu surgimento para tornar-se
um componente-chave no concreto de alto
desempenho
Shigeyoshi Nagataki (Instituto de
Tecnologia Aichi/Instituto de
Tecnologia de Tkio, Japo)
Surendra Shah (Center for Advanced
Cement-Based Materials/Northwestern
University, EUA): A aplicao
da nanotecnologia
para o avano do concreto
Theodore Strobl (Universidade de
Tecnologia de Munique, Alemanha)
Timothy P. Dolen (U.S. Bureau of
Reclamation, Denver, EUA)
As palestras contaro com traduo
simultnea.
FEIBRACON
Farol da Barra Salvador, Bahia
REVISTA CONCRETo
20
O setor da construo civil tem desenvol-
vido aes para minimizar seu impacto sobre o
meio ambiente: estudos de comportamento dos
resduos de construo e demolio incorporados
ao concreto; adoo de novas tecnologias na
linha de produo de cimento, que diminuem o
consumo de energia e a emisso de gases do efeito
estufa; utilizao de concretos de maior resistncia
e melhor desempenho, que garante a construo
de obras com maior vida til; entre outras.
O IBRACON convida os prossionais a en-
viarem resumos de trabalhos tcnicos e cientcos
sobre sustentabilidade na construo civil, para sua
apresentao no IX Seminrio de Desenvolvi-
mento Sustentvel e Reciclagem na Constru-
o Civil, nos dias 16 e 17 de junho de 2009.
A sociedade tem mostrado uma viso ho-
lstica quando se trata de crescer para atender as
necessidades bsicas da humanidade. Hoje, tanto
a iniciativa privada como a academia e o poder
pblico j entendem que o desenvolvimento no
pode ter seu foco apenas no aspecto econmico,
La Asociacin Argentina de Tecnologa
Del Hormign AATH realizar su III Congreso
en la Ciudad de Crdoba, de 29 al 31 de octu-
bre de 2008, con el objetivo de difundir, discutir
y poner en conocimiento de la comunidad los
nuevos avances y desarrollos sobre tecnologa
del hormign, logrados en el mbito nacional,
regional e internacional.
TEMARIO
Cementos y hormigones basados en el
desarrollo sustentable
Hormigones especiales
Hormigones destinados a viviendas
de bajo costo
Prefabricacin
Nuevas tecnologas aplicadas en la
ejecucin de obras de hormign
IX Seminrio Desenvolvimento
Sustentvel e Reciclagem na
Construo Civil
III Congreso Internacional de la Asociacin
Argentina de Tecnologa del Hormign
anal de contas, geraes futuras vo se lembrar
de ns como a gerao que fez a diferena ou
como a que destruiu o planeta, pondera o coor-
denador do evento, professor Salomon Levy.
Envie seu resumo para o Comit
Meio Ambiente (CTMAB) do IBRACON, at o
dia 30 de outubro de 2008, atravs do site:
www.ibracon.org.br, sobre os seguintes temas:
Eco-ecincia e Green Buildings;
A contribuio do concreto para o
Desenvolvimento Sustentvel;
Resduos slidos e Meio Ambiente:
Indstria, Minerao e Construo Civil;
Gesto ambiental e Polticas pblicas na
construo civil;
Estudo de caso em Gerenciamento de RCD;
Tecnologia dos materiais e a sustentabilidade
Aquecimento global e Mecanismo;
Desenvolvimento Limpo na engenharia civil
O IX Seminrio de Desenvolvimento
Sustentvel vai acontecer no Instituto de En-
genharia, em So Paulo.
Aseguramiento de calidad y tcnicas de
evaluacin utilizadas en el campo de la
tecnologa del hormign
Experiencias de obras civiles y de laboratorio
desarrolladas con materiales regionales
Modelos predictivos de la vida til de
estructuras de hormign
Evaluacin de patologas y reparacin de
estructuras de hormign y del patrimonio
arquitectnico
Otros temas de inters del campo de la
tecnologa del hormign
Lugar de realizacin: Facultad Regional Crdoba
de la Universidad Tecnolgica Nacional.
Organizacin y Secretara: Asociacin Ar-
gentina de Tecnologa del Hormign (AATH)
Avenida Corrientes 2438, 4to. piso, D, Telefax
54-11-49526975 e-mail: aath@aath.org.ar -
http://www.aath.org.ar
REVISTA CONCRETO
21
A
C
O
N
T
E
C
E
n
a
s
r
e
g
i
o
n
a
i
s
O MC-Frum Paran apresentou a
realidade nacional e mundial do concreto
auto-adensvel. O evento, ocorrido em 29
de maio ltimo, contou com a seguinte
programao:
Eng. Cesar Henrique Sato Daher
(DAHER Tecnologia): Parmetros
para Dosagem do Concreto
Auto-Adensvel;
Eng. Jorge Christfolli (Sita
Concrebrs): O Concreto
Auto-Adensvel em Obras Diversas;
Eng. Sandro Eduardo S. Mendes
(UTFPR): O Concreto Auto-Adensvel
para Pr-Fabricados;
Eng. Dr. Tomas Sieber (MC-Bauchemie
Alemanha): Dosagem e Aplicao do
Concreto Auto-Adensvel nos Padres
Europeus;
Eng. Shingiro Tokudome
(MC-Bauchemie Brasil): Aditivos
para Concreto Auto-Adensvel.
Participaram 90 pessoas, entre prossio-
nais e estudantes.
Organizado pela MC-Bauchemie e pela
Diprotec, o evento teve o apoio do IBRACON-
PR, do Ncleo de Qualidade do Instituto de
Engenharia do Paran (IEP), da Concrebrs e da
Universidade Tecnolgica do Paran (UTFPR).
Dr. Thomas Siber (MC-Bauchemie Alemanha) proferindo
palestra sobre a realidade do CAA na Europa.
Setor construtivo discute
obras logsticas e industriais
Regional IBRACON Paran
apresenta panorama sobre
concreto auto-adensvel
A retomada do crescimento econmico
brasileiro fez aumentar a importncia das obras
logsticas e industriais. Para debater seu mer-
cado, a qualidade e a produtividade, a impor-
tncia dos pisos nesse segmento e a demanda
por capacitao tcnica, a LPE Engenharia est
organizando o 1 Seminrio Obras Logs-
ticas e Industriais: uma viso de valor, em
comemorao aos seus 15 anos de atividade.
A abertura do evento acontece dia 6 de
julho, no Club Transatlntico, em So Paulo, com par-
ticipao do vice-presidente do IBRACON, Prof. Paulo
Helene. Esto programadas as seguintes palestras:
Wagner Gasparetto LPE Engenharia:
Mercado de pisos e marketing de servios;
Alessandro C. Cezar Mecalux do Brasil:
Sistemas logsticos de alta produtividade;
Pblio Penna Firme Rodrigues LPE
Engenharia: Evoluo das tcnicas de
projeto e execuo de pisos;
Lus Augusto Milano Matec:
Gerenciamento de obra e garantia
da qualidade;
Daniel Fernandez Sika: Necessidades
das obras industriais;
J. R. Braguim ABECE: Qualidade
em projetos;
Cludio Borges Dumont Engenharia:
Pavimentos de concreto aeroporturios;
Lucio Vitor Soares WTorre
Empreendimentos Imobilirios:
Necessidades e exigncias dos clientes Uso
da engenharia para o sucesso em obras.
Mais informaes: www.lpe.eng.br.
REVISTA CONCRETo
22
O uso da calorimetria como
uma tcnica de controle
tecnolgico de materiais
P. Sandberg e H. Benini
Grace Construction Products
Resumo
Este artigo discute o uso da calorimetria
como teste de rotina no controle da qualidade
do concreto recebido e suas possveis aplicaes
em campo.
Introduo
O controle de qualidade durante a
produo, transporte e aplicao do concreto
crtico para assegurar o desempenho deste
material. Inmeros testes de controle de quali-
dade foram desenvolvidos e so rotineiramente
aplicados para controle em campo da qualidade
do concreto lanado, incluindo determinao
do abatimento, teor de ar incorporado e re-
sistncia mecnica. Contudo, existem atual-
mente novos mtodos de monitoramento da
hidratao do cimento
realizado nos concretos
coletados em campo
que podem fornecer
informaes precisas
do comportamento no
perodo crtico corres-
pondente s primeiras
horas aps a aplicao
do concreto.
A hi dratao
de materiais cimen-
t ci os em concretos
resultado de uma
somatria de reaes
qumicas exotrmicas
dos compostos do cimento, liberando ca-
lor. O monitoramento da hidratao pode
ser medido como total de calor acumulado
(pela variao da temperatura) ao longo
do tempo. Pesquisas utilizando esta tc-
nica, realizadas por W. Lerch, em 1946, j
demonstravam que a taxa de liberao de
calor pela hidratao depende grandemen-
te da composio qumica e caractersticas
fsicas do cimento, presena de materiais
cimentcios suplementares (SCM) e mais re-
centemente dos aditivos qumicos utilizados.
Tanto a dosagem dos materiais quanto as
condies de cura so variveis que devem
ser consideradas. Desvios em quaisquer des-
tes constituintes do concreto, quantidade
ou caracterstica, so facilmente detectados
pelo monitoramento do calor de hidratao
nas primeiras idades.
Calor de Hidratao
O calor de hidra-
tao pode ser determi-
nando por vrios mto-
dos. Tradicionalmente,
determinado pelo ca-
lor de soluo segundo
ASTM C 186 ou pela de-
terminao do calor de
hidratao pela Garrafa
de Langavant. Mais re-
centemente, os uso do
teste do calormetro
pelo monitoramento
do calor de hidratao
REVISTA CONCRETO
23
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
pelo tempo tem sido freqentemente adotado
preferencialmente em laboratrios e centros
tecnolgicos.
Considerando desde um ponto de vista
puramente terico, existem dois principais
tipos de testes de calorimetria: isotrmico e
adiabtico. Na calorimetria isotrmica, o calor
de hidratao medido pela determinao do
uxo de calor da amostra, enquanto a amos-
tra e o ambiente no qual est inserida so
mantidos em temperaturas aproximadamente
constantes. Em um teste em calormeto adia-
btico, o calor de hidratao medido pelo
monitoramento do uxo de calor da amostra,
enquanto esta mantida sobre uma condio
de isolamento trmico ideal com mnima perda
de calor para o ambiente. Na medida em que
um sistema isotrmico ou adiabtico perfeito
quase impossvel de se obter sem o uso de
equipamento e ambientes bastante delicados
e de altssimo custo, o uso de teste de calor-
metro semi-adiabtico apresenta-se como uma
aproximao adequada para ns prticos de
aplicao sendo adotada com sucesso.
Na Figura 1, mostrado equipamento
semi-adiabticos para uso em campo.
Na Figura 2, apresentada uma curva
tpica de hidratao do cimento Portland, divi-
dida em cinco etapas.
Etapa I Pr-induo
(primeiros minutos)
Imediatamente aps o contato do
cimento com a gua, uma rpida dissoluo
inica de ons de Na
+
, K
+
, Ca
2+
, OH
-
, SO
4
2-
pre-
sente no cimento solubiliza completamente nos
primeiros segundos com formao simultnea
dos primeiros hidratos. O cimento dissolvido
e reage com os ons de Ca
2+
e SO
4
2
presentes na
fase lquida, formando a etringita, que tambm
se precipita na superfcie da partcula de cimen-
to (1). Este estgio dicilmente totalmente
medido por calorimetria devido ao perodo
muito curto de reao
Etapa II: Perodo de induo
/dormncia (primeiras horas)
Durante este estgio at o incio do
perodo de acelerao o comportamento dos
materiais cimentcios determinado, par-
ticularmente, quanto s suas propriedades
reolgicas e de pega. A curva de liberao
de calor de hidratao nesta etapa pratica-
mente nula, correspondendo ao estado fresco
do concreto. medida que a dissoluo dos
ons continua com o tempo, a concentraao
de C
3
S precipitado aumenta, representando o
trmino do perodo de dormncia e iniciando
o estgio 3.
Etapa III: Perodo de acelerao
(3-12 h aps a mistura)
Neste perodo, vrios hidratos atingem
a condio de supersaturao, o progresso da
hidratao acelerado novamente e torna-se
controlado pela nucleao e crescimento dos
produtos de hidratao, com rpida formao
de C-H e C-S-H. A taxa de hidratao do C
3
S au-
menta e C-S-H, ou segundo estgio, comea
a ser formado. Quantidades signicativas so
formadas dentro de 3 h e os gros apresentam-
se totalmente cobertos aps 4 h. As camadas
internas crescem externamente e, em aproxima-
damente, 12 h possuem a espessura de 0,5-1,0
m, estgio tambm conhecido como ponto
de coeso, coincidindo com a taxa de liberao
mxima, que corresponde aproximadamente
ao trmino da pega. A estrutura interconecta-
da das camadas considerada importante na
denio das propriedades mecnicas e outra
propriedades, tambm dependentes da distri-
buio de partculas e cimento (2).
REVISTA CONCRETo
24
Etapa IV e V: Perodo de
ps-acelerao (aps 12 h)
Neste perodo, a taxa de hidratao
diminui gradualmente, uma vez que a quanti-
dade de material a reagir diminui e a taxa de hi-
dratao passa a ser controlada pela difuso.
A fase C-S-H continua a ser formada
atravs da contribuio da hidratao con-
tnua de C
2
S e C
3
S. A contribuio do C
2
S au-
menta com o tempo e como conseqncia a
taxa na qual o hidrxido de clcio formado
diminui. Com a contnua diminuio da per-
meabilidade da camada hidratada formada,
C-S-H comea a depositar-se internamente,
e o crescimento da superfcie em direo ao
ncleo anidro ocorre mais rapidamente que
a reao da alita (3).
Calormetro de Campo
Atualmente uma grande quantidade
de dados utilizando tnicas de calorimetria
descrita por laboratrios de pesquisa na
investigao dos efeitos da hidratao de
distintos materiais cimentcios e suas intera-
es/compatibilidade com aditivos qumicos
(4). Contudo, no so encontrados muitos
resultados de testes em aplicaes reais em
campo medindo o comportamento do mate-
rial durante o uso.
1
ASTM C1679 Pratice for Measuring Hydration Kinetics of Hydraulic Cementitious Mistures using
Isothermal Calorimetry projeto de norma em consulta pblica, enquanto o subcomit C09.48 estuda
a proposio do mtodo considerando o uso de calormetros semi-adiabtico.
Uma das justicativas o fato dos calor-
metros em sua maioria serem equipamento de
alto custo e complexo para seu uso em obra;
adicionalmente, um teste adiabtico tradicio-
nal pode levar mais de uma semana para ser
nalizado, alm dos resultados serem de pouca
praticidade quanto a sua interpretao. Outra
preocupao, j em estudo por comisses de
normas nos Estados Unidos, a padronizao
de procedimento e equipamentos que permita
a realizao de testes com repetibilidade e con-
abilidade adequada
1
. Como forma de popula-
rizar o uso desta tcnica como teste de rotina de
controle da qualidade do concreto, necessria
a oferta de equipamento de menor custo, ro-
busto e simples para operao em campo e que
fornea resultados fcil interpretao.
Uma curva tpica obtida em um calor-
metro semi-adiabtico e a representao do
fenmeno fsico associado hidratrao do
cimento mostrada na Figura 3.
possvel de uma forma geral interpre-
tar a curva de hidratao da amostra, verican-
do os pontos assinalados acima, como:
a) Incio do ensaio, coleta do concreto e
adio no porta-amostras;
b) Ajustes iniciais de equalizao da
temperatura do concreto comparado a
temperatura do equipamento;
c) Temperatura do concreto coletado;
d) Perodo de dormncia, estado fresco
( possvel a identicao de reao de
pega instantnea quando existe decincia
no teor de SO
3
disponvel);
REVISTA CONCRETO
25
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
e) Corresponde aproximadamente ao tempo
de incio de pega;
f) Corresponde aproximimadamente ao
tempo de m de pega;
g) Hidratao dos silicatos responsveis pelo
desenvolvimento da resistncia.
O uso de calormetros em campo como
uma ferramenta de controle da qualidade permite
o estudo de reatividade de um aglomerante em
combinao com os outros materiais (agregados e
aditivos), considerando as condies de aplicao,
incluindo a condies de mistura e temperaturas
do concreto durante o recebimento, sendo til em
uma variedade de aplicaes para os produtores de
concretos, cimento, aditivo e empresas de controle
tecnolgico, particularmente na determinao:
Interao cimento/aditivo;
Seleo de materiais;
Previsibilidade do concreto (estado fresco
e endurecido);
Uniformidade de lotes entregues (caminhes);
Liberao para acabamento e corte de
juntas de pisos e pavimentos de concreto.
EXEMPLO DE CAMPO 1: COMPARATIVO
DE CIMENTOS DE MESMO TIPO PRODUZIDOS
EM DIFERENTES FBRICAS
Na Figura 4, so apresentadas as
curvas de quatro cimentos de mesmo tipo,
porm produzidos a partir de um mesmo
clnquer, utilizando o mesmo aditivo redutor
de gua. Pode-se notar que a rea total do
grfico para as quatro diferentes curvas
similar e, portanto, no esperado grandes
diferenas no desenvovimento da resistn-
cia inicial ou tempo de fim de pega. A curva
relativa ao sensor 2 (vermelho) mostra um
perodo de induo prolongado e, portanto,
maior tempo de incio de pega; enquanto o
sensor 3 (verde) mostra uma amostra com
tempo de pega sensivelmente menor. Dessa
forma, possvel concluir que os cimentos
em combinao com os aditivos podem
apresentar um comportamento diferenciado
mesmo tratando-se de cimentos com com-
posies similares, produzidos a partir de
um mesmo clquer.
EXEMPLO DE CAMPO 2: VARIABILIDADE
DE UNIFORMIDADE DA CINZA VOLANTE
UTILIZADA NO CONCRETO
Neste exemplo, foram acompanhados
alguns recebimentos de cinza volante adicio-
nado ao cimento puro durante a produo do
concreto. A variao da cintica de hidratao
medida atravs da estimao do tempo de incio
de pega, mostrado no grco, entre os diferen-
tes lotes, mostra valores de 12 a 16,5 horas em
REVISTA CONCRETo
26
uma mesma temperatura de cura e dosagem
de materiais. Esta variao representa um risco
de desempenho no satisfatrio quanto a des-
forma e endurecimento do concreto aplicado,
tornando mais sensvel s variaes de tempe-
raturas baixas e concentrao de aditivos.
Concluso
O uso do calormetro semi-adiabtico
em campo permite avaliar em condies reais
o comportamento do concreto com seu uso
recomendado para:
Seleo de denio de materiais
Comparar misturas usando diferentes
tipos/fbricas de cimento;
Comparar a interao cimento/aditivos
utilizado diferente tipos e marcas
de produtores;
Avaliar reatividade dos cimentos
compostos;
Determinar dosagem tima de aditivos com
um determinado cimento/trao.
Investigao de Problemas
de desempenho
Incompatibilidade de materiais;
Identicao de super-dosagem de aditivo;
Identicao de tendncia pega
instantnea;
Auxilia na determinao do teor de gesso
timo para o cimento.
Variabilidade dos Materiais
Teste de desempenho in loco do
concreto recebido;
Variabilidade de materiais (cimento,
proporo e mistura);
Compatibilidade cimento/aditivo em
condies reais.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
[01] LAWRENCE, D.; HEWLETT, P.C. Leas Chemistry of Cement and Concrete , 4th edition, p. 343 - 351. 1998.
[02] ODLER,I. and SKALNY, J. In Materials Science of Concrete II (ed. Skalny), p. 319. American Ceramic Society,
Westerville, OH, 1992.
[03] TAYLOR, H.F.W. Cement chemistry. Academic Press, London, 2
nd
, 1990.
[04] WCZELIK, W.N. Thermal methods and microcalorimetry application in the studies of low energy cements.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Vol 38. number 4, 1992. pp 771-775.
[05] SANDBERG, P. Material Compatibility Issues Addressed in New ASTM Concrete Standard, 2004. ASTM C 1689.
REVISTA CONCRETO
27
M
E
R
C
A
D
O
N
A
C
I
O
N
A
L
A indstria cimenteira
tem vivenciado, nos ltimos
dois anos, um cenrio bas-
tante atpico. As vendas de
cimento no Pas, assim como
a atividade produtiva das em-
presas do setor, tm registra-
do nveis recordes e valores
jamais antes alcanados.
Cabe lembrar que, a
partir do ano 2000, o setor
de cimento sofreu uma que-
da acentuada no seu desem-
penho, com destaque para o
ano de 2003, quando foram
registrados os menores vo-
lumes produzidos e comer-
cializados. Levando-se em
considerao o fato de que
a indstria de cimentos bastante intensiva
em capital e que possui custos xos elevados
de manuteno, a crise registrada no perodo
gerou alta ociosidade das empresas.
A virada desse quadro negativo veio
com a recente recuperao da economia na-
cional, propiciando nveis melhores de renda e
emprego da populao e, conseqentemente,
possibilitando um maior poder de compra dos
consumidores. Somando-se a isso, a alta na
disponibilidade de crdito e taxas menores de
juros aplicados aos nanciamentos incremen-
taram a demanda no setor imobilirio, ree-
tindo diretamente nas indstrias de materiais
de construo, inclusive de cimento.
Analisando-se dados divulgados pelo
Sindicato Nacional da Indstria do Cimento
(SNIC), pode-se notar que, de 2003 para 2007,
ocorreu uma alta de 32,1% no volume pro-
duzido e de 29,0% no consumo aparente dos
produtos do setor.
Os resultados extremamente positivos
e o aquecimento na demanda acabaram ge-
rando alguns gargalos na indstria de cimen-
tos. O principal problema que passou a assolar
Panorama da Indstria
Cimenteira no Brasil
o setor foi a oferta limitada, tendo em vista
que as empresas esto com diculdades em
atender elevada procura.
Alm disso, visando aproveitar o bom
momento do setor, alguns players esto come-
ando a investir em aquisies e fuses, o que
resulta numa maior concentrao do mercado
aes estas que esto sendo acompanhadas
de perto pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econmica (CADE), para tentar evitar
problemas futuros para o setor.
Na outra ponta da cadeia esto os con-
sumidores nais, que com a oferta restrita,
muitas vezes acabam sendo prejudicados pelo
aumento nos preos do cimento, gerando
custos maiores para o oramento familiar.
Cabe frisar tambm que, com a de-
manda aquecida, muitas cidades localizadas
mais distantes dos grandes plos produtores
j chegaram a ter que racionar o volume
comercializado, na busca de atender um
nmero maior de consumidores, tendo em
vista outro gargalo do setor, o logstico, que
acarreta em maior tempo necessrio para a
reposio dos estoques.
Samara Miyagi
All Consulting
REVISTA CONCRETo
28
0
5
25
75
95
100
CalhauCursoMasterPEC-Programadecursosdeatualiza otecnol gica
segunda-feira,4deagostode200817:34:28
Nesse cenrio, muitas
cimenteiras esto investin-
do na expanso para outras
regies do Brasil, montando
liais em outros estados que
esto apresentando boas
perspectivas de desenvol-
vimento e crescimento do
mercado imobilirio e, con-
seqentemente, da indstria
do cimento.
Estima-se que o setor
apresente em 2008 resultados
ainda bastante favorveis,
principalmente, em virtude
das expectativas de continui-
dade do desempenho positi-
vo da economia. Vale lembrar
que, este ano, sero realiza-
das eleies municipais, fato este que contribui
para o setor na medida em que muitas obras
so realizadas em carter de urgncia.
As indstrias de cimento, estimuladas
pela insero em novos mercado, devero am-
pliar os nveis de produo e comercializao,
visto que esto comeando a descobrir opor-
tunidades no mercado internacional atravs
de parcerias com empresas de outros pases.
Por m, alguns setores demandantes
das cimenteiras devero contribuir para a
continuidade de crescimento vigoroso das
mesmas, com destaque para o imobilirio,
o da construo pesada e o de hotelaria e
turismo, que dever ser intensificado nos
prximos anos.
REVISTA CONCRETO
29
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
O estudo da adsoro no
desenvolvimento de aditivos
superplasticantes baseados em
teres policarboxlicos
Thais dos Santos Souza
BASF Construction Chemicals
1. Introduo
Os aditivos so compostos qumicos
adicionados ao concreto, em dosagens de at
5%, a m de modicar uma ou mais proprie-
dades do seu estado fresco ou endurecido.
Em muitas ocasies, eles so imprescindveis
para a obteno de um concreto com carac-
tersticas previstas.
As propriedades do concreto majorita-
riamente so governadas por sua consistncia
(propriedade reolgica), que controlada pela
disperso das partculas de cimento; esta dis-
perso alcanada, principalmente, com o uso
de aditivos superplasticantes (SPs) de terceira
gerao, dentre eles os policarboxilatos (PCs).
Se, por um lado, os PCs permitem a
produo de concretos com caractersticas
de uidez especiais, como no campo de con-
cretos de alto desempenho (CAD), por outro
permitem a utilizao de traos com relaes
gua/cimento muito baixos. Assim, CADs com
resistncias e durabilidade muito altas podem
ser fabricados. Os PCs agem adsorvendo nas
partculas do sistema (principalmente de
cimento), dispersando as mesmas, fazendo
com que deoculem e se separem; aplicam-
se muito bem na fabricao de CADs com
propriedades reolgicas bem ajustadas ao
mtodo e condies de processamento. Por
esse motivo, os estudos da taxa de adsoro e
de seu efeito dispersante tm se tornado cada
vez mais uma ferramenta poderosa, tanto
para o desenho de novas molculas de teres
policarboxlicos (PCEs*) especiais para cada
tipo de cimento, assim como para formulao
nal de aditivos para concreto.
*linha Glenium
, BASF Construction Chemicals.
REVISTA CONCRETo
30
2. Adsoro supercial e
mecanismos de disperso dos PCEs
A maioria dos SPs adicionados em con-
creto exibem uma anidade com o cimento e
com seus produtos de hidratao. As proprie-
dades superciais das partculas de cimento
e sua interao com a soluo aquosa so
alteradas pela adsoro de compostos. Os
SPs, por exemplo, sendo molculas orgnicas
carregadas (por exemplo, com grupos SO
3
-
e
CO
2
-
), adsorvem por atrao eletrosttica:
seus grupos negativamente carregados so
atrados pelas cargas positivas da superfcie
da partcula de cimento (Ver Figura 1). As
cargas negativas das molculas conduzem a
superfcie a adquirir uma carga lquida (po-
tencial zeta) negativa. Isto induz ao aumento
da disperso do sistema por mecanismo de
repulso eletrosttica (Ver Figura 1).
Grupos funcionais das molculas (por
exemplo OH) tambm podem interagir for-
temente com as fases hidratadas polares do
cimento, atravs de interaes de pontes
de hidrognio.
No caso de SPs base de ter policarbox-
lico (PCEs, do ingls Polycarboxilic ethers), aditi-
vo polimrico de alto peso molecular, dotado de
grupos hidroflicos e inicos, a adsoro tambm
ocorre por atrao eletrosttica (Ver Figura 2a). A
diferena que sua disperso resultante de uma
somatria de efeitos. Alm da disperso eletros-
ttica, existe o mecanismo estrico adicional, que
gera uma disperso pronunciada e prolongada.
Este mecanismo acontece devido presena de
cadeias laterais prolongadas ou de grande den-
sidade na molcula do dispersante, impedindo
sicamente que as partculas onde esto adsorvi-
das se aproximem (Ver Figura 2b). O mecanismo
estrico desempenha um importante papel, j
que dispersantes de baixo peso molecular exibem
baixa reduo de gua e uidicao.
O mecanismo estrico-eletrosttico de
disperso acaba tornando-se mais ecaz que o
mecanismo eletrosttico isolado, basicamente
por dois fatores:
(i) a repulso eletrosttica dependente,
principalmente, da quantidade de cargas
negativas presentes na cadeia principal
das molculas; existe um limite mximo no
nmero de cargas, acima do qual a
REVISTA CONCRETO
31
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
adsoro da molcula to forte que no
no restam espcies livres em soluo para
disperso no tempo de trabalhabilidade
requerido.
(ii) a repulso estrica dependente da
densidade e tamanho das cadeias laterais.
Tambm existe um limite (de tamanho e
densidade) de cadeias na molcula; porm
este limite permite, em efeitos prticos,
uma disperso muito mais efetiva
e/ou duradoura.
O maior efeito dispersivo do mecanismo
estrico acontece pelo fato ser de maior alcance
(espacial): os hidratos formados nos primeiros mo-
mentos de contato entre gua e cimento possuem
dimenso muito pequena quando comparados
com a dimenso das cadeias laterais do dispersante
adsorvido; o resultado um grande afastamento
entre as partculas (Ver Figura 3).
A maior durabilidade da disperso estrica
tambm pode ser explicada pelo tamanho das
cadeias laterais diante dos hidratos formados ao
longo do tempo (o intervalo de tempo para o
recobrimento das cadeias laterais pelos hidratos
estendido), mas no s por isso. O tempo de
disperso tambm depende da habilidade das
molculas adsorverem nos produtos de hidratao
do cimento quer se formam.
Estas caractersticas dos PCEs permitem
que dois parmetros possam ser observados e
utilizados para o desenvolvimento de novos adi-
tivos: taxa de adsoro e dosagem de saturao
de superfcie.
3. Inuncia da taxa de adsoro dos
PCEs nas caractersticas
de trabalhabilidade em CADs
Se, por um lado, a adsoro depen-
dente da composio qumica e da estrutura
REVISTA CONCRETo
32
molecular do dispersante, por outro, tambm
influenciada pela composio qumica do
cimento, sua superfcie especfica e presena
de adies.
bem sabido que uma rea superfi-
cial maior (superfcie especfica) disponvel
demanda uma maior quantidade de SPs
para uma disperso fixada. Entretanto, a
adsoro seletiva nas partculas de cimento,
a possvel adsoro significativa nas adies
e a provvel perda de aditivo nos poros
do agregado tambm devem ser avaliadas e
medidas no projeto de um CAD aditivado.
Primeiramente, a adsoro no ocorre
uniformemente na superfcie do cimento;
algumas fases cristalinas podem adsorver
mais que outras. Estudos demonstram que,
por exemplo, a adsoro de PCEs aumentam
com a quantidade de C
3
A do clnquer e tam-
bm com sua forma cristalina ortorrmbica
(Ver Figura 4).
Outro ponto importante que deve
ser considerado a presena de sulfatos: a
quantidade de sulfatos solveis e seu grau
de hidratao tambm afetam a adsoro,
pelo fato de competirem pelos mesmos stios
de adsoro que os PCEs (Ver Figura 5).
Em cimentos compostos ou at mes-
mo em concretos adicionados, a presena
e quantidade de certos componentes (adi-
es) alteram o com-
portamento de fluidi-
ficao. Isto acontece
devi do al guns PCEs
possurem afinidade
maior que o limite es-
perado por esse tipo
de material. Alguns
agregados tambm
podem t er o mes -
mo comportamento,
alm de contriburem
na perda de disper-
sante por absoro
(dos poros).
A fim de se ob-
ter uma fluidificao
do concreto bem pla-
nejada, til fazer
o estudo de contro-
le de adsoro dos
PCEs, comeando pela
REVISTA CONCRETO
33
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
avaliao das taxas de
adsoro no cimento,
adies e agregados
do trao, e depoi s
partindo para a en-
genharia de polme-
ros, se for o caso.
3.1. AVALIAO
DA ADSORO
DE UM PCE
A medio de
carbono orgnico to-
tal (TOC, Total Or-
ganic Carbon), que
fei ta em sol uo
aquosa diluda, um
mtodo rpido para
medi r o comporta-
mento de adsoro de
dispersantes ao longo do tempo. O teste
feito com a quanticao da reduo de PCE
em fase aquosa (pore solution), antes, aps
a mistura, e ao longo do tempo, atravs de
um analisador TOC.
Obtm-se um perfil de adsoro tanto
dos materiais em separado (que alimenta um
banco de dados) e de uma argamassa que
simula o concreto em pequena escala: o fine
mortar. Cruzando os dados de adsoro e
fluidificao em finemortar, possvel fazer
uma boa previso do que pode acontecer
em concreto. Os dados obtidos fornecem
informaes de taxa de adsoro e dosagem
de saturao.
A taxa de saturao mostra o quanto
o aditivo adsorve na superfcie do material
(nemortar ou seus componentes separados)
ao longo do tempo,
a certa dosagem (Ver
Figura 6). Este perfil
de adsoro reete na
uidicao do mate-
rial (Ver Figura 7).
A dosagem de
saturao do material
aquela acima da qual
no h aumento de
adsoro pela super-
fcie do material (Ver
Figura 8).
3.2 AVALIAO
DA DOSAGEM DE
SATURAO E TAXA
DE ADSORO:
A CHAVE PARA A
MANUTENO DA
TRABALHABILIDADE
Os PCEs s o
compl etamente ad-
REVISTA CONCRETo
34
sorvidos em dosagens mais baixas que a do-
sagem de saturao da superfcie do cimento.
Em baixas dosagens, todo o aditivo adiciona-
do est trabalhando para a disperso. Acima
da dosagem de saturao, no h mais super-
fcie disponvel, e consequentemente parte
do aditivo permanece em soluo. Isto faz
com que as molculas livres sejam capazes de
ir adsorvendo ao longo do tempo nos hidra-
tos formados, mantendo a disperso por um
tempo maior, at o seu completo esgotamen-
to. Esta adsoro tambm deve ter uma taxa
(velocidade) compatvel com a formao da
etringita (C
3
A.3CSH
32,
hidrato resultante da
reao entre aluminato triclcico e gesso).
Tal caracterstica uma vantagem sobre os
lignosulfonatos (dispersantes feitos a partir
de um subproduto da indstria de celulose)
que adsorvem quase que completamente nos
primeiros instantes, formando uma multica-
mada ao redor da partcula.
Trabalhar com um dispersante ade-
quado e com dosagem acima do limite
de saturao pode significar ter uma pro-
longada manuteno de trabalhabilidade
no concreto.
A alimentao do banco de dados
com estas informaes uma fonte valiosa
para o desenvolvimento de molculas espe-
cficas para os materiais, ou at mesmo para
desenvolvimentos futuros de concretos: por
exemplo, usando o PCEs disponveis com
adsoro/disperso adequada no cimento,
baixa adsoro nos agregados, etc.
A utilizao de superplastificantes
base PCE uma vantagem para a etapa de
engenharia de polmeros, pois se tratam
de copolmeros dotados de estruturas qu-
micas com potencial de serem modificadas
conforme a necessidade. Alm do tamanho
da cadeia principal, a densidade de cargas,
densidade e tamanho das cadeias laterais
podem ser montadas para o requerido com-
portamento de adsoro e disperso de um
projeto de CAD.
4. Concluso
A habilidade de disperso de teres
policarboxlicos significantemente maior
que outros tipos de superplastificantes,
principalmente por possuir dois mecanismos
de disperso aliados. Seguindo essa linha, o
estudo da adsoro destes aditivos qumicos
nas partculas de cimento torna-se um fator
chave no seu mecanismo de ao, contro-
lando a disperso e, conseqentemente, a
reologia de sistemas cimentcios.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
[01] Roncero, J.; Gimenez, V.; Corradi, M; What makes more effective Polycarboxilates comparing to
Lignosulphonates?. Differences on adsorption mechanisms. BASF Construction Chemicals Espana, S.A.
[02] Dranseld, J. M.; Leaching of organic admixtures from concrete. Secretary to the UK Cement Admixture
Association (CAA) and EFCA (the European Federation of Concrete Admixture Associations).
[03] Lim, G.-G.; Hong, S.-S.; Kim, D.-S.; Lee, B.-J.; Rho J.-S.; Slump loss controlo f cement by adding polycarboxylic
type slump-releasing dispersant. Cement and Concrete Research 29 (1999), 223-229.
[04] Yamada, K.; Ogawa, S.; Hanehara, S.; Controlling of the adsorption and dispersing force of polycarboxylate-
type superplasticizer by sulfate on concentration in aqueous phase. Cement and Concrete Reserch 31
(2001), 375-383.
[05] Chandra, S.; Bjornstrom , J.; Inuence of cement and superplasticizers type and dosage on the uidity of
cement mortars Part I. Cement and Concrete Reserch 32 (2002), 1605-1611.
[06] Chandra, S.; Bjornstrom , J.; Inuence of cement and superplasticizers type and dosage on the uidity of
cement mortars Part II. Cement and Concrete Reserch 32 (2002), 1613-1619.
[07] Golaszewski, J.; Szwabowski, J.; Inuence of superplasticizers in rheological behaviour of fresh cement
mortars. Cement and Concrete Reserch 34 (2004), 235-248.
[08] Li, C.-Z.; Feng, N.-Q.; Li, Y.-D.; Chen, R.-J.; Effects of polyethlene oxide chains on the performance of
polycarboxylate-type water-reducers. Cement and Concrete Reserch 35 (2005), 867-873.
[09] Winnefeld, F.; Becker, S.; Pakusch, J.; Gotz, T.; Effects of the molecular architecture of comb-shaped
superplasticizers on their performance in cementitious systems. Cement & Concrete Composites 29
(2007), 251-262.
REVISTA CONCRETO
35
E
N
S
I
N
O
D
E
E
N
G
E
N
H
A
R
I
A
Di fi ci l mente um
engenheiro brasileiro for-
mado mais recentemente,
incluindo aqueles pro-
venientes das escolas de
engenharia tidas como as
melhores do pas, saber
projetar ou construir (ou
at nem saber o que mes-
mo venha a ser) um pano
de pedra para proteo
supercial de taludes, um
muro de conteno de
pedras rejuntadas, um
revestimento primrio em
estradas no pavimenta-
das, paliadas de pedra
para dissipao de energia
hidrulica, pequenos ater-
ros/barragem, estruturas
simples de vertedouros
com pranchas de madeira,
uma proteo de margens
de crregos com sacos de
solo-cal, uma pequena ponte estroncada de
madeira, um dreno espinha de peixe, enm,
todo um enorme elenco de obras e solues
de carter simples, de extrema ecincia e
resolutividade e que formidveis servios vem
prestando ao pas ao longo de tanto tempo.
Mas, sem dvida, esses mesmos jovens
engenheiros tero formao escolar suciente
para colaborar em projetos de grandes barra-
gens, usinas nucleares, pavimentos rgidos e
exveis de autopistas, estruturas atirantadas
de conteno, ousadas pontes estaiadas, tneis
longos e tantas outras espetaculares e sosti-
cadas obras de engenharia.
como se, por um motivo qualquer, a
engenharia brasileira (engenharia, arquitetura,
geologia, agronomia) tivesse passado a associar o
conceito de obras simples, ou, em um sentido mais
abrangente, de solues simples com a imagem
de tecnologias ultrapassadas e/ou inecientes.
Obviamente, no se trata de se pre-
tender ingenuamente que obras tecnologi-
camente complexas possam ser em qualquer
situao substitudas por obras simples,
ambas evidentemente tm seu lugar e hora.
E, diga-se de passagem, podem e devem
conviver em um mesmo empreendimento.
No entanto, o fato real que, pela perda da
memria decorrente da falta do devido re-
gistro bibliogrco e pelo j falecimento de
quase toda ltima gerao de engenheiros e
mestres de obra que dominaram, em grande
parte empiricamente, o uso de obras simples
no pas, assim como pelo desprezo com que
hoje escolas de engenharia tratam a questo,
ou simplesmente no a tratam, a engenharia
brasileira est na prtica deixando progressi-
vamente de contar com a possibilidade real
de ter essa alternativa como soluo de tan-
tos de seus problemas, mesmo nas situaes
(e so inmeras) em que ela, a obra simples,
constitua a alternativa de engenharia mais
adequada tcnica e economicamente para a
soluo pretendida.
Resultado: ou o problema ca sem solu-
o e progressivamente se agrava (o que mais
Obras simples devem reocupar
espao nobre na engenharia
Proteo de margens com sacos de solo-cal
lvaro Rodrigues dos Santos
Consultor em Geologia de Engenharia, Geotecnia e Meio Ambiente
REVISTA CONCRETo
36
comum) ou se adota, paradoxalmente por falta
de conhecimento, uma soluo sosticada e
cara que no seria adequada nem necessria. E
que muitas vezes, apesar dos altos custos envol-
vidos, acaba em fragoroso insucesso tcnico.
de se imaginar a gravidade econmica
e social dessa conjuno tecnolgica para um
pas, como o Brasil, de dimenses continentais,
siograa tropical diversicada e crnica escas-
sez de recursos.
Vejamos um exemplo didtico. A rede
brasileira de estradas de rodagem alcana um
total de aproximadamente 1.800.000 quilme-
tros, dos quais cerca de 1.600.000 correspondem
a estradas vicinais e rurais de terra. Somente
no Estado de So Paulo, o estado mais desen-
volvido do pas, a rede rodoviria total atinge
cerca de 200.000 quilmetros, dos quais perto
de apenas 27.000 correspondem a rodovias pa-
vimentadas, ou seja, menos de 15% do total.
Desses nmeros depreende-se de for-
ma clara e inequvoca a importncia da rede
rodoviria de estradas de terra para a econo-
mia nacional e para as economias estaduais e
municipais. Grande parte de nossa produo
agrcola e agroindustrial ainda transportada,
especialmente nos trechos iniciais de suas rotas,
por estradas de terra. Como tambm, na zona
rural, milhes de pessoas utilizam-se diariamen-
te dessas estradas nas suas locomoes para o
trabalho, para escolas, para atendimentos de
sade, para vender e comprar mercadorias, en-
m para todos os tipos de atividades humanas
que exijam algum deslocamento.
Pois bem, a partir especialmente dos
anos 60/70 procedeu-se uma mudana radical
nas tecnologias de conservao das estradas de
terra. Do antigo sistema apoiado na histrica
figura do conserveiro,
qual seja o funcionrio
cuja misso permanente
estava na correo de pe-
quenos defeitos em um
pr-combinado trecho vi-
rio (algo como 10 quil-
metros por conserveiro),
impedindo, atravs de so-
lues simples e localmen-
te adaptadas, a evoluo
de problemas por atac-los
logo em seu incio, passou-
se aceleradamente para a
conservao mecanizada,
essencialmente baseada na
utilizao sistemtica da
patrol, qual seja a moto-
niveladora. A adoo in-
tempestiva da tecnologia
de conservao apoiada
na ilusria eficincia da
patrolagem sistemtica
implicou na contnua ras-
pagem/remoo da camada de solos de melhor
qualidade compactada pelo trfego e, por
decorrncia, no progressivo aprofundamento
da estrada (pista em caixo), dicultando a
drenagem, expondo camadas de solo cada vez
menos consistentes e potencializando extraor-
dinariamente os processos erosivos destrutivos.
Um verdadeiro desastre tecnolgico para nossa
Muro de pedras rejuntadas
Proteo de margens com pano-de-pedra
REVISTA CONCRETO
37
E
N
S
I
N
O
D
E
E
N
G
E
N
H
A
R
I
A
rede de estradas de terra,
ajudando muito explicar
o atual lamentvel estado
em que se encontram.
Agravantemente, com o
desaparecimento da gu-
ra do conserveiro e dos
mestres de obra que orien-
tavam seus trabalhos, mui-
ta tcnica boa e simples se
perdeu, uma vez que esses
conhecimentos empricos
nunca foram devidamente
registrados ou ensinados
para o aproveitamento
de outras geraes de
funcionrios.
A estratgia at
agora prevalecente do
combate s enchentes na
Regio Metropolitana de
So Paulo, pela qual se
privilegia as grandes obras
hidrulicas de alargamento/
aprofundamento/canalizao do rio Tiet e tri-
butrios e, mais recentemente, a construo de
piscines(verdadeiros atentados sanitrios e am-
bientais no tecido urbano), deixando totalmente
de lado a alternativa de se combater a eroso e
recuperar a capacidade de inltrao e reteno
de guas de chuva atravs da implementao de
um conjunto grande de pequenas intervenes,
expe claramente as graves conseqncias eco-
nmicas e ambientais do abandono cultural e
preconceituoso das solues simples.
Um outro exemplo. Por puro modismo
tecnolgico o concreto projetado com tela de
armao, tcnica tambm conhecida por tela
argamassada, vem sendo atualmente adotado
como soluo para os mais variados problemas
de estabilidade de taludes. Seja o caso de uma
suspeita de ruptura profunda, seja o caso do
risco de desprendimento de blocos de rocha,
seja o caso de uma desagregao ou uma ero-
so supercial, ou outro fenmeno qualquer,
l est a milagrosa soluo: tela com con-
creto projetado, alternativa cara e exigente
de equipamentos pesados para sua execuo.
Pois bem, em grande parte dos casos em que a
tela argamassada seria tecnicamente indicada
(problemas superciais de estabilidade), aplicar-
se-ia, com muito menor custo, com emprego de
materiais e mo de obra locais, o simples e e-
ciente pano de pedra (uma camada de pedras
assentadas e rejuntadas solidariamente sobre a
superfcie do talude). Porm, desgraadamen-
te, alternativas simples como essa j no esto
mais presentes na lembrana de contratantes
e contratados.
O mesmo quadro tecnolgico se observa
na obsesso em se enfrentar os problemas de
enchentes urbanas somente atravs de obras
estruturais carssimas (alargamento e apro-
fundamento das calhas dos cursos dgua, pis-
cines, etc.) deixando-se de lado a alternativa
de se recuperar a capacidade de inltrao e
reteno de guas de chuva na rea atravs da
implementao um conjunto grande de obras
e providncias simples.
preciso que a engenharia nacional
entenda que obras e solues simples no sig-
nicam tecnologias ultrapassadas. Pelo contr-
rio, constituem um campo tecnolgico ao qual
inclusive deve, por sua importncia, ser dada
uma enorme ateno em pesquisa tecnolgica
para o desenvolvimento de novas concepes
e inovaes. Nesse aspecto, recentemente foi
desenvolvida pelo autor do artigo a tcnica
Cal-Jet, prtica, barata e simples, capaz de
ecientemente proteger um talude de solo da
eroso atravs da pulverizao de calda de cal
com aditivo aglutinante.
Enm, um saudvel retorno ao princpio
bsico de sempre aliar-se a busca da ecincia
tecnolgica com a busca da maior economici-
dade possvel automaticamente implicar em
uma convivncia virtuosa entre obras simples
e sosticadas. Para tanto faz-se indispens-
vel que nossas escolas de engenharia, como
tambm as escolas de arquitetura, geologia e
agronomia, dediquem a ateno devida ao en-
sino e ao registro bibliogrco dessas solues
de engenharia mais simples, talvez at com
a adoo de disciplina especca para tanto.
Seria tambm muito salutar e oportuno que
as instituies clssicas da engenharia nacional
(Sistema CONFEA/CREAs, Institutos e Clubes de
Engenharia, Associaes Tcnicas...) colocassem
o tema Obras Simples em pauta e o acolhessem
em seus eventos tcnicos.
Pequeno muro de concreto armado com contrafortes
REVISTA CONCRETo
38
Aplicaes prticas para
concreto reforado com bras
de ao: pisos industriais
1. Conceito
Sem dvida al-
guma, o concreto o
material mais utilizado
pelo homem na cons-
truo de estruturas
civis. So diversas as
experincias e pesqui-
sas realizadas para o
aperfeioamento do
mesmo, incluindo os
estudos e ensaios re-
lacionados ao uso de
bras para reforo. O
CRFA, ou concreto reforado com bras de ao,
nada mais que o mesmo composto de concreto
ao qual so incorporadas as bras de ao. Com
isso, cria-se dentro na matriz uma armadura
tridimensional que promove notvel aumento a
resistncia mecnica ps-ssurao do concreto.
Nos ltimos anos, vivemos uma busca
intensa pelo aperfeioamento de novas tecno-
logias na execuo de
estruturas para pisos
industriais, sendo o
CRFA, do ponto de
vista tcnico, extre-
mamente competi-
tivo em relao s
estruturas tradicio-
nalmente utilizadas.
A parte das mo-
dicaes que estas -
bras proporcionam
ao CRFA, so muitos
os estudos que visam
determinar tcnicas
corretas quanto a sua
Ivan Marassatto Masiero
Maccaferri do Brasil Ltda.
utilizao e garantir o
sucesso da aplicao
das mesmas. Dessa ma-
neira, torna-se essen-
cial a divulgao das
tcnicas corretas de
dosagem, das carac-
tersticas principais do
CRFA e suas particula-
ridades. So conceitos
bastante simples, po-
rm importantes para
o sucesso de uma obra
executada em CRFA.
2. O CRFA e suas propriedades
especicaes do trao
Antes da denio do trao do concre-
to, necessrio conhecer qual o seu uso e as
propriedades de resistncia pretendidas, alm
de conhecer tambm as suas condies de
aplicao, manuseio e
possveis alteraes de
comportamento que
outros elementos adi-
cionados, no caso as
bras de ao, possam
causar ao mesmo.
Em outras pala-
vras, o exposto acima
indica que uma boa
especicao do con-
creto no deve apenas
basear-se na resistncia
mecnica pretendida e
sim considerar outros
fatores, como segue:
REVISTA CONCRETO
39
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
Compatibilidade dimensional com
agregados grados: A relao entre
o comprimento da bra e o comprimento
caracterstico dos agregados deve ser
a seguinte: L bra > 2L agregado. Esta
compatibilidade determinada uma
vez que, com as referidas dimenses,
proporcionamos ganhos signicativos na
interceptao das ssuras, que geralmente
ocorrem na interface entre argamassa e o
agregado (guras 2 e 3).
Fator gua/cimento: Menor que
0,55. Para os casos onde no atingida a
trabalhabilidade necessria, indicamos
o uso de aditivos plasticantes e no
h restrio quando ao uso concomitante
s bras de ao. Alm disso, sabemos
que o fator gua/cimento est diretamente
relacionado a trabalhabilidade da mistura,
ou seja, se alguma das trs varia, ento
necessrio corrigir as demais para conservar
a mesma resistncia (gura 1).
Trabalhabilidade: Entre as principais
alteraes propostas ao concreto
destinado aos pisos industriais, podemos
citar a trabalhabilidade como uma das
mais importantes. Sem dvida alguma
que a principal recomendao para os pisos
industriais ca por conta da utilizao de
um trao bombevel, conferido por uma
medio no abatimento da ordem de 12
centmetros (Slump Test Fig 4.), com as
bras metlicas j incorporadas mistura.
Normalmente, as bras so adicionadas
ao concreto durante sua confeco
na usina; portanto, a especicao de
trabalhabilidade geralmente ajustada
pela concreteira.
Nos casos onde a adio das bras ser
feita na obra, necessrio especicar a
compra de um concreto sem bras que,
em termos prticos, possua maior uidez
a ponto de conservar a trabalhabilidade
necessria aplicao quando houver
a incorporao das bras ao mesmo. Este
adicional trabalhabilidade varia conforme
o tipo de bra e quantidade a adicionar.
Teor de argamassa: Para o concreto
reforado com bras destinado aos pisos
industriais recomendado teor de
argamassa entre 50 a 54%. Com estes
teores possvel recobrir a maioria dos
agregados presentes no concreto, inclusive
as bras de ao.
Quantidade e propriedades das bras de
ao: O desempenho do compsito
depender de diversos fatores, como
a qualidade do concreto, quantidade
e dimenses das bras. Outro fator
muito importante a ser considerado est
relacionado interao dessas bras com
a matriz, proporcionada pelo efeito de suas
ancoragens ou mesmo atrito com o
concreto da matriz. Quanto s dimenses
das bras, conhecido que, quanto maior
o fator l/d (comprimento dividido pelo
dimetro), maior ser o desempenho dessas
bras; no entanto, existe um comprimento
limite. Elementos maiores podero propiciar
um aumento considervel na formao de
embolamentos (ourios) de bras.
3. Execuo de pisos industriais em CRFA
O processo de execuo bastante sim-
ples e segue basicamente os mesmos critrios
de execuo de pisos tradicionais. As etapas de
lanamento, adensamento e acabamento super-
cial devero ser executadas normalmente. Al-
gumas caractersticas gerais podem ser citadas:
REVISTA CONCRETo
40
Eliminao da etapa corte, dobra e
posicionamento da armadura.
No h necessidade de utilizao
de espaadores.
No h necessidade de espao para
estocagem na obra.
Reduo no tempo de execuo.
ADIO DAS FIBRAS AO CONCRETO
O processo executivo para pisos refora-
dos com bras de ao deve seguir alguns critrios
que comeam a ser observados desde a adio das
bras. Esta adio poder ocorrer durante a pro-
duo do concreto na usina ou no local da obra,
lanadas diretamente no caminho betoneira.
Por ser considerada um agregado adicional
na mistura, as bras de ao devem ser incorporadas
ao concreto com velocidade regular, a exemplo do
que feito com os demais componentes do concre-
to. Na usina, a adio pode ser feita diretamente
na esteira; na obra, utiliza-se o processo manual,
direto no balo de mistura do caminho betoneira.
A velocidade de mistura recomendada, em ambos
os casos, de 20 quilos de bras por minuto.
Esta adio em velocidade regular visa
evitar a formao de embolamentos ou ou-
rios na mistura. Os casos de formao de
ourios esto invarialvelmente associados
processos inadequados de mistura.
As bras devem ser adicionadas em conjun-
to ou aps a adio dos demais componentes, a m
de no prejudicar a homogeneidade dos mesmos.
UTILIZAO DE DOSADORES AUTOMTICOS
Para os casos de obras onde temos a
necessidade de lanamento de grandes volu-
mes em pequenos intervalos de tempo, re-
comendado o uso de dosadores automticos,
encontrados no mercado em duas capacidades
de lanamento, como descrito:
DosoBox (g.6) So dosadores leves,
de porte mdio e de fcil manuseio e
REVISTA CONCRETO
41
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
transporte. So abastecidos com os sacos ou
caixas (geralmente com 20 kg) e funcionam
basicamente atravs de um sistema de ar
pressurizado que transporta as bras por
meio de um conduto da base at o bocal do
caminho betoneira. Operam a uma
velocidade de adio de 40 a 80 kg/minuto.
DOSO SF500, DOSO 2.0, DOSO 1.6
(g.7) So equipamentos xos destinados
a instalao em usinas de concreto. Podem
ser abastecidos com at 1.600 quilos de
bras comercializadas em big bags. A
instalao personalizada a cada obra e
o lanamento das bras pode ocorrer
diretamente na esteira, no caminho ou
mesmo em misturadores automticos. Seu
rendimento atinge 200 kg/minuto.
ACABAMENTO DA SUPERFCIE
Os equipamentos utilizados para o
acabamento superficial (rgua vibratria
ou laser screed Figs, 8 e 9) ou para o aca-
bamento mecnico (floating Fig. 10) so
exatamente os mesmos utilizados nos pisos
tradicionais. Os tempos para corte de juntas,
cura do concreto e liberao do piso para
uso tambm.
4. Particularidades pisos
industriais e o CRFA
Uma das principais preocupaes que sur-
gem aos prossionais que comeam a utilizar o
concreto reforado com bras para execuo de
pisos industriais sobre o aparecimento de bras
na superfcie e seu impacto no resultado nal.
Pode-se armar que seguindo os crit-
rios e recomendaes indicadas anteriormente
a ocorrncia deste tipo de patologia mnima.
O aparecimento destas bras pode indicar a ne-
cessidade de reviso dos processos envolvidos.
REVISTA CONCRETo
42
Estruturalmente, o impacto do apare-
cimento de bras na superfcie nulo, uma
vez que a quantidade de bras envolvidas em
um metro cbico de concreto (dosado com 20
quilos, por exemplo) pode chegar a cerca de
90.000 peas; e as poucas bras que, porventu-
ra, aorarem no comprometero a qualidade
estrutural do mesmo.
No entanto, do ponto de vista estti-
co, isso poder congurar um problema, de
acordo com a nalidade do piso. Como citado,
possvel reduzir ou at mesmo eliminar o
aparecimento de bras na superfcie adotando
as recomendaes de trao e demais processos
adequados a cada projeto.
Deve ser considerada tambm a quali-
dade dos equipamentos envolvidos, alm do
controle dos procedimentos de execuo reco-
mendados aos pisos industriais.
O uso de agregados minerais asper-
gidos e incorporados na superfcie do piso,
com a nalidade de aumentar sua resistncia
a abraso, poder auxiliar de forma bastante
ecaz possveis aparecimento de bras na su-
perfcie; no entanto, perfeitamente possvel
obter resultados satisfatrios mesmo sem o uso
deste artifcio.
5. Concluses
Para garantir o sucesso de um piso indus-
trial executado em concreto reforado com -
bras de ao so necessrios alguns procedimen-
tos considerados simples, porm importantes na
reduo da ocorrncia de patologias.
Alguns procedimentos so especcos ao
uso de CRFA, porm outros j conguram entre
as recomendaes gerais para execuo de pisos
industriais tradicionalmente armados, como o
caso das recomendaes de teor de argamassa e
trabalhabilidade, citadas anteriormente.
Patologias como fibras afloradas ou
perda de trabalhabilidade podem ser perfeita-
mente controladas ou at mesmo eliminadas. O
processo de utilizao do CRFA de fcil apren-
dizado em todas as etapas de sua execuo.
Nos casos onde ocorrem as patologias
citadas ou mesmo onde as empresas envolvidas
na execuo dos pisos (projetistas, executores e
concreteiras) ainda no dominam os processos e
etapas pertinentes s aplicaes de CRFA, cria-se a
necessidade de orientao tcnica e acompanha-
mento de prossional habilitado ao desenvolvi-
mento deste tipo de projeto ou soluo, porm seu
aprendizado considerado fcil e rpido.
REVISTA CONCRETO
43
E
N
T
I
D
A
D
E
S
P
A
R
C
E
I
R
A
S
Projeto Paredes de
Concreto um grande desao
Associao Brasileira das Empresas de Servios de Concretagem
ABESC
O Brasil tem um grande desafio pela
frente: como substituir o dcit habitacional de
8 milhes de unidades. A tendncia desse enorme
problema se agravar, pois, segundo o Sinduscon
SP, a populao aumenta a uma taxa de 1,1% ao
ano e o nmero de famlias aumenta a um ritmo
de 2,27%.
A entrada da mulher no mercado de traba-
lho, o numero de divrcios, o envelhecimento da
populao e a acelerao da urbanizao explicam
esse crescimento.
Em 2020, teremos 80 milhes de famlias,
21 milhes a mais que 2006! Nessa velocidade o
Brasil necessitar 27,7 milhes de novas residncias,
contando desde 2007 at 2020.
Economistas dizem que, para acabar com o
dcit habitacional, sero necessrios mais de 260
bilhes de reais, sendo que 108 bilhes em forma
de subsdio, seja na forma de doaes de terrenos,
seja na preparao de infra-estrutura urbana por
parte do Estado.
A alternativa que nos parece fundamental,
visto o cenrio acima, desenvolver e aplicar mto-
dos construtivos que sejam rpidos, que possam ser
aplicados em grande escala, que tenham grande
repetitibilidade, que sejam confortveis de habitar,
durveis e econmicos.
A Associao Brasileira das Empresas de
Servios de Concretagem ABESC entende que
uma das solues so as paredes de concreto, tais
como Paredes Moldadas in Loco e Tilt Up.
Ambos os siste-
mas j so aplicados h
muitos anos em vrios
pases com sucesso e,
agora, o mercado bra-
sileiro volta-se para esse
tipo de soluo.
A ABESC foi ve-
rificar se os sistemas
construtivos escolhidos
atendiam os requisitos
desejados, tais como:
desempenho trmico
acstico; resistncia
ao fogo; resistncia a vrios tipos de impacto;
interao entre portas e janelas com as paredes;
resistncia a cargas ocupacionais; etc.
Para avaliar esses requisitos, foi contratado
o laboratrio de Furnas, que tem um reconheci-
mento internacional, para fazer todos os ensaios,
no s em peas isoladas, como tambm em casas
feitas na escala 1:1. Todos os ensaios foram realiza-
dos e demonstraram que ambos os sistemas eram
muito ecientes.
A Universidade So Paulo foi contratada
para interpretar os resultados obtidos em Furnas e
tambm concluiu que os sistemas tm as caracters-
ticas necessrias para fazer unidades habitacionais
com excelente desempenho.
Com a divulgao dos resultados ao
mercado, comearam a surgir construtoras que
se interessaram em construir casas que usavam
paredes de concreto e a alternativa foi usar
o Sistema de Paredes Moldadas in Loco com
frmas manoportveis, com telas soldadas e
concreto auto-adensveis com grande desem-
penho trmico e acstico.
No perdemos a oportunidade de fazer
ensaios com o IPT nessas casas para conhecer o
seu desempenho, cujos resultados atestaram o seu
bom desempenho.
Identicamos a oportunidade de criar um
Grupo de Trabalho, liderado pela ABESC, IBTS e
ABCP, com o objetivo de conhecer, aprimorar e
divulgar os sistemas construtivos.
A primeira ao
foi descobrir lugares
onde eram usados esses
sistemas com ecincia
e produtividade.
Em seguida, foi
organizada uma via-
gem com vrias cons-
trutoras para vericar
como esse sistema era
usado no Chile e na
Colmbia. O caso co-
lombiano serviu de
benchmarking.
Prottipo de casa usando paredes de concreto
REVISTA CONCRETo
44
IBRACON
PROGRAMA DO CURSO
Introduo: patologias das construes
Caractersticas e qualidade do concreto
O uso de aditivos de elevado desempenho na qualidade
do concreto
Patologia de trincas e fissuras
Patologia de fachadas revestidas de cermica e granito
Materiais e procedimentos de execuo em reparos
do concreto
Reforos de estruturas de concreto com fibras de carbono
Patologia e sistemas de revestimento de pisos industriais
OBJETIVO
Apresenta e discute patologias das construes e tecnologias
de recuperao, reparo, reforo e proteo de estruturas
de concreto.
PROFESSOR
Eng Jos Eduardo Granato, 30 anos de experincia nas
atividades de impermeabilizao, recuperao estrutural,
reforo, tratamento de estruturas de concreto, patologias
das edificaes.
www.basf.com.br
PATROCINADOR
Cursos Master PEC Master em
Produo de Estruturas de Concreto
Programa de cursos de atualizao
tecnolgica ministrado pelo IBRACON
PATOLOGIAS DAS CONSTRUES
06 de Setembro de 2008
50 Congresso Brasileiro do Concreto,
Centro de Convenes da Bahia, Salvador Bahia
0
5
25
75
95
100
CalhauCursosMasterPECno50 CBC2008
sexta-feira,1deagostode200817:45:39
Tambm foram criados subgrupos de
trabalhos para estudar e acelerar pontos que
poderiam ser considerados gargalos no uso
dos Sistemas que usam paredes de concreto,
tais como: Concreto, Telas soldadas, Normas
de Clculo e de Desempenho, Mo de obra,
Frmas, Sustentabilidade, entre outros.
Nesses subgrupos trabalham, alm
de especialistas da ABESC, IBTS e ABCP,
projetistas, arquitetos e engenheiros de
construtoras.
J comeamos a colher fruto desse traba-
lho, pois mais de 1000 casas foram construdas
com essa metodologia!
At o nal de outubro, os trabalhos do
Grupo Paredes de Concreto estaro conclu-
dos, disponibilizando ao mercado uma srie
de ativos de grande valor.
Enquanto isso, as empresas que fazem
parte da ABESC continuam investindo e se
preparando para atender demanda que
surge, para atender esse mercado que to
importante para aumentar a qualidade de
moradia e de vida dos brasileiros.
REVISTA CONCRETO
45
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
Nano-concreto: obteno,
desaos e estudos recentes
Fbio Albino de Souza
FEC UNICAMP
1. Introduo
1.1 NANOTECNOLOGIA
Em 1959, Richard Feynman, ganhador
de dois prmios Nobel, props que era possvel
a manipulao tomo por tomo e mostrou
que no h razes fsicas que impeam tal
prtica, embora nenhuma manipulao te-
nha sido registrada at aquele ano devido a
limitaes de conhecimento da tcnica e de
equipamentos apropriados.
Em meados dos anos 70, o pesquisador
Norio Taniguchi, da Universidade de Tquio
atribui o nome nanotecnologia ao campo da
engenharia e faz uma diviso entre engenharia
em escala micromtrica e sub-micromtrica.
Conduzir a uma nica denio para o
termo nanotecnologia seria algo incomum, po-
rm podemos descrever de uma maneira geral
que nanotecnologia a destreza de manipular
estruturas em escala nanomtrica com o objeti-
vo de desenvolver materiais com propriedades
melhoradas ou totalmente novos.
Com a criao, em 1981, do microscpio
de varredura por tunelamento (STM) pelos pes-
quisadores da IBM, uma barreira foi transposta
no campo da nanotecnologia, uma vez que foi
possvel obter imagens de nanoestruturas bem
como iniciar a sua manipulao.
1.2 NANOTECNOLOGIA E O CONCRETO
O tamanho das partculas de cimento
normalmente menor do que 50 mcrons, sendo
que, para micro cimentos, as partculas so de, no
mximo, 5 microns. Segundo BALAGURU et al.
(2005), o nano-concreto denido como o con-
creto feito com partculas de cimento Portland
que so menores de 500 nanmetros como o
agente de cimentao; portanto, o tamanho das
partculas de cimento tem de ser reduzido.
Inmeras pesquisas esto buscando
compreender e contribuir com o estudo do
concreto em nano-escala, por exemplo, adio
de nano-slica (SiO
2
) ao cimento Portland, o
comportamento das propriedades mecnicas do
cimento Portland com a adio dos nanotubos
de carbono (CNT), entre outras.
A nanotecnologia poderia ajudar inclu-
sive a diminuir as emisses de CO
2
produzidas
pela indstria global de cimento. A produo de
cimento est atualmente prxima de 1,6 bilhes
de toneladas por ano e atravs da calcinao
da pedra calcria se produz o xido de clcio
e dixido de carbono numa proporo de 0,97
toneladas de CO
2
para cada tonelada de cln-
quer produzido. Cerca de 900 kg de clnquer
usado em cada 1000 kg de cimento produzido,
portanto a indstria de cimento global produz
cerca de 1,4 bilhes de toneladas de CO
2
por
ano. Isto representa aproximadamente 6% da
produo total de CO
2
no mundo produzido
pelo homem.
2. Materiais, propriedades
e tcnicas de investigao
2.1 NANOTUBOS DE CARBONO (CNT)
Em 1991, o pesquisador japons Sumio
Iijima relatou a descoberta dos nanotubos de
carbono (CNT), embora alguns pesquisadores
atribuam que a primeira descoberta foi feita
por acaso em 1952 na Rssia, sendo ignorada
por falta de registros. Os nanotubos de carbo-
no (CNT) constituem-se de tubos formados por
folhas de carbono grate enroladas de forma
a conectar suas extremidades, na qual os tubos
formados variam o dimetro e comprimento de
acordo com o tipo de nanotubo de carbono.
Um nanotubo de carbono de parede nica tem
tipicamente de 1-3 nm (nanmetro) de dime-
REVISTA CONCRETo
46
tro e um comprimento de 300 nm a 1 mcron,
enquanto os nanotubos de carbono de parede
mltiplas tem seu dimetro variando de 10-50
nm e com comprimentos equivalentes e as vezes
superiores aos nanotubos de carbono de parede
nica. Como a pesquisa com esses materiais
intensa, alguns fabricantes de nanotubos esto
produzindo um terceiro tipo, que o nanotubo
de carbono de parede dupla (DWNT), na qual o
seu dimetro de aproximadamente 4 nm e o
comprimento pode chegar a 40 mcron, poden-
do ser consultado em ( www.nanocyl.com)
A gura 1 mostra o esquema de um nano-
tubo de carbono com paredes de camada nica.
Os nanotubos de carbono mostram
o comportamento de um material elstico e
alguns estudos conduzidos mostraram que o
mdulo de elasticidade para nanotubos de
carbono de paredes mltiplas foi de 1,25 TPa;
e o mdulo de elasticidade para nanotubos de
carbono de parede nica foi de 1,09 TPa. Ou
seja, os nanotubos mostraram um desempenho
5 vezes maior do que o mdulo de elasticida-
de do ao. Um outro aspecto importante nas
propriedades dos nanotubos de carbono a
sua densidade que est em torno de 1,3 a 1,4
g/cm
3
. Devido a essas fantsticas propriedades
que muitos pesquisadores da rea da cons-
truo civil esto estudando o potencial dos
compsitos de cimento/nanotubos de carbono
atravs da nanotecnologia. Um ponto interes-
sante da utilizao dos nanotubos de carbono
em compsitos de cimento/nanotubos se deve
ao fator de forma (L/d) extremamente alto
dos nanotubos, que so tipicamente de 1000
e podem alcanar at 2.500.000. O resultado
que as ssuras so interrompidas muito mais ra-
pidamente durante a sua propagao em uma
matriz reforada com nanotubos de carbono;
por isso, esperam-se produzir compsitos signi-
cativamente melhores que os tradicionais.
G.Y. LI et al. (2005) demonstraram o
comportamento mecnico de um compsito
de cimento/nanotubos de carbono de paredes
mltiplas na qual foram utilizados 3 tipos de
misturas com relao gua/cimento de 0,45:
Pasta de cimento controlada (PCC) ,
Pasta de cimento contendo bras de
carbono (PCCF) e Pasta de cimento
contendo nanotubos de carbono de
paredes mltiplas (PCNT). Na gura 2
podemos observar a curva resistncia
compresso x deslocamento das amostras
com idade de 28 dias.
O uso dos nanotubos de carbono de
paredes mltiplas aumentou a resistncia
compresso do compsito em 19%.
MAKAR et al. (2005) demonstraram um
estudo muito interessante envolvendo compsitos
de cimento/nanotubos de carbono de parede ni-
ca, onde a partir de 3 misturas diferentes procurou-
se medir a dureza do compsito e da pasta simples
na qual o grco est reproduzido na gura 3.
No Brasil, os testes de dureza em concre-
to, argamassas, pastas e at mesmo em comp-
sitos de cimento no so muito comuns, embora
o teste de dureza Vickers possa ser correlacio-
nado diretamente ao mdulo de elasticidade e
resistncia compresso do material. Assim, o
teste de dureza torna-se um ensaio importante
para se obter o comportamento mecnico de
um compsito, sendo um ensaio no destrutivo
e que no exige grandes dimenses dos corpos
de prova, o que interessante, pois os nano-
tubos de carbono so vendidos por grama, na
faixa de 80 a 2000 dlares o grama dependendo
do tipo, pureza e dimenses.
2.2 NANOPARTCULAS (NANO-SIO
2
,
NANO-FE
2
O
3
) E SLICA ATIVA (MICROSSLICA)
Nanopartcula uma partcula micros-
cpica cujo tamanho medido em nanmetros
(nm), onde pelo menos uma de suas dimenses
REVISTA CONCRETO
47
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
menor do que 200 nm. As nanopartculas
mostram propriedades fsicas e qumicas dife-
rentes de materiais convencionais e, por isso,
vem ganhando ateno e podem ser aplicadas
em vrios campos da indstria para fabricar
novos materiais.
Em geral, a microsslica contm de 85%
a 98% de dixido de silcio (SiO
2
) no estado
amorfo onde as partculas tm formato esfrico
e so microscpicas, cujo dimetro mdio das
partculas est entre 0,10m a 0,15 m, equi-
valente s partculas slidas da fumaa de um
cigarro. Como conseqncia, a rea supercial
especca da microsslica pode chegar a aproxi-
madamente 100 vezes a do cimento, variando
de 15 a 30 m
2
/g.
No caso da nano-slica (Nano-SiO
2
), nota-
se uma variao importante na composio
qumica, que a porcentagem de dixido de
silcio. A nano-SiO
2
contm de 99% a 99,9%
de dixido de silcio, ou seja, um material
mais puro, embora a diferena de pureza da
Nano-SiO
2
para a microsslica no seja gritante
a princpio, mas notria a diculdade de se
obter um material cada vez mais puro. Outra
caracterstica da nano-SiO
2
o dimetro mdio
das partculas que est entre 15 nm a 40 nm e
com uma rea supercial especica que pode
chegar a 60 m
2
/g.
Algumas pesquisas com nanopartcu-
las de hematita (Fe
2
O
3
) foram utilizadas para
formar compsitos e tambm prometem ser
competitivas. As nano-Fe
2
O
3
tm, em mdia,
dimetro de 30 nm. No entanto, como se trata
de um material novo pouco usado e ainda em
estudo, no foi possvel obter maiores infor-
maes tcnicas.
BYUNG-WAN et al. (2006) zeram um
comparativo mostrando a resistncia compres-
so aos 28 dias de diversas misturas contendo
pasta de cimento comum, pasta de cimento
com slica ativa (microsslica) e pasta de cimento
com nano-slica. As misturas e as resistncias
compresso esto representadas na tabela 1. Foi
utilizado tambm superplasticante a base de
policarboxilatos que foi ajustado para cada mis-
tura, variando de 1,2 a 3,3%. H. LI et al (2004)
tambm realizaram misturas com slica ativa
(microsslica) e nano-SiO
2
, porm em algumas
misturas foi adicionado o nano-Fe
2
O
3,
onde foi
possvel observar o seu desempenho em sepa-
rado, e utilizou-se um superplasticante com
propores variando de mistura para mistura.
As misturas e e as resistncias compresso aos
28 dias esto representadas na tabela 2.
Com relao aos valores apresentados
pelos dois autores, pode-se observar uma gran-
de discrepncia na qual a princpio no pode
REVISTA CONCRETo
48
ser atribuda relao gua/aglomerante, pois
os dois estudos utilizaram a mesma relao.
Portanto, podese admitir que as variveis
que inuenciaram nos resultados esto rela-
cionadas compatibilidade do cimento com o
superplasticante, granulometria da areia (no
mencionada com detalhes pelos autores), falta
de dados sobre caractersticas fsicas e qumicas
da Nano-Fe
2
O
3
, detalhes do processo de cura,
entre outras muitas variveis que podem ter in-
uenciado no resultado do teste de resistncia
compresso. Embora no tenha sido possvel
comparar misturas com nano-Fe
2
O
3
em ambos
trabalhos, demonstrou-se que a utilizao desta
nanopartcula eciente para o aumento da
* SPC = somente Cimento Portland **SF = amostras contendo microsslica (5%,10%,15%)
*** NS = amostras contendo nano-SiO
2
(3%,6%,10%,12%)
resistncia compresso at um determinado
limite ou faixa.
2.3 TCNICAS DE INVESTIGAO
Depois de 27 anos da criao do micros-
cpio de varredura por tunelamento (STM) pelos
pesquisadores da IBM, atualmente, existe uma
gama de equipamentos bem sosticada e pode-
rosa, que vo desde o registro de uma simples
foto (fotomicrograa) chegando at mesmo a
indicar a formao de relevo, movimentao de
tomos ou manipulao de nano-estruturas. As
guras 4a e 4b mostram uma imagem utilizando
a Microscopia eletrnica de Varredura (Scanning
REVISTA CONCRETO
49
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
Electron Microscopy-SEM), onde se pode obser-
var claramente a diferena de tamanho entre
a slica ativa e a nano-SiO
2
. Com a adio de
nanopartculas na pasta de cimento, houve uma
mudana no comportamento de hidratao.
que poder ser observado na microestrutura
da pasta endurecida, representada pela gura
5. A gura 5a mostra uma imagem de uma
pasta endurecida na qual no foi adicionado
nanopartculas, e corresponde a mistura A da
tabela 5. A gura 5b mostra a imagem de uma
pasta endurecida na qual foi adicionada a nano-
partcula nano Fe
2
O
3
e corresponde a mistura
B1 da tabela 5. A mistura B1 apresentou maior
resistncia compresso, sendo que a textura
dos produtos hidratados foram mais densos e
compactos, na qual os grandes cristais como o
CaOH
2
estavam ausentes.
Atravs das fotomicrograas, podemos
armar que as nanopartculas no s apresen-
taram melhor desempenho frente pasta de
cimento comum, como tambm promoveram
uma melhora na interface entre a pasta e o
agregado. A utilizao do SEM para analisar
compsitos de cimento/nanotubos de carbo-
no tornou-se imprescindvel, uma vez que os
CNTs mostram uma caracterstica de reforo
do compsito, formando pontes entre uma
face e outra da ssura, melhorando o desem-
penho do compsito. Isso pode ser observado
claramente na gura 6, atravs de uma imagem
obtida atravs do SEM, onde a microestrutura
corresponde a mistura 3 da tabela 2.
3. Obteno do nano-concreto
e prximos desaos
3.1 NANO-CIMENTO
Uma das primeiras questes a sntese
do nano-cimento. Como mencionado anterior-
mente, o tamanho das partculas de cimento
tem de ser reduzidas a uma ordem de mag-
nitude. Algumas tentativas foram feitas, ou
utilizando snteses qumicas ou por separao
por meio mecnico, porm no se tem registro
de informaes publicadas que possam servir
como referncia. Em conseqncia do nano-
cimento surge outra questo importante, que
REVISTA CONCRETo
50
a estrutura do cimento hidratado, na qual ques-
tes como calor de hidratao, rea especca
(Blaine) e at mesmo a tcnica de fabricao
iro desempenhar um papel importante no
estudo da nano-estrutura, na qual surgiro no-
vos conceitos e muitas descobertas sem sombra
de dvidas. Algumas perguntas fundamentais
precisam ser respondidas, que so:
A inuncia da relao da relao
gua/cimento para o nano-cimento
a mesma? A capacidade de resistncia
e deformao utilizando o nano-cimento
permanece a mesma? possvel usar bras
nanometlicas?
Realmente so questes que impem
um grande desafio, principalmente por ser
um assunto no explorado, mas de extrema
importncia.
3.2 PRXIMOS DESAFIOS
O desao principal a fabricao de na-
nopartculas de cimento Portland, uma vez que
a partir da outras barreiras sero transpostas e
ir gerar um sem nmero de oportunidades.
Um dos motivos que impedem o uso pleno
de reforo com bras de carbono sem restries
a sua baixa capacidade de resistncia ao fogo,
ou melhor, a baixa capacidade do adesivo, na
qual em temperaturas mais elevadas apresenta
queda de desempenho. Isso, sem dvida, poder
ser estudado mais a fundo com o uso do nano-
cimento, onde o cimento poderia ser usado como
um adesivo inorgnico com bras de carbono,
que resistiria melhor a altas temperaturas.
Assim, abriria novas oportunidades para
a rea de revestimentos, que tem enormes cam-
pos de aplicao como: abraso, ataque qu-
mico, esttico, etc. Com certeza, no podemos
esquecer do nano-concreto, na qual espera-se
um grande desempenho, seja apresentando
maior durabilidade, maior resistncia com-
presso, maior tenacidade e mais vantagens
que os concretos de ps-reativos.
Acredita-se, inclusive, que poderia se
desenvolver tanto um concreto ou argamassa
com propriedades hidrofbicas (que repelem a
gua) como tambm um concreto ou argamassa
hidroflica (que atrai a gua), sendo o primei-
ro para proteger as armaduras do concreto e
o segundo para pavimentos de estradas. Esses
exemplos citados so s uma parte do potencial
que pode ser desenvolvido futuramente, ou seja
a ponta de um iceberg de solues.
4. Panorama atual da
nanotecnologia e a construo
Em outubro de 2006 o Nanoforum.org
(European Nanotechnology Gateway) emitiu
informaes imprescindveis sobre a nanotec-
nologia e a construo, entrevistando empresas
e prossionais. O material que mais est envol-
vido nas pesquisas o cimento como podemos
ver na gura 7.
5. Concluso
Neste trabalho, foram apresentados
alguns resultados de pesquisas aplicando a
REVISTA CONCRETO
51
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
IBRACON
LNGUAS OFICIAIS DO EVENTO
TEMAS
Portugus e ingls
Barragens de CCR Planejamento e Projeto
CCR para Pavimentao
Prticas em CCR em Diferentes Pases
Materiais oara CCR e Controle de Qualidade
SIMPSIO INTERNACIONAL DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO (CCR)
Evento paralelo ao 50 Congresso Brasileiro do Concreto
5 A 7 DE SETEMBRO DE 2008
O Brasil um dos pases que possuem maior
quantidade de obras construdas com CCR no
mundo. J so mais de 50 barragens para
abastecimento de gua e gerao de energia.
O simpsio uma excelente oportunidade para
conhecer este desenvolvimento, para saber das
ltimas novidades em termos de projetos,
construes e controle da qualidade, bem como
para interagir com especialistas internacionais
sobre o assunto.
Mais informaes www.ibracon.org.br
0
5
25
75
95
100
CalhauCCR
sexta-feira,1deagostode200817:49:48
nanotecnologia. Viu-se o grande potencial e
as grandes oportunidades que possam surgir
com o aprofundamento dos estudos da nano-
tecnologia na construo civil e, em especial,
na fabricao do nano-cimento, que ser um
dos materiais mais importantes do sculo
XXI. A partir da muitas perguntas podero
ser respondidas, onde novas pesquisas mos-
traro o comportamento da hidratao com
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
[01] BALAGURU P.N, KEN CHONG AND JORN LARSEN-BASSE. Nano-concrete: Possibilities and challenges.,
NICOM 2: 2
nd
International Symposium on Nanotechnology in Construction, pp 233-243, Bilbao, Spain, 2005.
[02] BYUNG-WAN JO, CHANG-HYUN KIM, GHI-HO TAE , JONG-BIN PARK. Characteristics of cement mortar with
nano-SiO2 particles. Elsevier Construction and Building Materials, 2005.
[03] GENG YING LI, PEI MING WANG, XIAOHUA ZHAO.- Mechanical behavior and microestruture of cement
composites incorporating surface-treated multi-walled carbon nanotubes. Elsevier Carbon , v 43,
pp 1239-1245, 2005.
[04] HUI LI, HUI-GANG XIAO, JIE YUAN, JIN-PING OU .- Microstructure of cement mortar with nano-particles.
Elsevier Composites Parte B, v 35, pp 185-189, 2004.
[05] MAKAR J., MARGESON J. , LUH J..- Carbon nanotube/cement composites- early results and potential
applications. In: 3
rd
International Conference on Construction Materials: Performance, Innovations and
Structural Implications, Vancouver, Canada, 2005.
nano-cimento, a utilizao de nanopartculas
incorporadas ao nano-cimento, e se criar um
novo plo gerador de produtos no s para
construo civil, mas para toda uma rea tec-
nolgica. Espera-se que num futuro prximo
possa se desvendar os mecanismos e tcnicas
do nano-concreto, para que seja produzido em
larga escala e recomendado pelos projetistas
nas estruturas de concreto.
REVISTA CONCRETo
52
Controle de qualidade dos
concretos estruturais: ensaio de
aderncia ao-concreto
Michel Lorrain
INSA Toulouse, LaSaGeC ISA-BTP Anglet
Mnica P. Barbosa
Departamento de Engenharia Civil-UNESP/Ilha Solteira
Resumo
Para a elaborao dos elementos es-
truturais calculados em concreto armado, a
normalizao em vigor no Brasil e no exterior
exige o conhecimento da resistncia com-
presso do concreto. Neste procedimento,
existe a necessidade de contar com servios
e infraestutura de laboratrios cadastrados,
algumas vezes distantes dos canteiros de obra
e equipados de prensas modestas ou obsoletas,
e de custo relativamente elevado. Entretanto,
to importante quanto, conhecer a resistncia
da ligao armadura-concreto.
Prope-se aqui uma alternativa de
ensaio de compresso simples: o ensaio de
aderncia entre o concreto e a armadura de
ao. Conhecido e praticado desde o incio das
construes em concreto-armado, este ensaio
permite estabelecer uma correlao incontes-
tvel entre a resistncia do concreto e a ligao
armadura-concreto.
Prope-se utilizar esta correlao para
assegurar a qualidade do concreto estrutural a
partir dos resultados dos ensaios de aderncia,
ou seja, atravs de uma proposta de um ensaio
de aderncia que pode ser realizado de maneira
simples e econmica, com respostas conveis,
e factveis, que pode ser efetuado em canteiros
de obras e que fornea informaes sobre a
resistncia e o comportamento do concreto.
Para os ensaios ora realizados, em locais
cujas condies tcnicas so consideradas bem
rudimentares, os resultados obtidos so bas-
tante satisfatrios, conforme mostra a curva
que correlaciona esses resultados e outros de
ensaios encontrados na bibliograa, o que po-
der vir a conrmar a capacidade do ensaio de
aderncia de se tornar um ensaio universal de
qualicao do concreto armado.
Introduo
O controle da qualidade dos materiais
utilizados em obras de construo civil, elabo-
radas em concreto armado, uma etapa indis-
pensvel para a vericao da conformidade da
execuo das mesmas, tendo em vista os memo-
riais de clculo do projeto a ser construdo.
A qualidade da execuo dos trabalhos
e, em particular, dos materiais colocados em
obra dentro dos canteiros, , sem dvida, uma
condio necessria para se garantir a seguran-
a da estrutura em funo dos riscos naturais
que podem atingi-la e torn-la imprpria sua
destinao. A cobertura dos riscos pelas com-
panhias de seguro se apia sobre a exigncia
da qualidade.
Quando este controle devidamente
praticado, em um primeiro momento, ele
permite evitar que sinistros graves, particular-
mente os desmoronamentos, ocorram. Ele pode
tambm, num segundo momento, permitir
a otimizao da planicao da empreitada,
possibilitando uma desfrma rpida, uma
desmontagem antecipada dos andaimes, uma
explorao parcial dos espaos, etc.
Se a convenincia do controle de qua-
lidade no pode e no deve ser colocada em
T
E
C
N
O
L
O
G
I
A
REVISTA CONCRETO
53
questo, pode-se, entretanto, se interrogar
sobre a eficcia efetiva dos procedimentos
atuais, em funo dos numerosos e espetacu-
lares sinistros que afetam os canteiros de obras
de construo em concreto armado h anos,
aos quais conveniente se somar as grandes
e macias destruies que ocorrem devido s
catstrofes naturais, em algumas regies do
mundo.
Desse modo, este artigo tem como meta
fazer uma abordagem geral sobre a situao e
propor um novo procedimento, como uma so-
luo alternativa s praticas atuais obrigatrias
de segurana empregadas nos canteiros de obra
de construo civil.
Na primeira parte desse artigo, apre-
sentado e discutido o controle de qualidade dos
concretos estruturais da maneira como pratica-
do atualmente. Na segunda parte, feito uma
anlise crtica dos ensaios de aderncia como
uma alternativa ao ensaio de qualidade atual.
O estudo da viabilidade tcnica e econ-
mica desta soluo alternativa tratado com a ex-
posio de um caso concreto na terceira parte.
Controle de qualidade atual
CARACTERSTICAS DO CONTROLE
DE QUALIDADE ATUAL
O controle de qualidade atual elabora-
do nas obras, na maioria dos pases, repousa
exclusivamente sobre ensaios de ruptura de
corpos de prova cbicos ou cilndricos molda-
dos no canteiro de obra, assim que o concreto
colocado nas frmas. Para tanto, na maioria
das vezes, so contratados laboratrios de
engenharia civil cadastrados, que dispem de
materiais apropriados, sucientemente capaci-
tados para testar, conforme as normas em vigor,
os concretos, cuja resistncia compresso pode
variar de 15 a 50 MPa [1], [2].
Em 1904, a Associao Germnica de
Arquitetos e Engenheiros juntamente com a
Associao Alem do Concreto iniciaram o pro-
jeto preliminar de normalizao para dimensio-
namento, execuo e ensaio de estruturas de
concreto armado, que se tornaram base para a
regulamentao que, logo depois, foi promul-
gada pelo governo da Prssia.
Na Frana, atravs da circular ministe-
rial de 20 de outubro de 1906 [3], xando as
instrues relativas ao emprego do concreto
armado, foi introduzido o limite de trabalho
e de fadiga para a compresso do concreto
armado, denido como sendo 28 centsimos
da resistncia ruptura adquirida pelo concreto
aps (90) noventa dias de pega, estando esta
resistncia medida sobre os cubos de 20 cen-
tmetros de aresta.
A partir desta data, normalizaes
de calculo se sucederam [3] sem, entretanto,
mudar o princpio de avaliao da qualidade
do concreto estrutural pela sua resistncia
compresso simples, mesmo se as modalidades
do concreto evoluram notadamente quanto
forma e a idade dos corpos de prova.
As primeiras Normas Brasileiras foram
de cimento, publicadas por decreto do ento
presidente da Repblica Getlio Vargas, tendo
sido elaboradas nas reunies de Ensaios de
Materiais, realizadas no IPT, com a presena de
cones da Engenharia Brasileira como Ary Tor-
res, Lobo Carneiro, Hiplito Van Langendonk,
etc. Em 1940, na terceira reunio desse grupo,
foi fundada ocialmente a ABNT e publicada
a primeira Norma Brasileira de Projeto de Exe-
cuo de Obras de Concreto Armado, a NB-1,
que, aps diversos processos de atualizao,
hoje a ABNT NBR 6118:2003, reconhecida inter-
nacionalmente pela ISO 19338, e que preconi-
za o mesmo princpio da avaliao da norma
francesa. Assim sendo, pode-se observar que
o controle de qualidade do concreto repousa,
atualmente, quase que exclusivamente, sobre
os ensaios de ruptura compresso de corpos
de prova cilndricos ou cbicos, emoldurados
nos canteiros de obra quando o concreto
colocado em frma.
Se o nmero de corpos de prova mol-
dados suciente, os resultados podem ser
tratados estatisticamente e conduzidos a uma
avaliao da resistncia caracterstica do con-
creto. Na ausncia disso, poderia se dispor de
resultados que permitiriam, ao menos, avaliar
uma resistncia mdia, utilizada para julgar a
convenincia do material da estrutura.
VANTAGENS E INCONVENINCIAS
APARENTES DO ENSAIO DE COMPRESSO
SIMPLES DO CONCRETO
As vantagens desse ensaio de compres-
so simples so mltiplas e permite ser com-
preendido facilmente, o que o coloca a favor
das comisses de regulamentos e de normali-
REVISTA CONCRETo
54
zaes. Entre as vantagens existentes podem
ser citadas:
1 As correlaes satisfatrias que so
estabelecidas entre a resistncia
compresso simples e as outras resistncias,
trao, ao cisalhamento, a resistncia da
ligao armadura-concreto. Estas
correlaes permitem a determinao
de expresses algbricas regulamentares
correspondentes [2], [4];
2 A resistncia compresso do concreto
diretamente explorada para calcular os
valores das solicitaes resistentes sobre
ao normal que constituem o membro
resistente das inequaes de segurana:
3 O ensaio de compresso simples
aparentemente fcil de ser feito;
4 O ensaio de compresso simples
aparentemente fcil de ser interpretado.
O procedimento regulamentar de controle
de qualidade pelo ensaio de compresso simples
apresenta tambm alguns inconvenientes aparen-
tes: o ensaio em questo no assim to fcil de
ser executado e de ser interpretado. So elas:
1 A interpretao do ensaio no to
evidente, exceto de maneira convencional,
pois as condies aos limites reais so
aquelas de um ensaio de deslocamento
imposto as faces de apoio, o que no cria
um campo uniforme de tenso imposta as
faces para um material heterogneo, que
o caso do concreto;
2 A obrigatoriedade de se servir dos
servios de laboratrios cadastrados,
algumas vezes distantes do canteiro
de obra, equipados de prensas modestas
quando no obsoletas, ou muitas vezes com
a superfcie das faces de apoio apresentando
problemas de resqucios de enxofre, usados
no processo de capeamento;
3 A demora para se ter a restituio
dos resultados, o que reduz fortemente a
possibilidade de agir rapidamente no ptio
do canteiro de obras;
4 Com o aumento da resistncia ligada,
por sua vez, somente a certas sugestes
de manuseamento, caso dos concretos
bombeados, os esforos de colocar
o concreto em obra so cada vez mais
importantes e crescentes e as mquinas de
ensaio se tornaram sosticadas;
5 O custo, que pode ser muito elevado, etc.
Tais inconvenientes so ainda mais gra-
ves no caso dos canteiros de obra localizados
em pases economicamente mais pobres, onde
normalmente a demanda de construir maior
e urgente. No caso do Brasil, nas regies mais
afastadas dos grandes centros, que no dis-
pem de laboratrios equipados para esse tipo
de ensaio, isto uma realidade.
Como concluso, pode-se dizer que
embora o ensaio de compresso simples do
concreto seja denido como ensaio de refern-
cia desde o incio das normalizaes, o mesmo
no possui as virtudes que lhe so geralmente
atribudas. Ele fornece a garantia da qualidade
e do dado para o calculo estrutural, o que
indispensvel. Nada justica, entretanto, seu
carter de referncia exclusiva.
Uma alternativa de ensaios de compresso
simples: o ensaio de aderncia
O ENSAIO DE ADERNCIA E O CONTROLE DE
QUALIDADE DOS CONCRETOS ESTRUTURAIS
O ensaio de aderncia conhecido e colo-
cado em prtica depois do incio da construo
em concreto armado destinado a avaliar a
resistncia da ligao entre o concreto e a ar-
madura, condio necessria ao funcionamento
mecnico correto dos materiais compsitos,
caso do concreto armado. Eles tambm regu-
lam as propriedades e o desenvolvimento das
formaes das ssuras e de suas aberturas.
No , evidentemente, o caso do ensaio
de compresso simples, realizado unicamente
com o material concreto.
Dentro de seu princpio, o ensaio de ade-
rncia consiste em fazer extrair uma barra de
armadura de ao, geralmente posicionada no
centro de um bloco de concreto (gura 1), arran-
T
E
C
N
O
L
O
G
I
A
REVISTA CONCRETO
55
cando ou puxando sobre ela (ensaio de PULL-
OUT TEST ou ensaio de PUSH-OUT TEST).
Uma vez rompida a ligao ao-concreto,
a barra se desloca com mais ou menos facilidade
dentro do bloco de concreto dependendo da ru-
gosidade da sua superfcie envolvida (armadura
lisa ou armadura nervurada). O valor do pico de
resistncia permite calcular convencionalmente
a tenso de cisallhamento ltima da ligao,
denominada tenso de aderncia pela diviso da
fora mxima aplicada pela superfcie nominal de
ancoragem. O resultado tpico de um ensaio de
aderncia dado como exemplo na gura 2 sobre
a forma de curva de variao do deslizamento
medido na extremidade livre da barra solicitada,
em funo da fora de arrancamento.
Conhecido e praticado desde o incio
da construo do concreto armado, este en-
saio no nada mais que um procedimento
de laboratrio que permite estabelecer uma
correlao incontestvel entre a resistncia do
concreto e a da ligao armadura-concreto.
sobre esta correlao que se apia a prtica
atual que consiste, desde que os dispositivos
construtivos sejam devidamente respeitados,
em assegurar a qualidade da aderncia partir
de resultados dos ensaios de compresso sim-
ples do concreto [4].
Vrias maneiras de operao so poss-
veis, arrancamento, deslizamento, beam-test ,
etc. No existe uma norma relacionada a este en-
saio, mas apenas recomendaes internacionais
emitidas pela RILEM [5] e tambm pela ASTM
C234 (1991), embora o emprego desse mtodo
seja recomendado em diversos pases. No caso
da recomendao RILEM, preconizado um en-
saio de arrancamento sobre um cubo de 20 cm
de aresta. Entretanto, salienta-se a importncia
da normalizao desse ensaio, visto que alguns
itens, como forma e dimenso do corpo-de-
prova, comprimento mergulhado, comprimento
de aderncia e direo de concretagem podem
alterar substancialmente os resultados.
Vantagens e desvantagens aparentes
do ensaio de aderncia
Dentre as vantagens do ensaio de ade-
rncia, pode-se citar:
1 Trata-se de um ensaio real,
verdadeiro, sobre o material composto
concreto armado. No , evidentemente,
o caso do ensaio de compresso simples,
realizado unicamente com o material
concreto;
2 Os esforos exercidos so moderados,
mesmo no caso de concretos de alta
resistncia;
3 A correlao entre a resistncia
compresso simples forte. a mesma
que foi anteriormente mencionada no
item de vantagens do ensaio de
compresso simples. esta correlao
que permite de garantir a resistncia
aderncia a partir da resistncia do
concreto compresso, conforme mostrado
na gura 3.
Naturalmente, o ensaio de aderncia
traz tambm desvantagens ligadas quer seja
sua execuo, quer seja sua interpretao.
Pode-se citar:
1 As diculdades ligadas sua execuo;
REVISTA CONCRETo
56
2 A diversidade dos protocolos operacionais
possveis e em estado de validade;
3 A dependncia de resultados vis--vis
da rugosidade da armadura, normalmente
caracterizada pelo coeciente f
R
fornecido
pelos fabricantes de armaduras.
Como concluso sobre o ensaio de
aderncia pode-se armar que ele leva a uma
garantia da qualidade e do dado de clculo,
que so indispensveis para a vericao da
conformidade de execuo de um projeto. su-
ciente para isso, utilizar a lei de correlao entre
a resistncia compresso e a tenso ltima de
aderncia, mas fazendo um procedimento no
sentido inverso, ou seja, assegurando a qualida-
de do concreto estrutural a partir dos resultados
dos ensaios de aderncia. A gura 4, traada a
partir da lei de correlao denida sobre a gura
3, ilustra esta maneira
de raciocnio.
Como os esfor-
os colocados em jogo
para escapar resis-
tncia da ligao ar-
madura-concreto so
geralmente 10 a 20
vezes mais fracos que
aqueles necessrios
ssurao dos corpos
de prova de concreto,
pode-se facilmente
e a um custo menor
colocar em operao
este tipo de controle
de qualidade direta-
mente no canteiro de
obra, o que uma vantagem no desprezvel.
Ningum se ope a que este tipo de
ensaio de aderncia venha a ser um ensaio de
referncia em matria de controle de qualidade
dos concretos estruturais.
Estudo da viabilidade tcnica e
econmica do ensaio de aderncia
como ensaio de controle de qualidade
Colocou-se o princpio denido an-
teriormente, aplicando-o em vrios locais,
fabricando corpos de prova e os testando
por arrancamento para se poder validar a
teoria do raciocnio formulado, e para ter
certeza da sua viabilidade tcnica, alm de
comprovar a facilidade de fazer este tipo de
ensaio e o baixo custo
acarretado para a sua
execuo.
Para tanto, fo-
ram fabricadas e sub-
metidas a ensaios de
arrancamento corpos
de prova rudimentares
de concreto moldados
dentro do envolt-
rio plstico de garrafa
plstica de gua mi-
neral, descartadas na
natureza, com 8 cm de
dimetro, para arma-
duras nervuradas de
dimetro igual a 8 mm,
envolvidas sobre um
T
E
C
N
O
L
O
G
I
A
REVISTA CONCRETO
57
comprimento de ancoragem variando de 10 a
12 cm. O concreto, confeccionado nas mesmas
condies do canteiro de obra, foi denido
como sendo de classe 40. Os ensaios foram
efetuados parte no INSA de Toulouse - Franca e
parte na Escola Nacional de Engenharia de Ga-
bes (ENIG), na Tunsia. A fora de arrancamen-
to foi aplicada coma ajuda de um macaco de
protenso munido de um manmetro, tal qual
utilizado sobre canteiro de obra. Os ensaios
permitiram determinar a resistncia da ligao
(fora mxima de arrancamento) de onde foi
deduzido, a princpio, o valor da tenso ltima
de aderncia. As guras 5 e 6 ilustram fases dos
procedimentos de ensaio realizados.
O tipo de ruptura observada foi, sis-
tematicamente, o deslizamento da barra em
relao ao concreto envolvido sem ocorrer
ssurao longitudinal do concreto. Os pontos
correspondentes aos valores da tenso ltima
de aderncia obtidos (ensaios INSAT: Hamoui-
ne ; ensaios ENIG : Daoud) podem ser coloca-
dos sobre a curva de correlao das guras 3
e 4 de uma maneira mais do que satisfatria,
conforme pode ser observado na figura 7,
sobre a qual foram igualmente colocados os
resultados do trabalho de ARNAULD[7] sobre
as propriedades de aderncia do concreto nas
primeiras idades.
Concluso
Os ensaios at agora realizados condu-
ziram aos resultados que conrmam a capaci-
dade do ensaio de aderncia de se tornar um
ensaio de qualicao do concreto armado.
Ademais, a diferena do ensaio de compresso
simples, efetuado unicamente sobre o concre-
to, e o ensaio de aderncia que este ltimo
testa, sobretudo, a qualidade do compsito
concreto armado.
Para reforcar esta concluso e para dispor
de valores de resistncia da ligao armadura-
concreto para os vrios tipos de armaduras de
nervuras variveis, j est sendo realizado um
programa de pesquisa sistemtica, com vrios
laboratrios de pesquisas de universidades arge-
linas, tunisianas e brasileiras. No Brasil, a parceria
foi montada com uma pesquisadora da UNESP,
esperando que esta colaborao se estenda,
sob o teto da UISF e, se possvel, da ABNT, para
vrios outros laboratrios de pesquisa, com a
nalidade de se criar em torno do ensaio de
aderncia uma real e verdadeira dinmica cient-
ca destinada a dar a este ensaio mecnico uma
credibilidade incontestvel. Espera-se que este
ensaio seja homologado por comisses compe-
tentes, difundido o mais amplamente possvel e
adotado por todos, para que, de uma parte, a
carncia do controle no seja mais aceita como
sendo uma falha esmagadora nos sinistros en-
volvendo o controle do material.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
[01] Normes NF EN 12390-1 12390-7
[02] ABNT NBR 6118 :2003
[03] R. LACROIX, Un sicle de rglementation du calcul des ouvrages en bton , Annales du BTP, srie :
conception-calcul-normalisation et rglementation, octobre-novembre 1998
[04] Eurocode 2 Calcul des structures en bton, Partie 1-1
[05] Recommandations RILEM/CEB/FIP-RC 6, Matriaux et Constructions, n 32, 1973
[06] Association de btons et darmatures hautes performances , PN BHP 2000, Presses de lENPC, Paris 2003
[07] M. ARNAUD, Rsistance au glissement daciers enrobs dans un bton au cours de la prise et du dbut du
durcissement , Annales de lITBTP Srie Bton n135, janvier 1974
REVISTA CONCRETo
58
Propriedades do concreto
auto-adensvel em pisos industriais
Emerson Cremm Busnello
Antonio Damio dos Santos
Cimpor Concreto
1. Introduo
Os concretos auto-adensveis (CAA) fazem
parte das mais recentes solues utilizadas na
construo civil, permitindo a reduo no tempo
de concretagem, facilidade na aplicao, reduo
da quantidade da mo-de-obra e melhora na
qualidade nal das peas concretadas.
Quanto s suas propriedades, o concreto
auto-adensvel (CAA) se caracteriza por apresentar
reologia diferenciada, resultando em elevada tra-
balhabilidade e mobilidade, sendo conhecido como
concreto reodinmico. A m de garantir estas carac-
tersticas no estado fresco, os traos destes concretos
so diferenciados, geralmente, necessitam de maior
teor de nos passantes na peneira # 0,075 mm, restri-
es utilizao de agregados grados superiores a
19mm e apresentam maior teor de argamassa.
Por sua vez, a tecnologia de execuo de
pisos industriais de acabamento polido vm sendo
aplicada correntemente nas obras mais diversas
como garagens, postos de combustveis, galpes
industriais, pavimentos e outros, consolidando este
mtodo construtivo, de tal forma que garanta a
durabilidade e padro esttico requeridos.
As especicaes dos concretos para pisos
industriais polidos vm sendo cada vez mais apri-
morada pelos consultores, executores e prestado-
res de servios de concretagem, sendo que uma das
grandes preocupaes a retrao do concreto no
estado endurecido, sendo que, por este motivo,
restringe-se o teor de argamassa e consumo de
cimento, o que limitaria a utilizao de concreto
auto-adensvel para pisos industriais polidos.
2. Objetivo
Este estudo foi desenvolvido visando o
fornecimento do concreto auto-adensvel pro-
duzido em central dosadora de concreto locali-
zada em Camacari/BA, que permitiu avaliar seu
desempenho quanto aos tempos de pega, retra-
o por secagem e mdulo de deformao frente
s especicaes para pisos industriais polidos,
possibilitando a viabilizao desta soluo.
3. Reologia do concreto auto-adensvel
O termo reologia foi denido por Bin-
gham em 1929. originado da palavra grega
rhein que signica escorrer e corresponde
ao estudo da deformao e do escoamento da
matria. o ramo da fsica que se preocupa com
a mecnica de corpos deformveis, os quais po-
dem estar no estado slido, lquido ou gasoso.
Segundo Manrich e Pessan, se o corpo
em considerao for um uido, a aplicao de
qualquer sistema de foras anisotrpico (dife-
rentes foras aplicadas em diferentes direes)
e heterogneo (diferentes foras aplicadas em
diferentes posies), ainda que pequeno, resul-
tar em escoamento. Alm disso, a relaxao do
sistema de foras no resultar no retorno do
corpo ao seu estado no-deformado.
A qualidade do concreto fresco deter-
minada por sua homogeneidade e pela facilida-
de com a qual esse material possa ser misturado,
transportado, adensado e acabado. Capacidade
de escoamento, capacidade de moldagem, co-
eso e compactabilidade so propriedades da
trabalhabilidade que esto associadas quali-
dade do material. A capacidade de escoamento
est relacionada com a consistncia, uma vez
que esta determina a facilidade com que um
concreto deforma, porm, concretos com con-
sistncias semelhantes podem exibir diferentes
caractersticas de trabalhabilidade.
A coeso, que uma medida da compac-
tabilidade e da compacidade de acabamento,
REVISTA CONCRETO
59
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
geralmente avaliada pela facilidade de alisa-
mento e pelo julgamento visual da resistncia
segregao (MEHTA & MONTEIRO, 1984).
Dessa maneira, a importncia da tra-
balhabilidade na tecnologia dos concretos
muito clara. Independentemente da sostica-
o utilizada nos procedimentos de dosagem
e de outras consideraes, tais como o custo,
uma mistura de concreto que no pode ser
lanada facilmente ou adensada em sua to-
talidade, provavelmente, no apresentar as
caractersticas de resistncia e durabilidade
inicialmente desejadas.
4. Ensaios experimentais e aplicao do CAA
O estudo experimental foi desenvolvido
a partir da especicao do concreto pela obra,
que previa fctm,k = 6,0 MPa, slump-ow de
650+-50 mm, utilizao de slica ativa no teor
de 11% visando a durabilidade do piso que
estar exposto agentes qumicos agressivos
quando de sua utilizao futura e 1,8 kg de -
bra de vidro/m
3
para compensao dos esforos
de retrao.
Os materiais utilizados para as dosagens
de laboratrio foram o cimento CPIIF32, areia
natural e britas procedentes da regio de Cama-
cari/BA, sendo que duas dosagens de concreto
auto-adensvel, de slump-ow de 650+-50 mm,
foram elaboradas com proporcionamentos dife-
renciados para vericao de suas propriedades
no estado endurecido e uma dosagem referncia
foi elaborada para lanamento atravs de bom-
ba, a qual predominantemente utilizada pelo
mercado brasileiro com slump de 100+-20 mm.
Todos com a nalidade de aplicao em pisos
industriais polidos e com as mesmas adies j
descritas, sendo que o concreto auto-adensvel
foi especicado para lanamento convencional.
O consumo de cimento da dosagem re-
ferncia foi adequado para a mesma faixa de
consumo dos concretos auto-adensveis para
que as propriedades do concreto endurecido
fossem comparadas.
A Tabela 1 apresenta as caractersticas
principais das dosagens elaboradas, bem como,
o slump/slump-ow obtido.
O aspecto dos concretos elaborados po-
dem ser observadas pelas Figuras 1, 2 e 3, sendo
que o concreto da dosagem 1 apresentou maior
espalhamento no ensaio de slump ow, bem
como, maior mobilidade permitindo um maior
escoamento do concreto sobre a superfcie.
Para a vericao dos tempos de incio e
m de pega, adotou-se a dosagem 2, a m de
compatibilizar o tempo para incio das opera-
es de acabamento/polimento do piso, o qual
REVISTA CONCRETo
60
especicado pela maioria das empresas de
execuo como sendo de aproximadamente 6
horas. Os resultados obtidos no ensaio podem
ser observados na tabela 2.
No estado endurecido, os concretos
estudados foram submetidos ao ensaio para
determinao da resistncia compresso e
mdulo de deformao secante (Ecs), sendo os
resultados apresentados nas tabelas 3 e 4.
Para avaliao do desempenho das do-
sagens quanto variao dimensional foram
realizados os ensaios de retrao por secagem
atravs da moldagem de corpos-de-prova pris-
mticos. Em seguida, os corpos-de-prova foram
levados cmara mida com umidade relativa
maior que 95% e temperatura de 23+-2 C at
completar 30 minutos. Aps este perodo, os
corpos-de-prova foram levados cmara seca
com umidade relativa de 50+-4 % e temperatu-
ra de 23+-2 C. As leituras de variao dimensio-
nal foram executadas com relgio comparador,
com aproximao de 0,001% nas idades de 4,
7, 14 e 28 dias.
Os corpos-de-prova prismticos molda-
dos, ainda na frma, e os resultados obtidos
no ensaio so apresentados atravs da Figura
4 e Tabela 5.
O piso industrial em questo compos-
to por placas de concreto com dimenses de
REVISTA CONCRETO
61
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
7,0 x 7,0 m e espessura 16 cm. As placas foram
concretadas em faixas de 7,0 m de largura, de
maneira contnua, executando a abertura de
juntas de retrao atravs de disco de corte a
cada 7,0 m.
O momento da concretagem das placas
e as placas acabadas podem ser observados
atravs das guras 5 e 6.
5. Anlise de resultados e discusses
No aspecto reolgico, a dosagem 1 apre-
sentou, no estado fresco, caractersticas auto-aden-
sveis propriamente ditas, visto que o concreto
teve a mobilidade adequada, com slump-ow
previsto, garantindo a homogeneidade contnua
da mistura, sem exsudao evidente.
A dosagem 1, comparada dosagem 2,
apresenta menor teor de argamassa e curva gra-
nulomtrica mais descontnua, o que garantiu
as propriedades do CAA no estado fresco, com-
pensado pelos nos passantes na # 0,075mm,
como o cimento e a slica ativa.
O tempo de incio de pega obtido com-
patvel com o obtido para os concretos comu-
mente utilizados para pisos industriais polidos.
As resistncias compresso dos con-
cretos auto-adensveis (dosagens 1 e 2) so
REVISTA CONCRETo
62
0
5
25
75
95
100
IIWorkshopPavimentos
sexta-feira,1deagostode200817:59:16
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
[01] ASTM C 157. Standard Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic-Cement Mortar and Concrete,
adaptado ABCP.
[02] CASTRO, A. L..Aplicao de conceitos reolgicos na tecnologia dos concretos de alto desempenho, Tese de
doutorado USP, Universidade de So Paulo. So Carlos, 2007.
[03] CHADOUNSKY, M. A. et al.. Pisos industriais de concreto Aspectos tericos e executivos. So Paulo, 2007
[04] MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. Concreto : estrutura, propriedades e materiais. So Paulo, 1994.
[05] NBR 5738 Concreto Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova. Rio de Janeiro. 2003.
[06] NBR 5739 Concreto Ensaio de compresso de corpos-de-prova cilndricos. Rio de Janeiro, 1994.
[07] NBR 8522. Concreto Determinao do mdulo esttico de elasticidade compresso, 2008.
[08] NBR NM 9. Concreto e Argamassa Determinao dos tempos de pega por meio de resistncia
penetrao, 2003.
[09] RODRIGUES, P. P. F. et al.. Manual Gerdau de pisos industriais. So Paulo, 2006.
superiores dosagem referncia (dosagem 3),
mesmo para relaes A/C ligeiramente supe-
riores, devido contribuio da utilizao dos
aditivos hiperplasticantes base de policarbo-
xilatos modicados, o que deve ter melhorado
a zona de transio matriz-agregado.
Os resultados dos ensaios de mdulo de
deformao indicam que a dosagem 1 (CAA)
apresentou maior mdulo de deformao se-
cante Ecs, representando menor deformao,
justicado pelo menor teor de argamassa utili-
zado; entretanto, a dosagem 2 (CAA) apresenta
maior teor de argamassa que a dosagem 3,
sendo que o mdulo de deformao secante Ecs
da dosagem 2 maior que da dosagem 3.
Quanto retrao por secagem at a
idade de 28 dias, a dosagem 1 (CAA) apresenta
menor retrao; entretanto, a dosagem 2 (CAA)
apresenta maior retrao, justicado pelo maior
consumo de cimento, gua e teor de argamassa.
A dosagem 1 (CAA) apresenta menor retrao
que a dosagem 3 (referncia).
Em obra, os dois traos desenvolvidos
para aplicao de concreto auto-adensvel em
pisos industriais polidos foram lanados, sendo
que, em laboratrio, a dosagem 1 apresentou
melhor desempenho quanto retrao.
Desta forma, pela dosagem 1, por todos
os ensaios de laboratrio realizados e pelo
desempenho em obra, foi validado o concreto
auto-adensvel (CAA) para ns de aplicao em
pisos industriais polidos.
M
A
N
T
E
N
E
D
O
R
REVISTA CONCRETO
63
Impermeabilizar as coberturas que
ficam expostas s intempries, como as la-
jes e outras reas igualmente no sujeitas
ao trfego de veculos ou pedestre, pede
ateno especial: da escolha do produto
sua aplicao.
Para que cada etapa seja cumprida
com perfeio, afastando qualquer possibi-
lidade de umidade e vazamentos, a Vedacit/
Otto Baumgart preparou um checklist com-
pleto. Confira:
Escolha o produto, considerando que
reas no sujeitas ao trfego de veculos
ou pedestres devem ser impermeabilizadas
com membrana lquida, de base acrlica e
aplicao a frio, pronta para uso e para ser
moldada no local.
Verique se a superfcie a ser
impermeabilizada est limpa, seca e
regularizada.
Caso seja necessrio, regularize com
argamassa de cimento e areia, com
adio do impermeabilizante, realizando
um caimento mnimo de 1% em direo
aos coletores de guas pluviais.
Para aplicar a primeira demo, chamada
de imprimao, dilua o produto em 15%
de gua, para proporcionar uma melhor
penetrao do produto no concreto.
Nas outras cinco demos, aplicadas com
intervalo de seis horas entre uma e outra, o
impermeabilizante deve ser aplicado puro.
Aqui, cabe uma observao: reas sujeitas
movimentao, como lajes pr, juntas
e trincas, devem receber um reforo entre
a primeira e a segunda demo, com tecido
impermeabilizante.
Tudo pronto, comece a aplicao do
impermeabilizante, que pode ser feita com
escovo de plo macio ou com broxa.
Umidade em laje: o que fazer?
Fase da imprimao: aplicao do produto diludo
em gua
Outras demos: aplicao do produto puro
Secagem: intervalo de 6 horas entre as demos
REVISTA CONCRETo
64
0
5
25
75
95
100
CalhauRevistaRiem
sexta-feira,1deagostode200818:01:28
Espalhe uniformemente o produto sobre
a superfcie.
Considere algumas dicas como: contratar
prossionais habilitados para o servio
de impermeabilizao, pois requerem
conhecimentos especcos; aplicar o
produto com tempo estvel; cobrir objetos
para evitar danos com respingos; estocar
o produto em local coberto, fresco, seco
e ventilado, mantendo-o fora do alcance
de crianas e animais, bem como longe das
fontes de calor.
Sobre a Vedacit /
Otto Baumgart
A Vedacit/Otto Baumgart, empresa
genuinamente nacional com 72 anos de atua-
o, reconhecida como lder de mercado em
produtos de alta tecnologia para a construo
civil. Mais de 120 itens compem as linhas de
impermeabilizantes, materiais para a recupe-
rao de estruturas e aditivos para concreto,
desenvolvidos em laboratrio prprio, viabili-
zando a aplicao constante de tecnologia de
ponta e a elaborao de produtos apropriados
para obras de diferentes dimenses.
Atravs de escritrios de apoio tcnico
e comercial instalados nas principais capitais
brasileiras, mais de 100 representantes e uma
eficiente logstica, os produtos que levam a
marca so encontrados em mais de 30 mil
pontos-de-venda do pas, com cobertura de
94% das lojas de materiais de construo.
Suas linhas de produtos, histrico do
Grupo e informaes sobre suas fbricas em
So Paulo e Salvador esto disponveis no
site www.vedacit.com.br. Os contatos com a
empresa podem ser feitos atravs dos tele-
fones (11) 2902-5555, em So Paulo, e (71)
3432-8900, em Salvador.
REVISTA CONCRETO
65
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
A indstria do cimento e seu
papel na reduo das emisses CO
2
M. Sumner, G. Gianetti e H. Benini
Grace Construction Products
Resumo
Este artigo discute brevemente o pano-
rama atual do Protocolo de Kyoto e o mercado
de crditos de carbono considerando a alter-
nativa da produo de cimentos com menores
teores de clnquer pela indstria cimenteira
no mundo como forma de contribuir para a
reduo das emisses de CO
2
.
Introduo
CIMENTOS COMPOSTOS E ADITIVOS
MELHORADORES DE QUALIDADE
Atualmente, os cimentos compostos re-
presentam uma parcela signicativa da produo
mundial de cimento Portland. Nestes cimentos,
parte do clnquer substudo pelos chamados
Materiais Cimentcios Suplementares (Suplemen-
tary Cementitius Materials) SCM, que conferem
caractersticas especiais ao concreto, tal como
maior durabilidade. Entretanto, os limites de SCM
que podem substituir o clnquer dependem de
uma srie de parmetros tais como: tipo de adio
mineral e sua reatividade, tipo de cimento, nu-
ra, composio do clnquer. Geralmente, as SCM
requerem uma maior energia de ativao para
hidratao comparado ao clnquer, reconhecida,
durante aplicao dos cimentos compostos, pelo
tempo de pega mais prolongado (menor cintica
de hidratao nas primeiras horas) e pelas menores
resistncias iniciais. Por outro lado, com o uso de
aditivos melhoradores de qualidade, compostos
qumicos utilizados em pequenas concentraes
durante a moagem do clnquer na produo do
cimento Portland, possvel reduzir as diferenas
das resistncias mecnicas apresentadas pelos
cimentos compostos quando comparados ao ci-
mento Portland tradicional ou tipo CP-I.
O Protocolo de Kyoto e o esquema
do Tratado de Comrcio da Unio
Europia (EU ETS)
O papel dos aditivos de qualidade na
produo do cimento tem se tornado cada vez
mais importante devido ao potencial aumento
dos teores de substituio de clnquer por adi-
es minerais, que pode ser mais intensamente
incentivado pela adoo do protocolo de Kyoto
e o Esquema do Tratado de Comrcio da Unio
Europia (EU STS).
Pases que ratificaram o protocolo
de Kyoto esto comprometidos em reduzir
as emisses, principalmente do dixido de
carbono (CO
2
o gs que mais contribui
para o aquecimento global) e outros gases
de efeito estufa (GHG green house gases):
o metano (CH
4
), o xido nitroso (N
2
O), cloro-
fluorcarboneto (CFC), hidrofluorcarboneto
(HFCs), o perfluorcarbonetos (PCFCs) e
tambm o hexafluoreto de enxofre (SF
6
). O
acordo estabeleceu a reduo para 87,5%
dos nveis de emisso medidos em 1990 at
o ano de 2012, ou promoo do comrcio
dos crditos de gases no emitidos, se estes
mantiverem ou diminurem as emisses to-
tais destes gases. O tratado foi negociado
em Kyoto, Japo, em 1997 e ratificado em
1999 e definiu legalmente por contrato os li-
mites da emisses dos gases de efeito estufa
GHG nos pases desenvolvidos (referidos
como pases Annex 1). Estes pases devem
apresentar um inventrio anual de emisso
de GHG. Por outro lado, pases em desenvol-
vimento (referidos como pases No-Annex
1) no esto vinculados a nenhuma meta
de reduo de emisses anuais. Em Janeiro
de 2006, mais de 160 pases ratificaram o
acordo (representando 55% das emisses de
GHG). Os pases signatrios so mostrados
na Figura 1.
REVISTA CONCRETo
66
O protocolo de Kyoto inclui os chamados
mecanismos exveis, os quais permitem que
economias Annex 1 cumpram com seus limites
de reduo de emisses pela compra de cer-
ticados de GHG (referidos como crditos de
CO
2
no emitidos) de qualquer outra parte.
Estes podem ser comprados atravs de bolsas
de comrcio, como a EU Emmitions Trading, ou
atravs de projetos que reduzam as emisses
em economias No-Annex 1 signatrias do Me-
canismo de Desenvolvimento Limpo ou CDM,
como os pases da Amrica Latina.
O Tratado de Emisses da Unio Euro-
pia, aprovado em 2003 e iniciado sua opera-
o em 2005, dene um oramento domstico
a cada estado membro, conhecido como Plano
de Alocao Nacional (NAP), que especica
limites de emisses do GHG, segmentando o
setor industrial em gerao de eletricidade,
produo de ferro ou ao, papel e celulose,
vidro ou cermicas e cimento Portland, entre
outros. O NAP resulta de uma anlise das ca-
pacidades instaladas necessrias nos distintos
segmentos, iniciando pelas indstrias de base
e, posteriormente, uma anlise quanto s
redues necessrias para o cumprimento do
protocolo de Kyoto. Os planos de cada Estado-
membro so submetidos Comisso Europia
para aceitao (considerando cada fase da
aplicao do EU ETS). Cada fbrica recebe um
volume mximo de emisso Allowances
considerando:
Primeira fase de 2005-07;
Segunda fase de 2008-12 corresponde ao
primeiro perodo do protocolo de Kyoto;
todos os GHG, e no somente o CO
2
, so
includos nos crditos de CDM, assim como
aqueles produzidos pela aviao;
Terceira fase de 2013-17 corresponde ao
segundo perodo do protocolo de Kyoto,
que, em sntese, envolve um sistema de
reduo e comercializao progressiva com
metas mais rigorosas a cada perodo.
A indstria do cimento: uma fonte
importante de emisso de CO
2
A indstria de cimento, consciente do
impacto das emisses de CO
2
e considerando
seriamente as questes de desenvolvimento
sustentvel na qual est inserida, tem muitos
dos seus maiores produtores mundiais compro-
metidos publicamente com a reduo signica-
tiva das emisses de CO
2
at o ano de 2012. Na
realidade, a indstria cimenteira responsvel
por, aproximadamente, 5% das emisses globais
causadas pela ao humana, sendo:
50 a 60% das emisses geradas na reao
qumica do processo de produo do
cimento (calcinao do calcrio)
30 a 40% so devido combusto dos
combustveis fossis no forno.
REVISTA CONCRETO
67
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
drasticamente ao longo da ltima dcada, como
mostrado na Figura 2. As causas deste decrscimo
podem ser apontadas como:
Menor custo para a produo dos
cimentos compostos
Demanda de mercado por cimentos com
propriedades especiais (resistentes a
sulfatos, menor calor de hidratao, etc.)
E mais recentemente:
Processo de produo de cimento Portland
com menor emisso de CO
2
.
Como resultado desta signicativa re-
duo do fator de clnquer ao longo dos anos,
esperado que, em mdia, se alcance um fa-
tor de clnquer de 0,60 na Amrica Latina em
2010, considerando um valor de 0,66 em 2003,
adotando-se uma simples correlao linear.
O papel dos aditivos
melhoradores de qualidade
Na reduo das emisses de CO
2
, tem
sido de grande interesse a busca por alter-
nativas para maximizar o uso das SCM nos
cimentos, mantendo-se as propriedades no
estado fresco e endurecido dentro dos pa-
rmetros de uso aceitveis. Neste sentido, o
uso de aditivos de qualidade contribui para
um incremento das substituies de clnquer
e, conseqentemente, reduo das emisses
de CO
2
por tonelada de cimento produzido.
Por outro lado, mais do que a reduo das
emisses por tonelada de cimento produzida,
importante considerar as emisses por m
3
de concreto produzido em uma dada classe
de resistncia, que, para ns prticos, deve
ser consideradas na validao do balano de
reduo das emisses de CO
2
.
Em mdia 0,7 ton de CO
2
so produzidas
por tonelada de cimento produzido.
As empresas cimenteiras submetidas ao
EU ETS conhecem quanto CO
2
foi alocado em
cada uma de suas plantas para um determinado
perodo. Ao nal do primeiro perodo (2007),
as companhias que excederam suas metas de
emisso de CO
2
devem comprar crditos de
carbono no mercado aberto e pagar uma multa
de 40 euros por cada tonelada de dixido de
carbono emitida. Ao nal do segundo perodo,
a multa aumentada a um valor de 100 eu-
ros/ton. Se a planta no utilizar sua alocao
total, a companhia pode comercializar este
excedente no mercado. Redues signicativas
das emisses de CO
2
levaro inevitavelmente a
um incremento do custo de energia utilizada
(representa aproximadamente 15% do custo va-
rivel de uma planta em pases desenvolvidos)
e a um custo adicional para os produtores com
restrio de emisso de CO
2
, que tero que com-
prar crditos no mercado (ETS). No entanto, as
emisses podem ser reduzidas, principalmente,
pela combinao de:
Reduo ou (re-alocao) da produo;
Melhoria do uso eciente da energia
(investimento em novas plantas mais
ecientes, novos fornos de maior
capacidade, etc);
Substituio dos combustveis fossis por
biomassa (j que o CO
2
emitido por estes
combustveis no so considerados nas
emisses fontes renovveis);
Introduo ou otimizao do uso de
cimentos compostos (menor porcentagem
de clnquer nos cimentos).
Implicaes derivadas do comrcio
de crditos de carbono
O uso de adies minerais ou SCM em
cimentos compostos mostra-se como uma poten-
cial contribuio na reduo das emisses de CO
2
.
A maioria destas SMC adicionada na etapa de
moagem do cimento na produo de cimentos
compostos. A produo de cimentos compostos
extremamente usual na Europa e Amrica Latina
e envolve a moagem do clnquer com uma ou
mais adies minerais (calcrio, escria de alto-
forno, pozolanas), sendo o custo dependente
da disponibilidade local e custos associados ao
transporte. Atualmente, os custos destes SCM
so signicativamente mais baixos que o custo
do clnquer. O fator clnquer largamente correla-
cionado com o total de emisso de CO
2
tem cado
REVISTA CONCRETo
68
Os aditivos melhoradores de qualidade
podem tambm representar uma contribuio
econmica adicional na reduo dos custos pela
reduo da energia despendida na moagem do
cimento, ou mesmo a produo de cimentos
com uma distribuio de partculas com maior
dimetro mdio (menor gasto com energia para
uma mesma caracterstica de desempenho).
A seleo do aditivo apropriado depende
largamente do tipo de SCM e composio do
clnquer, alm do desempenho esperado para
um dado cimento. Por exemplo, escria de alto
forno e cinza volante apresentam maior efeito
sobre a reduo das resistncias iniciais e tempo
de pega; ento formulaes apropriadas que
reduzam o tempo de pega e aumentem as re-
sistncias iniciais so empregadas. Em cimentos
compostos com ller calcrio, usualmente, o
maior efeito est sobre a reduo das resistncias
nais, enquanto em alguns casos so necessrios
aditivos que reduzam a demanda de gua.
O benefcio econmico da reduo de
CO
2
depende essencialmente da reduo de CO
2
/
ton de cimento produzido e do valor dos crditos
de carbono no mercado (por exemplo, ETS). Nos
exemplos reais analisados abaixo, foi adotado
uma gerao de 862 kg de CO
2
por ton de clnquer
produzido, enquanto as SCM foram consideradas
como uma contribuio nula na emisso de CO
2
.
EXEMPLO 1 CIMENTO COMPOSTO
COM CALCRIO
No primeiro exemplo, como mostrado
na Tabela 1, foi considerado o uso de um
aditivo melhorador de qualidade TDA em
um cimento tipo composto com adio de
ller calcrio em uma dosagem de 400 g/ton
de cimento. Foi observado um incremento
de 8 para 15% no teor de calcrio (clnquer
foi reduzido de 87% para 80%). A produo
horria do moinho foi mantida praticamente
constante com 51 ton/h comparado a 49 ton/h
quando aditivado e o blaine medido durante
o ensaio industrial foi incrementado de 305
para 332 m
2
/kg, enquanto as resistncias
mecnicas aos 2, 7 e 28 dias foram, respecti-
vamente, comparadas ao cimento sem aditivo
(100%), iguais a 105, 104 e 108%.
Como mostrado na anlise de custos,
abaixo, assumindo um custo de US$ 10/ton de
CO
2
emitido, o custo do cimento foi reduzido
em aproximadamente 4%, j descontados os
custos do aditivo e possivelmente gerando uma
produo adicional de 35.000 ton/ano.
EXEMPLO 2 CIMENTO COMPOSTO
COM CINZA VOLANTE
Neste exemplo, como mostrado na Tabe-
la 2, o uso de um aditivo melhorador de quali-
dade tipo TDA permitiu um incremento no teor
de pozolana de 28 para 34% (o fator clnquer
foi reduzido de 67% para 61%). A produo
do moinho aumentou a 59 ton/h comparado a
51 ton/h, enquanto as resistncias mecnicas,
relativas ao cimento sem aditivo (100%), aos
2, 7 e 28 dias, foram, respectivamente, iguais a
105, 106 e 105%, com um incremento do Blaine
de 342 a 356 m
2
/kg.
REVISTA CONCRETO
69
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
Neste exemplo, considerando o mesmo
valor pela reduo das emisses de carbono,
possvel uma economia de, aproximadente,
6% sobre o custo de produo do cimento,
permitindo um incremento de produtividade
de aproximadamente 40.000 ton/ano.
EXEMPLO 3 CIMENTO COMPOSTO
TIPO CALCRIO
Neste exemplo, como mostrado na Tabela 3,
o uso de um aditivo melhorador de qualidade tipo
ESE utilizado em um cimento com calcrio, permitiu
um incremento no nvel de calcrio de 12 para 19%
(o fator clnquer foi reduzido de 83% a 76%). A
produo do moinho aumentou a 47 ton/h compa-
rado a 45 ton/h, enquanto as resistncias mecnicas,
relativas ao cimento sem aditivo (100%), aos 2, 7 e
28 dias, foram mantidas em valores comparveis,
com um Blaine de 386 m
2
/kg nos dois casos.
Neste exempl o, consi derando o
mesmo valor pela reduo das emisses
REVISTA CONCRETo
70
de carbono, possvel uma economia de
aproximadente 9,5% sobre o custo de pro-
duo do cimento, permitindo um incremen-
to de produtividade de aproximadamente
33.000 ton/ano.
Concluso
Os aditivos melhoradores de qualidade
so capazes de permitir o uso de maiores teo-
res de SCM, adies minerais (calcrio, escria
de alto forno e pozolanas cinza volante,
pozolana natural, argila calcinada, etc), man-
tendo o desempenho destes cimentos compos-
tos. Com a reduo do fator de clnquer por
tonelada de cimento produzido so obtidos
vrios benefcios:
Menor custo pela composio das
matrias-primas do cimento.
Menor emisso de CO
2
por tonelada
de cimento.
Aumento do volume de cimento produzido
por tonelada de clnquer disponvel.
Estes benefcios so de grande impor-
tncia, principalmente em pases da Amrica
Latina nos quais a demanda domstica da
construo civil pode causar a falta de ci-
mento no mercado at que novas fbricas,
j anunciadas, se tornem operativas em um
fututo prximo.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
[01] Gatner, EM and Myers DF. Inuence of tertiary alkalonamines on Portland cement hydration. Journal of
Ammerican Ceramic Society, vol 76, 1993. pp 1521- 1530
[02] Chiesi, CW. Myers DF and Gartner, EM. Relationship betweeb clinker properties and strength development
on the presence of additives. 14th International Conference on cement microscopy. California, 19992,
pp 388-401. (International Cement Microscopy Association, Ducanville, Texas, 1992).
[03] Harder, J. Development of clinker substituton in the cement industry. ZKG International. No. 2-2006
(volume 59). pp 58-64.
REVISTA CONCRETO
71
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
Centro de Convenes da Bahia
Salvador | BA
Apoio Agncia
Oficial
de Turismo
4 a 9 de setembro
de 2008
0
5
25
75
95
100
Calhau50 CBC2008
sexta-feira,1deagostode200818:44:27
REVISTA CONCRETo
72
Apoio Agncia
Oficial
de Turismo
0
5
25
75
95
100
Calhau50 CBC2008-2
sexta-feira,1deagostode200818:43:52
REVISTA CONCRETO
73
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
Trabalhabilidade do concreto
auto-adensvel: ensaios para
dosagem, controle de qualidade
e aceitao em obra
Ricardo Alencar
Precast. BU Concrete, Sika Brasil
Paulo Helene
Escola Politcnica da USP
Jane Honda
Ready-mix. BU Concrete, Sika Brasil
Resumo
Neste artigo feita uma anlise crtica
dos principais testes disponveis do concreto
auto-adensvel (CAA) no estado fresco, apre-
sentando suas vantagens e limitaes, correla-
cionando-os com os parmetros reolgicos fun-
damentais, bem como com sua aplicao prtica
na concretagem de estruturas moldadas in situ e
pr-fabricadas, validando-os para a qualicao
do CAA para a dosagem, controle de qualidade
e aceitao em obra. Dessa forma, pretende-se
contribuir para a discusso atual empreendida
para normalizao do CAA pelo Comit Brasilei-
ro CB-18, Comisso de Estudo CE-18:300.03, no
mbito da ABNT.
1. Introduo
Particularmente no ramo de pr-fabrica-
dos, o concreto auto-adensvel tem emergido
de um objeto de estudo terico para tornar-se
muito popular. Em poucos anos, tem sido mais
a regra do que a exceo em pases industria-
lizados, de forma que, no existe tpico na
indstria de pr-fabricados de concreto que
tenha ganhado tanta ateno como o CAA, j
utilizado em 100 por cento de sua produo em
algumas plantas no exterior.
Tudo isso pode ser explicado devido
existncia de uma srie de melhorias no seu
processo de aplicao, entre eles, pode-se ci-
tar: a diminuio sensvel da necessidade de
desempeno e minimizao de macro defeitos,
bolhas de ar e falhas de concretagem, devido a
sua propriedade auto-nivelante; melhoria das
condies de trabalho pela reduo dos rudo,
com a eliminao de vibradores, conseqente
reduo de mo de obra, economia de energia
eltrica; menor desgaste s frmas; alm de
acelerar o ritmo da concretagem.
Porm, segundo Walraven (2008), no
que diz respeito ao emprego do concreto auto-
adensvel em obra, o desenvolvimento um
pouco mais lento, em virtude da maior sensibi-
lidade da produo. Isso se deve variao das
condies em canteiro, a maior diculdade de
controle da mistura e tambm s discordncias
com relao questo das propriedades do
CAA em estado fresco que devem ser medidas
in situ?
Por isso, uma questo importante a ser
elucidada diz respeito relevncia de se co-
nhecer as caractersticas de trabalhabilidade do
concreto auto-adensvel. Na prtica, isso pode
ser entendido ao se vericar que dois concre-
tos auto-adensveis quaisquer que possuem o
mesmo espalhamento (ou ainda dois concretos
convencionais com o mesmo slump) podem,
entretanto, sob uxo, apresentarem compor-
tamentos distintos (HOPPE FILHO; CINCOTTO &
REVISTA CONCRETo
74
PILEGGI, 2007). Por exemplo, o concreto com
menor viscosidade escoar mais facilmente
por tubulaes e se moldar melhor s fr-
mas, desde que no apresente segregao.
Conseqentemente, no se pode
atribuir o comportamento do concreto ape-
nas pelo ensaio do tronco de cone, pois o
mesmo deficiente quanto caracterizao
reolgica.
Para o concreto comum, a experincia
do tcnico em dosagem tem sido levada em
considerao na definio dos traos mais
bombeveis, por exemplo. Por vezes, o teste
do flow-table apresenta resultados adequa-
dos para dosagem de um concreto comum
e/ou de alto-desempenho. Mas, no caso do
CAA, um pouco mais complicado devido
existncia de um nmero maior de carac-
tersticas exigidas em estado fresco, quais
sejam: a) capacidade de preencher todos os
espaos no interior da frma (filling ability);
b) capacidade de passar atravs de pequenas
aberturas como espaamentos entre barras
de ao (passing ability); e c) capacidade de
permanecer uniforme e coeso durante o
processo de transporte e lanamento (segre-
gation resistance). Outra possibilidade a
realizao de ensaios prvios com remetros,
que so equipamentos que permitem deter-
minar de forma quantitativa os parmetros
reolgicos que governam o comportamento
do concreto fresco. Todavia, remetros ainda
so de elevado custo e de difcil aplicabilida-
de em canteiro.
Por todos esses motivos tm sido de-
senvolvidos diversos ensaios simples para
avaliar de forma qualitativa os parmetros
reolgicos, podendo contribuir, assim, para
uma maior assimilao dessa nova tecnolo-
gia, que so empregados para qualificar o
CAA na sua dosagem, controle de qualidade
e recebimento em obra. Em uma segunda
etapa, fundamental qualificar o compor-
tamento do concreto em simulao idntica
sua aplicao.
2 Conceituao do concreto
auto-adensvel sob a tica da reologia
2.1 CLASSIFICAO REOLGICA
DO CONCRETO FRESCO
Na literatura, devido a uma vasta evi-
dncia das propriedades ao escoamento do
concreto no estado fresco, conclui-se que o
comportamento desse material pode ser re-
presentado com suciente aproximao pelo
modelo de Bingham (CASTRO, 2007; FAVA &
FORNASIER, 2004; FERRARIS, 1999 apud CAS-
TRO, 2007; TATTERSAL, 1991 apud CASTRO,
2007) (Equao 1). De acordo com esse mode-
lo, o uido se comporta como um slido ideal
(quer dizer no ui) at que a tenso tangencial
aplicada () supera a tenso de escoamento (
0
).
Nesse momento, a mistura comea a comportar-
se como um udo que apresenta uma relao
linear entre a tenso aplicada e a velocidade
de deformao (), tal como acontece com os
uidos Newtonianos.
De modo que, a tenso de escoamento
e uma viscosidade () mudam com o tempo;
medida que o concreto endurece, a ten-
so de escoamento e a viscosidade plstica
aumentam. Neste caso, o primeiro parme-
tro est relacionado com o abatimento (ou
espalhamento), de forma que quanto maior
a tenso de escoamento, menor a fluidez e
vice-versa, enquanto o segundo faz a dife-
rena entre um concreto facilmente traba-
lhvel e outro tendo um comportamento
demasiado coeso, difcil de ser bombeado e
apresentando vazios na superfcie quando
a frma retirada (DE LARRARD & SEDAN,
2002 apud CASTRO, 2007).
2.2 CARACTERSTICAS REOLGICAS
EXIGIDAS PARA O CAA
Fava & Fornasier (2004) expressam um
consenso geral ao esclarecerem que as cons-
tantes reolgicas tenso de escoamento e a
viscosidade devem cumprir duas condicionantes
fundamentais para que um CAA tenha uma
adequada autocompactabilidade:
a) um valor muito pequeno ou nulo
de
0
, de forma que o concreto se
comporte aproximadamente como um
uido Newtoniano. Tal condio implica
que o CAA dever ter uma elevada uidez.
b) um valor moderado para , de forma
a promover uma adequada resistncia
segregao. Esse ponto fundamental,
j que uma viscosidade muito baixa
pode prejudicar a estabilidade da mistura,
enquanto uma elevada viscosidade
pode levar a bloqueios dos agregados em
contato com as armaduras e decincia no
acabamento supercial do concreto.
.
REVISTA CONCRETO
75
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
A Fig. 1 apresenta de forma esquem-
tica curvas de uxo para um concreto comum
e para distintos concretos auto-adensveis,
demarcando as zonas de risco de segregao
e bloqueio.
3. Ensaios e classicao da consistncia
As caractersticas requeridas para o CAA
no estado fresco dependem da aplicao e,
especialmente, das condies de connamento
relativas geometria dos elementos de con-
creto, da quantidade e tipo de armadura, da
presena de inserts, dos equipamentos dispon-
veis para moldagem (tipo bomba ou caamba,
normalmente utilizado em pr-fabricados), dos
mtodos de moldagem e tambm da importn-
cia do acabamento.
Pensando nisso, apresenta-se uma clas-
sicao da consistncia para o CAA segundo o
nvel de espalhamento, viscosidade, habilidade
passante e resistncia segregao, de acordo
com os critrios estabelecidos por um conjunto
de importantes entidades europias European
Project Group EPG (2005).
Detalhes sobre as dimenses dos equi-
pamentos so amplamente discutidos pela
bibliograa especializada e por isso no sero
objetos deste artigo.
3.1 ESPALHAMENTO (SF SLUMP-FLOW)
Normalizado pela ASTM C 1611/C
1611M, esse o teste mais simples de ser realiza-
do, como uma espcie de adaptao do ensaio
de abatimento. Ele composto pelo mesmo
molde, tronco-cnico de Abrams, posicionado
sobre o centro de uma base plana; enche-se o
cone sem compactao, elevando-se o mesmo;
ento, o concreto ui livremente e determina-
se a mdia de dois dimetros perpendiculares
do crculo formado.
O espalhamento est diretamente
associado capacidade de deformao do
concreto; na prtica, isso signica a distncia
que o CAA pode uir desde o ponto de des-
carga (de onde foi lanado). O Slump-ow
possibilita tambm uma avaliao visual se
est havendo segregao ou no. Para isso,
basta vericar se o agregado grado est
homogeneamente distribudo na mistura e
acompanha a movimentao de argamassa
at a extremidade do crculo formado pelo
concreto auto-adensvel (Fig. 2).
Esse ensaio ser normalmente especi-
cado para todos os concretos auto-adensveis.
classicado segundo trs nveis principais
(EPG, 2005):
1) SF1, 550-650mm: comum em peas
ligeiramente armadas, lanadas sobre
topo livre (sem restries) e com pequena
extenso, pois possibilitam curtos
espalhamentos horizontais, o caso de
lajes pequenas, fundaes, entre outras;
2) SF2, 660-750mm: adequado para a grande
maioria das aplicaes, como pilares,
vigas, etc;
3) SF3, 760-850mm: tipicamente produzido
com agregado de pequena dimenso
caracterstica (menor que 16mm), em
aplicaes com uma taxa de armadura
elevadssima e com formas muito
complexas.
Normalmente, adota-se, na indstria
de pr-fabricados, o nvel de uidez SF2, que
adequado para a grande maioria dos casos
onde o CAA aplicado. O nvel SF1 tem res-
tritas aplicaes e normalmente no viabiliza
operacionalmente um controle de qualidade
adicional, embora resulte mais econmico. J o
nvel SF3, por apresentar elevado espalhamen-
to e utilizar um agregado grado de menor
dimenso caracterstica, que resulta em uma
maior superfcie especca, acaba por ocasionar
um alto volume de argamassa e, conseqente-
mente, custos mais elevados. Contudo, deve-se
esclarecer que, embora o nvel SF3 no tenha
um uso na mesma escala que o SF2, ele alta-
mente recomendvel em peas densamente
armadas, onde a dimenso do agregado deve
ser inferior a 19mm, impedindo o uso de brita
1; ou ainda no caso de pr-lajes (com 4cm de
espessura), para evitar o bloqueio (travamento)
REVISTA CONCRETo
76
dos agregados na moldagem (BELOHUBY &
ALENCAR, 2007).
O nvel SF2 tambm o mais adequado
em obra. Muito embora, para lajes pequenas,
como o caso da Fig. 3, o espalhamento SF1
seja suciente, j que o mangote aproximado
do ponto de aplicao possibilita um curto
espalhamento do CAA. Porm, na maioria das
vezes, a laje concretada com as vigas e os
pilares simultaneamente. Ento, o concreto
despejado primeiramente sob a laje tem que ser
capaz de correr pelas vigas at cair nos pilares,
devendo, nesses casos, apresentar um nvel de
uidez pouco maior, ou seja, o SF2.
3.2 VISCOSIDADE (VS VISCOSITY
SLUMP & VF VICOSITY FUNNEL)
Uma variante do ensaio de espalhamen-
to, normalmente realizada, simultaneamente,
REVISTA CONCRETO
77
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
consiste na medio de tempo que o concreto
atinge uma marca de 500mm de dimetro cen-
trado nessa mesma base de ensaio. O Slump
ow T500 apresenta uma medida qualitativa da
viscosidade plstica do concreto fresco. De for-
ma que, concretos com baixa viscosidade tero
um espalhamento muito rpido e ento param.
Enquanto que concretos com alta viscosidade
podem continuar movendo-se furtivamente por
um tempo maior.
Em fase de normalizao atravs da
prEN 12350-9 (2007), o V-funnel foi desenvol-
vido por Okamura & Ozawa (1995) e tem sido
proposto para testar a viscosidade aparente
do concreto, em uxo connado, a partir do
registro do tempo em que o concreto leva
para escoar nesse aparelho (Fig. 4). Porm, ao
preencher o funil novamente, aguardando-se 5
minutos, tem-se informaes importantes quan-
to resistncia segregao, pois se o tempo
de escoamento aumentar signicativamente
sinal de que houve um acmulo dos agregados
na base do funil.
Segundo o EPG (2005), a viscosidade
especicada onde existe a exigncia de boa
superfcie de acabamento ou em estruturas
densamente armadas. Sendo classicada em:
1) VS1 / VF1, Slump T500 2s e
V-funnel 8s: tem grande capacidade de
escoamento e de encher todos os espaos
dentro da frma com o seu peso prprio,
ainda com armadura congestionada.
capaz de autonivelar-se e, geralmente,
apresenta uma superfcie bem acabada.
Entretanto, mais difcil o seu controle da
exsudao e segregao;
2) VS2 / VF2, Slump T500 > 2s e V-funnel
entre 9 25s: devido ao aumento do
tempo de escoamento mais provvel
exibir efeito tixotrpico. Pode ser til
em frmas que suportam limitada presso
hidrosttica. Contudo, efeitos negativos
podem ser experimentados quanto
superfcie de acabamento.
Por isso, em pr-fabricados a viscosidade
deve ser de baixa a moderada, ou seja, VS1/ VF1,
pois quanto mais baixa for a viscosidade mais
fcil se da o escape do ar das frmas, que nor-
malmente incorporado na moldagem, permi-
tindo, assim, um nvel superior de acabamento,
caracterstico desse tipo de produo, onde a
maioria das peas aparente ou arquitetnica.
Dessa forma, possvel a minimizar a necessida-
de de re-trabalho com reparos (estucagem).
3.3 HABILIDADE PASSANTE
(PA PASSING ABILITY)
Em fase de normalizao atravs da
prEN 12350-10 (2007), o L-box, diferentemente
da maioria dos ensaios desenvolvidos no Japo,
teve sua origem na Sucia (FAVA & FORNASIER,
2004). Objetivando medir a habilidade do
concreto fresco em escoar atravs de espaos
connados e estreitas aberturas, como reas
REVISTA CONCRETo
78
congestionadas de armaduras, sem segregar,
perder uniformidade ou causar bloqueio, veri-
ca-se a relao entre as alturas H2 e H1 (situadas
na extremidade posterior e anterior s arma-
duras, respectivamente), depois de realizada a
intercomunicao do CAA entre as partes do
equipamento. O resultado deve estar entre 0,8
e 1. Algumas vezes, considerado o tempo que
o concreto escoa a distncia de 20cm e 40cm da
face de conteno, mas essa ltima anlise no
resulta muito operacional, pois necessitaria de
duas marcaes de tempo em dois cronmetros
no momento em que o CAA atinge as referidas
marcas, em um intervalo muito curto uma da
outra, ou uma leitura atravs de sensor a laser,
sobretudo para concretos de baixa a moderada
viscosidade.
Segundo o EPG (2005), a classicao
da habilidade passante denida com base no
menor vo (espao connado) atravs do qual
o CAA tem que escoar e preencher, conforme
apresentado a seguir:
1) PA 1, L-box 0,80 com 2 armaduras:
para estruturas com menor vo entre 8 e
10cm, por exemplo, casas (de estrutura
mais simples) e estruturas verticais, como
pilares (pois a gravidade ajuda);
2) PA 2, L-box 0,80 com 3 armaduras:
para estruturas com menor vo entre
6 e 8cm (estruturas mais complexas).
Pode-se dizer que o L-box simula
condies prticas semelhantes as quais o
REVISTA CONCRETO
79
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
concreto estar submetido na concretagem
das vigas protendidas de perfil I (Fig. 6).
Nesse elemento, o fluxo de escoamento do
concreto ligeiramente restrito na regio
central da alma da pea (delgada), logo aps
o lanamento por meio de caambas; assim
como acontece no primeiro compartimento
do ensaio do L-box, o concreto espalha-se
horizontalmente, pelo fundo da frma, que
um espao confi-
nado e al tamente
armado, semelhan-
te ao segundo com-
partimento da caixa
em forma de L. Por
i sso, em i ndstri a
de pr-fabricados, a
habilidade passante
deve ser especificada
como PA2, de modo
a garantir uma per-
feita execuo desse
ti po de el emento,
muito comum, po-
rm de mol dagem
complexa.
Para Alencar
(2008), o L-box mos-
trou-se, em estudo ex-
perimental realizado,
ser o mais exigente
equipamento para a
qualificao do con-
creto auto-adensvel.
Normalmente, se o
CAA capaz de passar
por esse ensaio, ele
conseqentemente ir
atingir bons resulta-
dos nos demais testes de habilidade passante,
tipo J-ring e U-box. Adicionalmente, o ensaio do
L-box assim como os ensaios em caixa, de uma
forma geral, incluindo o U-box e V-funnel, per-
mitem uma apreciao visual da capacidade de
preenchimento dos espaos e auto-nivelamento
do concreto auto-adensvel.
Apesar do EPG (2005) s considerar o
ensaio do L-box para classicao de habilidade
do concreto passar por
armaduras, o ensaio do
J-ring, em particular,
devido facilidade de
execuo, adequa-
do para controle em
obra e possibilita uma
grande correlao com
a moldagem de lajes
de pequena extenso
pouco armadas, onde
o CAA ir espalha-se
por superfcies no
connado por frmas
e apresentando apenas
o impedimento (obst-
culo) de armaduras.
Este tipo de aplicao
um dos focos para o
CAA usinado, pois pa-
nos horizontais geram
muita mo de obra
de acabamento quan-
do concretado com
concreto convencional
(comparado com pila-
res e vigas).
O ensaio do J-
ring normalizado
pela ASTM C 1621/C
REVISTA CONCRETo
80
1621M, consiste em posicionar o tronco-cnico
de forma invertida sobre o centro de uma base;
enche-se o cone sem compactao, eleva-se o
mesmo e mede-se a mdia de dois dimetros
perpendiculares formados pelo espalhamento,
aps passar por entre 16 barras de ao, obser-
vado na Fig. 7. A diferena entre as mdias dos
dimetros formados pelo concreto nos ensaios
do Slump-ow e do J-ring um indicador de
habilidade passante. Quando a diferena obtida
resultar menor que 25mm signica que o concre-
to apresenta boa PA; caso a diferena seja maior
que 50mm a habilidade passante deciente.
O U-box (Fig. 8) foi desenvolvido pelo
Technology Research Center of the Taisei Corpo-
ration, no Japo (HAYAKAWA et al., 1993). Nesse
teste, o concreto armazenado sem compactao
em uma das ramas, separado do segundo compar-
timento, onde ele escoa e ascende, entre duas (2)
ou trs (3) barras de ao. Logo aps, determina-se
o valor de R1 R2, referentes altura alcanada
antes e depois da passagem pelas armaduras,
sendo que, quanto mais uida for a mistura, mais
prximo de zero ser o resultado. Os valores ad-
mitidos divergem um pouco de autor para autor,
porm os mais exigentes admitem diferenas de
at 30mm.
Esse ensaio pode ser usado para quali-
car o concreto auto-adensvel para a aplicao
em vigas calhas (Fig. 9). Nesse elemento, o
concreto primeiramente lanado, por meio
de caambas, espalha-se horizontalmente pelo
fundo da frma, preenche todos os espaos do
fundo, at atinge o nvel do miolo negativo
(block out), de conformao da calha. A partir
desse ponto, a concretagem assemelha-se ao
ensaio do U-box, pois o concreto, que lanado
a partir de uma das abas da frma, para evitar
o aprisionamento de ar, primeiramente con-
nado neste espao restritivo, a exemplo do que
acontece no primeiro compartimento do ensaio
do U, ento, deve ser capaz de autonivelar-se,
com o seu peso prprio, at o topo da aba
paralela. A concretagem de vigas calha utili-
zando o CAA possui a vantagem adicional de
possibilitar a colocao do miolo desde o incio
da concretagem, agilizando, assim, a execuo
desse elemento estrutural (ALENCAR, 2008).
3.4 RESISTNCIA SEGREGAO
(SR SEGREGATION RESISTANCE)
Para Alencar (2008), o ensaio de Column,
normalizado pela ASTM C 1610/C 1610M, de-
REVISTA CONCRETO
81
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
monstrou ser muito simples e rpido como crit-
rio de quanticao do nvel de segregao. Isso
porque possvel, aps 20 ou 30 minutos, iniciar
a coleta das amostras de concreto do topo e
base, tempo suciente para o assentamento
do agregado grado. As amostras so ento
lavadas em uma peneira (peneira de 5mm),
cando apenas o agregado grado retido (Fig.
10). Feito isso, possvel calcular a porcentagem
de segregao usando a Equao 2:
Onde:CA
B
a massa do agregado
grado da base; CA
T
a massa do agregado
grado do topo. Caso CA
B
seja maior que CA
T
a
segregao nula.
Dackzo (2002) apud Fava & Fornasier
(2004) consideram que o concreto no pode
apresentar manifestaes de segregao, tais
como: exsudao de gua, segregao da
pasta e agregados e segregao de agregados
grados devido ao bloqueio, que pode ser de
dois tipos:
a) Dinmica: aquela que se produz durante o
lanamento, quando o CAA deve uir
dentro da frma. facilmente detectada
nos ensaios de estado fresco e deve ser
corrigida durante a etapa de dosagem;
b) Esttica: est associada aos fenmenos
de sedimentao que se produz quando
o concreto se encontra em repouso dentro
das frmas. factvel que alguns traos
que apresentem um adequado
comportamento frente segregao
dinmica apresentem bons
comportamentos tambm quanto
segregao esttica.
A especicao da resistncia segrega-
o torna-se importantssima, principalmente
para o concreto auto-adensvel de grande
uidez e baixa viscosidade e que, portanto,
apresenta maior risco de segregao ou em
condies de aplicao de promovam a segre-
gao. Sendo classicada, de acordo com os
procedimentos do EPG (2005), em:
1) SR1, 20 (%): aplicado para lajes delgadas
e solicitaes com distncia de
espalhamento menor que 5m e vo
connado maior que 8cm;
2) SR2, 15 (%): especicado no caso da
qualidade da superfcie ser particularmente
crtica; ou para aplicaes com distncia
de espalhamento maior que 5m e com
espao connado maior que 8cm; ou para
grande altura de lanamento com espao
connado menor que 8cm, se a distncia
de espalhamento menor que 5m; mas se
o espalhamento maior que 5m, o valor de
SR deve ser menor que 10%;
Um exemplo onde necessrio a SR2
na aplicao em lajes de grande extenso (Fig.
11), pois o CAA deve ser capaz de transpor uma
distncia maior, passando por armaduras, que
tendem a causar bloqueio das britas (ou seja, a
brita tende a car no meio do caminho).
No caso da indstria de pr-fabricados,
o nvel de segregao aplicado tambm deve
ser dos menores, especicados 10%, para re-
sistir, sobretudo, s solicitaes (trepidao) de
transporte em ponte rolante e caminho, para
fazer a comunicao entre linhas de produo,
e devido grande energia com que o CAA
lanado na sada do misturador (BELOHUBY &
ALENCAR, 2007).
4. Controle de qualidade e aceitao
Segundo o EPG (2005), recomen-
dado que todo lote de CAA, em geral, seja
testado pelo Slump-flow at a confirmao
REVISTA CONCRETo
82
das caractersticas requeridas. Este teste
tambm deve fazer parte do controle de qua-
lidade da produo. J, os ensaios de T500,
V-funnel, L-box e resistncia segregao
so empreendidos neste controle, caso seja
especificado. De forma que, a conformidade
com as caractersticas do CAA confirmada
se estes critrios especficos satisfazem os
limites dados pela Tab. 1.
4.1 INDSTRIA DE PR-FABRICADOS
DE CONCRETO
O concreto auto-adensvel mais
sensvel s variaes das caractersticas
dos seus materiais constituintes e s con-
dies ambientais. Para a indstria de pr-
fabricados esse controle no considerado
difcil, desde que os processos em planta
sejam bem estruturados (o que nem sempre
acontece). Nesse tipo de produo comum
haver devoluo, por exemplo, de agrega-
dos, quando o material est no conforme.
Tambm, mais fcil ter um controle da
umidade em indstria com sensores especfi-
cos para agregados ou at mesmo instalados
no prprio misturador, que fazem a leitura
da umidade da mistura e pode ser associa-
da com uma determinada caracterstica de
auto-adensabilidade requerida. Algumas
plantas possuem at espao coberto para
armazenamento da areia.
Alm disso, a resistncia compresso
caracterstica , na maior parte das vezes,
entre 40-50MPa. Em casos especiais, podem
ser utilizados, concretos de 60MPa ou mais,
dada necessidade de saque das peas em
tenras idades, possibilitando uma maior
REVISTA CONCRETO
83
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
rotatividade das frmas metlicas. Inclusi-
ve, o maior nvel de controle de qualidade,
possvel de se obter em instalaes fixas de
indstria, que aliado o uso de concretos de
alto desempenho, so fatores que favore-
cem o uso do concreto auto-adensvel no
setor de pr-fabricados, pois mais fcil
produzir um CAA trabalhvel (sobretudo
com as caractersticas de coeso necessrias)
com resistncias mais altas, devido maior
quantia de finos.
Por todos esses motivos, acredita-se
que o ensaio do espalhamento seja o sufi-
ciente para a confirmao das caractersticas
do concreto auto-adensvel no estado fresco
(anterior a aplicao) e para o controle de
qualidade em fbrica.
Contudo, apesar das facilidades supra-
mencionadas, a implantao do CAA no se
d por uma simples substituio em relao
ao concreto convencional, pois envolve a
necessidade de uma certa reestruturao na
fbrica, devendo ento haver: investimentos
em sensores de umidade automticos para
central de concreto; reforma de frmas e
caambas, para garantir maior estanqueida-
de; colocao de um silo extra para adio
mineral, que normalmente viabiliza o uso do
CAA; alm, claro, da qualificao de seus
funcionrios.
4.2 APLICAES EM OBRA:
CONCRETO USINADO
De acordo com Walraven (2008), exis-
tem umas sries de razes que justicam a
aplicao mais lenta do concreto auto-aden-
svel em obra. Por exemplo, em caso de erros
na concretagem, as conseqncias so mais
severas que na indstria de pr-fabricados.
Neste ltimo, os elementos inadequados
podem ser rejeitados, enquanto que in situ a
demolio deve ser a ltima alternativa. Con-
forme mencionado, mais fcil produzir um
CAA de alta resistncia do que de resistncias
mais baixas. Percebe-se que, em grande parte
das aplicaes, a resistncia do CAA maior
do que o necessrio em obra, o que acaba por
gerar um impacto no custo, pois, para a maio-
ria dos casos, o concreto C25 suciente.
Adicionalmente, o controle do re-
cebimento dos agregados, s vezes, no
muito grande, pois, conforme apontado,
as exigncias de resistncia no so altas e,
na grande parte dos casos, o fornecimento
prprio, o que acaba por dificultar, um
pouco, o incremento de outros materiais que,
eventualmente, poderiam ser mais adequa-
dos (como um determinado tipo de areia ou
adio). Tambm, o controle de umidade dos
agregados possvel de se obter para um volu-
me de grande porte no alto. Outro fator
que merece ser destacado que, no cami-
nho betoneira, no se tem uma mistura to
eficiente quanto em centrais misturadoras.
O CAA, por ser mais argamassado e possuir
um contedo maior de finos e de aditivo,
necessita de uma homogeneizao melhor.
Em alguns pases pouco mais desenvolvidos,
o concreto misturado na usina e s precisa
ser transportado para o canteiro. Outro pro-
blema, pouco mais difcil de ser controlado,
em cidades com So Paulo, o trnsito!
Porm, o controle da umidade dos
agregados em concreteiras pode ser muito
melhorado com a incorporao de sensores
na caixa de agregado. J, para obter uma
mistura melhor, pode-se lanar mo de be-
toneiras com facas mais novas, pois com o
tempo h um desgaste natural. Alm disso,
deve-se prever um perodo de homogeneiza-
o em obra pouco maior, cerca de 5-6min.
Normalmente, o concreto chega na
obra com um slump inicial, em torno de 5
ou 6cm, para facilitar o transporte, com uso
de um aditivo polifuncional (que possui um
agente estabilizador de hidratao), quando
ento lanado o aditivo superplasticante
(base policarboxilato). O problema que, na
falta de um controle ecaz da umidade da
areia, recebimento dos agregados, ou na exis-
tncia de gua no Balo (gua de lastro), pode
acontecer do concreto chegar com mais gua
do que o necessrio (caso seja colocada toda
a gua terica do trao) e, conseqentemen-
te, um abatimento maior; neste caso, se for
acrescido a quantia de superplasticante pre-
vista em dosagem, certamente resultar em
segregao da mistura. Caso fosse diminuda
a porcentagem do policarboxilato (para no
perder o concreto), haveria uma conseqente
reduo do nvel de auto-adensabilidade, o
que no desejvel e pode levar necessida-
de de vibrao do concreto. Por isso, melhor
devolver a caminho. Assim, normalmente
se prev uma reduo da gua em central,
deixando uma reserva para ser adicionada in
situ, o que acaba por gerar um descontrole
em relao ao total de gua efetivamente
existente no trao e pode levar a aumentar
inclusive a gua prevista. E para evitar essa
situao, deve ser adotado um controle mais
rgido, realizando o ensaio do slump desde
a usina e no apenas uma anlise visual do
REVISTA CONCRETo
84
concreto pelos motoristas, pois o slump ser
atingido quando a quantia de gua necess-
ria ao trao estiver presente (salvo erros na
pesagem dos materiais). Pode ser feita uma
previso da perda de abatimento no transpor-
te (em estudo de dosagem), a m de que no
haja a necessidade de acrscimo de gua em
canteiro. O concreto sairia da usina com um
slump 8, por exemplo, objetivando chegar a
obra com um slump 5, dependendo da distn-
cia e caractersticas dos materiais envolvidos.
Caso o slump atingido in situ seja menor, o
mesmo deve ser corrigido com aditivo e no
com gua. Assim, haveria um controle maior
da gua do concreto, que causa tantos pre-
juzos no estado fresco como no endurecido
(resistncia, mdulo, retrao, etc).
Por todos os motivos apresentados,
considera-se que o concreto usinado deve ter
um controle de recebimento pouco maior a
fim de evitar a variabilidade entre os lotes.
Isso inclusive servir como critrio de seleo
do melhor fornecedor. Alguns pesquisadores
como Walraven (2008) recomenda os teste do
Slump-flow e o V-Funnel para qualificao do
CAA em obra, pois so ensaios alternativos de
mensurao da tenso crtica e a viscosidade
plstica. Alm disso, so fceis de serem ma-
nuseados. Outros importantes catedrticos,
a exemplo de Gettu et al (2008), recomen-
dam o Slump-flow e o J-ring, especialmente
quando o tempo de teste e a quantidade de
esforo humano so limitados, e tambm por
serem testes mais sensveis na avaliao da
robustez do CAA. No J-ring possvel detec-
tar reduzido contedo de finos ou excesso de
gua ou superplastificante pela acumulao
do agregado grado na armadura e conse-
qente segregao da mistura.
5. Consideraes nais
Foi verificado que no possvel es-
tabelecer um nico tipo de concreto auto-
adensvel para todas as aplicaes. Ou seja,
o nvel de auto-adensabilidade requerido
vai depender das caractersticas dos elemen-
tos a serem moldados.
Em pr-fabricados, recomenda-se,
para controle de qualidade, a realizao
do ensaio do Slump-flow, pois o forneci-
mento prprio e o controle possvel de
se obter grande. Salvo situaes espec-
ficas onde o controle est sendo falho e
resulta freqentemente exsudao gua
e segregao do CAA, com conseqente
aparecimento de problemas patolgicos.
Nestes casos, devem-se empreender outros
testes para confirmao das caractersticas
trabalhabilidade necessrias, anteriores a
aplicao, tipo J-ring, U-box, L-box e/ou
T-500, V-funnel, etc; selecionados com base
nos elementos a ser concretados, mediante
o que foi exposto, onde pode ser mais per-
ceptvel o aparecimento do problema.
Apesar do ensai o do Sl ump-fl ow
oferecer, alm da anlise da fluidez do
CAA, tambm uma avaliao visual se est
havendo segregao ou no, sendo muito
fcil a sua execuo em obra, consenso
no meio tcnico que apenas o mesmo no
suficiente para qualificao do CAA para o
recebimento. Em particular, esses autores so
mais adeptos utilizao desse ensaio em
paralelo com o teste do J-ring, pois de for-
ma simultnea ao ensaio do espalhamento,
pode ser realizado o ensaio do Flow T500,
sem muita dificuldade; assim, ser possvel
obter informaes de tenso crtica e visco-
sidade, juntamente com o conhecimento da
habilidade passante, proporcionado pelo
ensaio do anel japons, que qualifica muito
bem o concreto auto-adensvel para a apli-
cao em lajes, uma das grandes demandas
no mercado brasileiro.
Acredita-se que ensaios como o L-box e
U-box no seriam muito operacionais in situ,
por serem mais demorados e de manuseio
pouco mais complicado, apesar de serem muito
importe na dosagem, dependendo da aplica-
o. Salvo em casos de alta taxa de armadura
e/ou espaos muito restritivo para a passagem
do CAA, poderia ser recomendado o teste do
V-funnel, que oferece importante informao
quanto viscosidade em uxo connado. Isso
porque no se admite intervalos muito grandes
entre betonadas, j que o prprio concreto que
est na tubulao perde as caractersticas iniciais
quando parado por um determinado perodo e,
neste caso, o mesmo no ser vibrado. Ou seja,
necessrio um uxo mais eciente.
Contudo, umas sries de barreiras cul-
turais devem ser removidas, pois atualmente
existem melhores perspiccias com relao
s propriedades do CAA. Alm disso, existem
testes especcos de avaliao. Finalmente,
uma nova gerao de superplastifantes deve
ser introduzida.
REVISTA CONCRETO
85
C
I
M
E
N
T
O
S
E
C
O
N
C
R
E
T
O
S
0
5
25
75
95
100
SIKA
ter a-feira,5deagostode200815:49:41
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
[01] ALENCAR, Ricardo dos Santos Arnaldo de. Dosagem do concreto auto-adensvel: produo de pr-
fabricados. Dissertao (Mestrado) Escola Politcnica da Universidade de So Paulo. Departamento de
Engenharia de Construo Civil. So Paulo, 176p., 2008.
[02] BELOHUBY, M.; ALENCAR, R.S.A. Tecnologia do concreto pr-fabricado: Inovaes e aplicao. In: MANUAL
MUNTE de projetos em pr-fabricados de concreto. 2. ed., p. 511-531, 2007;
[03] CASTRO, A. L. Aplicao de conceitos reolgicos na tecnologia dos concretos de alto desempenho. Tese de
doutorado Universidade de So Paulo. Departamento de Cincia e Engenharia dos Materiais, So Carlos,
303p., 2007;
[04] EPG European Project Group (BIBM; CEMBUREAU; ERMCO; EFCA; EFNARC). The European guidelines for
self compacting concrete. 63p., 2005;
[05] FAVA, C.; FORNASIER, G. Homigones autocompactantes. In: Homigones especiales. Ed. Asociacin Argentina
de Tecnologa del Hormign, Santa Fe,, p. 57-96, 2004;
[06] GETTU, R.; NAWAZ SHAREEF, S.; ERNEST, K.J.D. Evaluation of the robustness of self compacting concrete.
In: 1er Congreso Espaol sobre Hormign Autocompactante. Valencia, p. 59-66, 2008;
[07] HAYAKAWA, M.; MATSUAKA, Y.; SHINDOH, T. Developmente & Application of super workable concrete.
In: RILEM International workshop on special concretes: Workability and mixing, p. 183-190, 1993;
[08] HOPPE FILHO, J.; CINCOTTO, M. A.; PILEGGI, R. G. Tcnicas de caracterizao reolgica de concretos. In:
Revista Concreto & Construes. Ed. IBRACON. n. 47. So Paulo, p. 108-124, 2007;
[09] OKAMURA, H.; OZAWA, K. Mix-design for self-compacting concrete. Concrete library of JSCE, v. 25,
p.107-120, 1995;
[10] WALRAVEN, J. Self compacting concrete: Challenge for designer and researcher. In: 1er Congreso Espaol
sobre Hormign Autocompactante. Valencia, p. 15-29, 2008.
REVISTA CONCRETo
86
Mtodo para avaliao
do engastamento de ligaes
nas extremidades de uma
viga protendida
B. Catoia
T. Catoia
Escola de Engenharia de So Carlos Universidade de So Paulo (USP)
M. A. Ferreira
R. C. Carvalho
Universidade Federal de So Carlos (UFSCar)
Abstract
This paper presents a new method to
assess the partially restrained moment at the
beam-column connections from tests with
prestressed beams. Thus, flexural tests on
prestressed beams were carried out, wherein
two different conditions of hinged supports
and semi-rigid connections were compared
with. During the tests the moment-curvature
relationship was measured at the centre and
at the ends of the prestressed beam as well as
the relative beam-column rotations at the su-
pports. By comparing the experimental results
from both models with the results obtained
from analytical equations based on the xity
factor of a beam with semi-rigid connections
it has been possible to determine the partially
restrained moment at the beam-column con-
nections at the beam ends.
Keywords: semi-rigid connections, prestressed
beams, deformation, stiffness, strength.
Resumo
O presente trabalho apresenta um novo
mtodo que permite avaliar o coeciente de
engastamento parcial de ligaes viga-pilar
atravs de ensaios em vigas protendidas. Assim,
foram realizados ensaios de exo em elemen-
tos de viga protendida, sendo um modelo com
apoios articulados e um segundo modelo com
ligaes semi-rgidas. Nestes ensaios, foram
medidas as echas e curvaturas no trecho cen-
tral das vigas, bem como as rotaes relativas
viga-pilar nos apoios. A partir da comparao
dos resultados experimentais obtidos para os
dois modelos, com a aplicao de equaciona-
mentos tericos baseados no fator de restrio
para uma viga com ligaes semi-rgidas, foi
possvel avaliar o engastamento parcial para os
momentos negativos mobilizados pelas ligaes
viga-pilar.
Palavras-chave: ligao semi-rgida, viga pro-
tendida, deformao, rigidez, resistncia
1. Introduo
Na anlise estrutural, em geral, as li-
gaes so idealizadas de maneira a permitir
ou impedir completamente os deslocamentos
relativos entre os elementos pr-moldados.
Sabe-se que, na realidade, as ligaes entre os
elementos pr-moldados possuem certa defor-
mabilidade quando solicitadas, recebendo na
literatura tcnica a denominao de ligaes
semi-rgidas. A deformabilidade de uma ligao
est relacionada com a perda de sua forma ori-
ginal quando a estrutura solicitada. Portanto,
a semi-rigidez das ligaes viga-pilar deve ser
considerada na anlise da estabilidade para que
REVISTA CONCRETO
87
A
R
T
I
G
O
C
I
E
N
T
F
I
C
O
se tenha um melhor controle sobre a desloca-
bilidade da estrutura e melhor estimativa dos
esforos de segunda ordem.
O presente trabalho faz parte da pesquisa
desenvolvida em CATOIA [1] e tem como objetivo
principal analisar o efeito das ligaes resistentes
exo sobre o comportamento de uma viga
pr-moldada protendida, atravs da anlise de
procedimentos analticos que caracterizam o
comportamento das ligaes adjacentes viga.
Para isso, foram realizados dois ensaios experi-
mentais: o primeiro correspondeu ao ensaio de
um modelo composto por uma viga pr-moldada
protendida bi-apoiada e o segundo correspon-
deu ao ensaio de um modelo composto pela
mesma viga protendida com ligaes resistentes
exo. A ligao estudada corresponde a uma
ligao com apoio sobre consolo, com a presena
de chumbadores e armaduras de continuidade
inseridas em pilares de extremidade (gura 1).
O interesse no estudo desse tipo de liga-
o, com continuidade da armadura negativa,
justicado pela facilidade de execuo, a partir
de uma rpida modicao de uma ligao de
grande utilizao, pelas Indstrias de Estruturas
de Concreto Pr-Moldado, no Brasil.
A ligao viga-pilar em estudo relaciona-
se a estruturas aporticadas e em esqueleto com-
postas por concreto pr-moldado. Esses sistemas
so apropriados para construes que precisam
de alta exibilidade na arquitetura, devido
possibilidade do uso de grandes vos e para
alcanar espaos abertos sem a interferncia de
paredes. Dessa forma, esses sistemas estruturais
so muito utilizados no Brasil, principalmente
para a construo de edicaes comerciais e
construes de escritrios grandes.
No Brasil, a primeira pesquisa a empregar
uma metodologia experimental que integra pa-
rmetros tericos de controle, como no caso do
fator de restrio aos giros
R
e do procedimento
Beam-line, para prever o efeito das ligaes
semi-rgidas no comportamento de vigas proten-
didas, foi desenvolvida em CATOIA [1].
2. Procedimentos analticos
O termo ligaes semi-rgidas foi uti-
lizado inicialmente no estudo das estruturas
metlicas, na dcada de 30. Para analisar o
comportamento dessas ligaes semi-rgidas
em estruturas metlicas, foi desenvolvido um
mtodo capaz de estimar, de forma apro-
ximada, a resistncia da ligao a partir da
considerao de sua rigidez. Tal procedimento
foi denominado de mtodo Beam-Line e
permite a obteno da resistncia da ligao
compatvel com sua rigidez e com o compor-
tamento elstico da viga, de acordo com de-
terminado carregamento.
A reta denominada Beam-Line, como
pode ser observada na gura 2, de acordo com
REVISTA CONCRETo
88
FERREIRA [2], obtida atravs da determinao
de dois pontos, que ligam as situaes de en-
gastamento perfeito e de articulao perfeita
nas extremidades da viga. A situao de engas-
tamento perfeito corresponde quela em que
no h rotao na ligao com a extremidade
da viga, qualquer que seja o momento etor
resistido pela ligao. A situao de articulao
perfeita corresponde quela em que a ligao
no capaz de resistir aos momentos etores
cando suscetvel ao giro.
O ponto de encontro da reta Beam-
Line com a curva momento-rotao da ligao
dene o ponto E, onde existe a compatibiliza-
o entre o giro da extremidade da viga com o
giro relativo entre a viga e o pilar (gura 2). A
ligao deve ser capaz de suportar pelo menos
o momento correspondente ao ponto E.
Com a determinao da reta Beam-
Line, possvel identicar o local da ruptura,
se a ruptura ocorreu na ligao ou na viga. Se
para uma determinada ligao viga-pilar semi-
rgida for constatado que a ruptura da ligao
ocorreu antes de alcanar o ponto E, pode-se
dizer que a ruptura ocorreu na ligao e no
na viga. Caso contrrio, sendo constatado que a
ligao rompeu aps ter alcanado o ponto E,
pode-se dizer que a ruptura ocorreu na viga.
Segundo FERREIRA [3], o conceito do
fator de restrio pode ser empregado para
avaliar o coeciente de engastamento parcial
nas vigas pr-moldadas em concreto armado,
desde que, para o seu clculo, sejam considera-
das as rigidezes secantes da viga e das ligaes
viga-pilar. Segundo FERREIRA [3], a lineariza-
o do problema por meio da rigidez secante
apresenta uma boa aproximao e uma soluo
conservadora. Recentemente, este conceito foi
incorporado na norma NBR 9062 [4], na qual
o fator
R
deve ser obtido de acordo com a
equao 1.
onde:
(EI)
sec
: rigidez secante da viga;
L: vo efetivo entre os apoios, distncia entre
centros de giros nos apoios;
R
sec
: rigidez secante da ligao viga-pilar;
De acordo com a NBR 9062 [4], as liga-
es podem ser classicadas em rgidas, semi-
rgidas e articuladas, dependendo do valor cor-
respondente ao fator
R
. Segundo FERREIRA et
REVISTA CONCRETO
89
A
R
T
I
G
O
C
I
E
N
T
F
I
C
O
al. [5], para estruturas pr-moldadas sob aes
laterais, as ligaes semi-rgidas com fatores de
restrio
R
0,4 so capazes de produzir um
efeito enrijecido na estrutura global a qual se
aproxima da soluo com ligaes rgidas.
De acordo com a equao 1, pode-se
observar que o comportamento de uma liga-
o resistente exo, ou seja, parcialmente
engastada, depende da rigidez da ligao
como tambm da rigidez da viga adjacente.
De acordo com essa equao, quanto maior for
a rigidez da ligao, maior ser a restrio ao
giro na mesma. Por outro lado, quanto maior
for a rigidez da viga, menor ser a restrio ao
giro na ligao. Assim, para a caracterizao da
ligao semi-rgida, importante se conhecer,
alm da rigidez da ligao, a rigidez da viga
Com base no fator de restrio rotao
R
e considerando o caso particular em que as
duas ligaes nas extremidade de um elemento
de barra tm a mesma rigidez, foi desenvolvido
um procedimento numrico, em FERREIRA [2],
que permite a obteno da porcentagem de
engastamento da ligao atravs do fator
R
.
Essa porcentagem de engastamento parcial
corresponde a relao entre o momento pre-
sente na extremidade do elemento estrutural
(M
extr
) e o momento de engastamento perfeito
(M
eng
), e de acordo com FERREIRA [2], pode ser
determinada a partir da equao 2.
O momento de engastamento perfeito
corresponde ao momento mobilizado por uma
ligao perfeitamente rgida.
Com a equao 3, de acordo com CA-
TOIA [1], pode-se obter a rigidez equivalente de
uma viga bi-apoiada, a partir do deslocamento
vertical no meio do vo (f
BA
), obtido com a rea-
lizao de ensaios. A equao 3 aplicada para
uma viga submetida a duas cargas verticais, de
acordo com a gura 3a.
onde:
f
BA
: echa no meio do vo da viga simplesmente
apoiada (
R
=0)
(E.I)
eq,viga
: rigidez equivalente da viga
P : reao no apoio
a : distncia do apoio ao local de aplicao da
fora
A rigidez equivalente da viga tambm pode
ser determinada atravs da rotao obtida
no ensaio da viga bi-apoiada (f
BA
), de acordo
com CATOIA [1], como pode ser observado na
equao 4.
O momento na extremidade da viga que
compe o modelo SR (viga com ligaes semi-
rgidas) pode ser determinado atravs da relao
entre as rotaes obtidas pelas leituras dos clin-
metros posicionados nas extremidades de cada
modelo (equao 5, obtida em FERREIRA [6]).
REVISTA CONCRETo
90
onde:
f
SR
: rotao na extremidade da viga com liga-
es semi-rgidas.
Atravs das echas obtidas pelas leitu-
ras dos transdutores posicionados na regio
central de cada modelo, pode-se determinar o
fator de restrio rotao
R
(equao 6, ob-
tida em FERREIRA [6]). A obteno das echas
correspondentes a cada modelo ensaiado pode
ser observada atravs do esquema ilustrado
na gura 4. A partir do fator de restrio
rotao, pode-se determinar o momento na
extremidade da viga com ligaes semi-rgidas,
considerando a equao 2.
onde:
f
SR
: echa no meio do vo da viga com ligaes
semi-rgidas (0<
R
<1).
Com o ensaio da viga protendida sim-
plesmente apoiada, pode-se estabelecer a rela-
o momento-curvatura da viga, possibilitando
a determinao do momento no vo da viga
com ligaes semi-rgidas (M
vo(SR)
), para a carga
de projeto. Sabendo o momento (M
vo(SR)
), e de-
terminando o momento isosttico (para a carga
de projeto), possvel a obteno do momento
na extremidade da viga com ligaes semi-rgi-
das (M
extr(SR)
), como expresso na equao 7, de
acordo com CATOIA [1], e considerando a gura
3b. Assim, a porcentagem de engastamento do
apoio tambm pode ser determinada atravs
das curvaturas obtidas em cada modelo.
3. Programa experimental
3.1 CARACTERIZAO DOS MODELOS
Foram ensaiados dois modelos denomi-
nados de modelo BA e modelo SR. O modelo BA
foi composto por uma viga pr-moldada pro-
tendida bi-apoiada. O modelo SR foi composto
por uma viga pr-moldada protendida (idntica
viga do modelo BA) com a presena de liga-
es semi-engastadas, utilizando armadura de
continuidade correspondente a 4 f.16mm (ao
CA-50). Assim, o modelo SR foi constitudo por
uma viga pr-moldada protendida e por dois
elementos de pilares em L, simulando pilares
de extremidade.
Nos modelos ensaiados (modelo BA e
modelo SR), foram utilizadas vigas pr-molda-
REVISTA CONCRETO
91
A
R
T
I
G
O
C
I
E
N
T
F
I
C
O
das protendidas, sendo essas pr-fabricadas.
Utilizou-se a protenso com aderncia inicial e
foram empregados cabos retos com uma rea
de 390 mm
2
(4 f 12,7
.
mm) e ao corresponden-
te ao CP190-RB. Alm disso, tambm foram
utilizadas armaduras passivas positivas com ao
CA-50, correspondendo a uma rea de 160 mm
2
(2 f 10,0
.
mm). A armadura de continuidade foi
composta por barras de ao CA-50, com rea
correspondente a 804 mm (4 f. 16 mm). Tam-
bm foi empregada na viga armadura constru-
tiva de ao CA-25, correspondente a uma rea
de 314 mm (4 f. 10 mm). Alm disso, na viga
foram empregados dois tipos de estribos, com
dimetro de 8 mm e ao CA-50. importante
ressaltar que as vigas pr-moldadas protendi-
das apresentaram largura e altura de 400 mm,
constituindo uma pr-viga com a presena de
estribos acima da seo concretada. Para ambos
os modelos, a pr-viga teve sua parte superior
preenchida com concreto moldado no local,
atingindo uma altura de 600 mm.
Considerando o modelo SR, as armadu-
ras longitudinais negativas (4 f. 16mm) foram
acopladas em luvas inseridas nos elementos de
pilares atravs de rosqueamento. A solidarizao
das armaduras foi realizada atravs da concreta-
gem e preenchimento de 200 mm sobre a viga
pr-moldada. Desse modo, a viga passou a apre-
sentar 600 mm de altura, mantendo a largura
de 400 mm e o comprimento de 5900 mm. Com
o objetivo de promover a continuidade entre a
viga pr-moldada e o complemento concretado
no local, todos os estribos verticais de 8 mm foram
projetados para fora da parte pr-moldada.
As armaduras dos modelos foram ajusta-
das tendo em vista: questes de ordem prtica;
dimenses de bitolas mais empregadas na in-
dstria; evitar a runa localizada; compatibiliza-
o de disposies construtivas e de facilidade
de concretagem.
Na viga ensaiada, foi empregada proten-
so suciente para resistir ao momento referen-
te ao peso prprio da pr-viga, sendo utilizada
armadura passiva, com o intuito de, juntamente
com a protenso, resistir ao peso prprio total
e ao carregamento aplicado durante o ensaio.
Alm disso, foi empregada armadura passiva
at os apoios, a m de ancor-los, uma vez que
no se encontrou protenso nos mesmos. Assim,
com a protenso aplicada, foi possvel evitar a
ssurao para as cargas correspondentes ao
estado limite de servio, o que contribuiu para
analisar o efeito no-linear das ligaes sobre
o comportamento da viga.
3.2 ENSAIOS DOS MODELOS BA E SR
Nos modelos aplicou-se um carregamen-
to incremental monotnico com curta durao
por meio da utilizao de um atuador hidruli-
co com capacidade de 500 kN, alimentado por
uma bomba manual. A carga de projeto foi
estimada em 270 kN no atuador, dividido em
dois pontos de aplicao no trecho central da
viga. Os pontos de aplicao das cargas estavam
distantes 1000 mm, sendo realizada a aplicao
atravs de duas chapas metlicas xadas na
viga e adequadamente niveladas. Durante a
realizao dos ensaios, foram aplicados 3 car-
REVISTA CONCRETo
92
regamentos, atingindo cerca de 40% do carre-
gamento ltimo no primeiro, e atingindo 100%
do carregamento ltimo nos dois restantes.
Realizou-se esse procedimento com o intuito de
vericar o comportamento secante da rigidez
exo nas ligaes viga-pilar.
Para comprovar a validade do procedi-
mento analtico de anlise do comportamento
de ligaes semi-rgidas foram comparados
valores tericos com valores experimentais
obtidos nos dois ensaios realizados, que podem
ser observados na gura 5.
Primeiramente, foi realizado o ensaio do
modelo BA (viga protendida com apoios articula-
dos), para caracterizao da viga atravs da de-
terminao de sua relao momento-curvatura.
Em seguida, foi realizado o ensaio do modelo SR
(viga protendida com ligaes semi-rgidas), com
o intuito de analisar a inuncia das ligaes no
comportamento da viga protendida.
4. Resultados e discusses
Atravs dos resultados obtidos com o
ensaio do modelo BA (viga bi-apoiada), foi
possvel realizar a caracterizao da viga pr-
moldada protendida a partir da determinao
de sua relao momento-curvatura. Alm disso,
os resultados obtidos no ensaio do modelo BA
auxiliaram na determinao da rigidez e por-
centagem de engastamento da ligao viga-
pilar. Com os valores de echa e com os valores
de rotao obtidos com o ensaio do modelo
BA, foi possvel determinar a rigidez equiva-
lente da viga. Na tabela 1 esto apresentados
alguns resultados experimentais referentes aos
modelos ensaiados.
Os valores para a rigidez equivalente da
viga obtidos atravs da echa (2,4.10
11
kN.mm
2
)
e da rotao (2,3.10
11
kN.mm
2
), considerando a
carga de projeto, apresentaram-se muito pr-
ximos do valor de rigidez equivalente obtido
considerando a seo bruta da viga, que corres-
pondeu a 2,3.10
11
kN.mm
2
. Atravs desses resul-
tados, pde-se observar que a viga se encontrou
no estdio I de deformao mesmo quando
submetida a carga de projeto (270 kN).
Atravs dos resultados obtidos com o en-
saio do modelo SR, foi possvel analisar o compor-
tamento da viga pr-moldada protendida conside-
rando o efeito das ligaes semi-rgidas, atravs da
determinao da porcentagem de engastamento
REVISTA CONCRETO
93
A
R
T
I
G
O
C
I
E
N
T
F
I
C
O
da ligao e, conseqentemente, da redistribuio
dos esforos ao longo da viga protendida.
A porcentagem de engastamento dos
apoios foi determinada a partir de trs procedi-
mentos diferentes: considerando a relao entre
as echas de cada modelo; e atravs da relao
entre as rotaes de cada modelo; e atravs da
igualdade da relao momento-curvatura de
cada modelo. Pela primeira vez na literatura,
foram aplicados esses trs procedimentos para
a determinao da porcentagem de engasta-
mento de uma viga protendida. A seguir, sero
descritas os trs procedimentos empregados.
RELAO ENTRE AS FLECHAS
Durante a realizao dos ensaios, foram
registradas echas para diversos valores de
carga. Com os valores obtidos, considerando
a carga de projeto (270 kN), como pode ser
observado nos grcos de fora no atuador
versus echa, para os dois modelos, ilustrados
na gura 6, foi possvel determinar o fator de
restrio rotao
R
, empregando a equao
6, da seguinte maneira:
A partir da equao 2, foi determinada
a porcentagem de engastamento do apoio, da
seguinte maneira:
Considerando os modelo BA e SR, pode-se
dizer que houve uma reduo signicativa das e-
chas obtidas pelo modelo SR, quando comparado
com o modelo BA. Assim, mesmo no alcanando
um engastamento total do apoio, as ligaes pre-
sentes no modelo SR possibilitaram uma diminuio
das echas da viga. Desse modo, pode-se dizer que
as ligaes, ainda que para engastamentos parciais,
no s melhoram as redistribuies dos momentos,
como tambm reduzem as echas da viga.
RELAO ENTRE AS ROTAES
Para a determinao da porcentagem de
engastamento dos apoios da viga, foram utiliza-
das as rotaes obtidas atravs dos clinmetros,
considerando cada modelo e a carga de projeto
(270kN). Os grcos de fora no atuador versus
rotao para os dois modelos esto ilustrados na
gura 7. Assim, a partir das rotaes indicadas nes-
sa gura e considerando a equao 5, foi possvel
determinar a porcentagem de engastamento dos
apoios da seguinte maneira:
REVISTA CONCRETo
94
IGUALDADE MOMENTO-CURVATURA
Considerando a carga de projeto, cor-
respondente a 270 kN (no atuador), foi deter-
minada a curvatura para o modelo SR (9,9.10
-7
mm
-1
), atravs dos extensmetros eltricos de
base removvel. A partir desse valor de curva-
tura determinado, foi possvel obter o valor da
fora correspondente para o modelo BA (176
kN no atuador), como pode ser observado na
gura 8. Considerando a gura 9a, foi possvel
determinar o momento no meio do vo da viga
simplesmente apoiada (M
vo(BA)
), que correspon-
deu a 207,68 kN.m.
Considerando a mesma rigidez para
os dois modelos e o mesmo valor de curva-
tura obtido, foi possvel conhecer o valor
do momento no meio do vo do modelo SR,
que, por sua vez, correspondeu ao mesmo
valor do momento no meio do vo para o
modelo BA, como pode ser observado na
figura 9b.
Considerando a gura 9b, o momento
atuante na extremidade da viga com ligaes
REVISTA CONCRETO
95
A
R
T
I
G
O
C
I
E
N
T
F
I
C
O
resistentes exo (M
extr(SR)
), foi determinado
atravs da equao 7, da seguinte maneira:
Assim, com o momento na extremidade
da viga com ligaes semi-rgidas, foi possvel
determinar a porcentagem de engastamento
atravs da seguinte relao:
Sendo que o momento de engastamento
perfeito (M
eng
) corresponde ao momento da ex-
tremidade da viga com ligaes perfeitamente
rgidas, submetida carga de projeto.
Foram empregados os trs procedimentos,
descritos anteriormente, para a determinao da
porcentagem de engastamento dos apoios da
viga protendida, em estudo, com a nalidade de
comprovar a consistncia dos dados obtidos.
Com a determinao da porcentagem de
engastamento dos apoios, considerando as trs
maneiras descritas, foi determinada uma porcen-
tagem de engastamento mdia correspondente
a 60%, como pode ser observado na tabela 2.
A partir da porcentagem de engastamento
mdia do apoio, e sabendo o momento de engasta-
mento perfeito (considerando a rotao da ligao
nula), foi possvel a determinao do momento exis-
tente no apoio, ou seja, determinou-se o momento
que solicitou a ligao para a carga de projeto. Esse
momento correspondeu a 112,2 kN.m.
A metodologia desenvolvida, em CATOIA
[1], para a anlise dos resultados permitiu monitorar
a existncia de rotao na base dos apoios. Dessa
forma, analisando os resultados do ensaio do mode-
lo SR, observou-se a ocorrncia de giros nos pilares,
o que facilmente pde ser identicado comparando
REVISTA CONCRETo
96
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
[01] CATOIA, B. Comportamento de vigas protendidas pr-moldadas com ligaes semi-rgidas. So Carlos. 2007.
149f. Dissertao de Mestrado. Programa de Ps-Graduao em Construo Civil - Universidade Federal de
So Carlos, 2007.
[02] FERREIRA, M. A. Estudo do Comportamento de Sistemas Estruturais em Concreto Pr-Moldado. Relatrio
Cientco FAPESP, 2005.
[03] FERREIRA, M. A. Deformabilidade de ligaes viga-pilar de concreto pr-moldado. So Carlos. 1999. 232f.
Tese (Doutorado em estruturas) - Escola de Engenharia de So Carlos, Universidade de So Paulo, 1999.
[04] ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. NBR 9062: Projeto e execuo de estruturas de concreto
pr-moldado. Rio de Janeiro, 2006.
[05] FERREIRA, M. A.; EL DEBS, M. K.; ELLIOTT, K. S. Determinao terico experimental da relao momento-
rotao em ligaes viga-pilar de estruturas pr-moldadas de concreto. In: EPUSP. Anais do V Simpsio EPUSP
sobre estruturas de concreto. So Paulo, 2003.
[06] FERREIRA, M. A. Critrios e procedimentos analticos para a anlise e projeto de ligaes semi-rgidas em
estruturas de concreto pr-moldado. Inglaterra: School of Civil Engineering, University of Nottingham, UK.
Programa de pesquisa de ps-doutorado no exterior, 2001.
as leituras de rotao obtidas pelos clinmetros e
transdutores. Os clinmetros forneceram leituras
globais de rotao (rotao do apoio), enquanto
que os transdutores forneceram leituras relativas
de rotao (rotao da ligao). Assim, como ilus-
trado na gura 10, pode-se observar que os valores
de rotao obtidos atravs dos clinmetros e dos
transdutores se apresentaram distantes.
Uma vez obtidos os momentos nos apoios
da viga, as rigidezes efetivas das ligaes viga-pilar
podem ser estimadas a partir da rotao relativa
entre a viga e o consolo, no caso, obtidas por meio
dos transdutores. Desta forma, para o carregamen-
to de 270 kN no atuador central (correspondente
ao ELU), onde a ligao mobilizou um momento
de 112,22 kN.m, obteve-se uma rotao relativa
de 0,00049 rad, que corresponde a uma rigidez
efetiva da ligao (relao momento-rotao) da
ordem de R = 228.979 kN.m/rad. Entretanto, esse
valor de rigidez para a ligao correspondeu a
um patamar de servio em relao ao momento
de projeto da ligao. Por outro lado, mesmo na
hiptese da restrio total aos giros dos pilares, a
ligao deveria mobilizar momentos superiores e,
devido a no linearidade da sua relao momento-
rotao, o comportamento da ligao tenderia
para a reduo da sua rigidez rotacional, podendo
sofrer maiores deformaes para um mesmo nvel
de carregamento.
5. Concluses
Comparando os resultados obtidos por
diversos procedimentos, foi possvel a obteno
de resultados prximos, mostrando consistncia
do procedimento empregado. Atravs de ensaios
realizados com vigas pr-moldadas de concreto
protendido, foi possvel a utilizao de todas as
equaes presentes na conceituao terica, para
a obteno do momento na extremidade da viga
protendida com ligaes semi-rgidas, o que con-
tribuiu para a consolidao desse procedimento
de ensaio proposto pelo Ncleo de Estudo e Tec-
nologia em Pr-Moldados de Concreto (NETPRE),
o qual ainda no se encontra padronizado na
bibliograa internacional.
Atravs da anlise dos resultados, foi
possvel observar que mesmo a viga apresentan-
do linearidade no estado limite de servio, seu
comportamento foi no-linear devido inuncia
das ligaes.
Com essa metodologia experimental em-
pregada, foi possvel integrar diversas anlises
tericas, que permitiram estimar os momentos mo-
bilizados nos apoios e, conseqentemente, avaliar a
redistribuio dos momentos, ou seja, o coeciente
de engastamento parcial. A validao desses mto-
dos analticos permitir aos engenheiros estimar o
comportamento semi-rgido das ligaes viga-pilar
em estruturas pr-moldadas. Essas equaes so
baseadas no fator de restrio rotao, o qual
pode ser facilmente incorporado em programas de
anlise estrutural existentes, fornecendo estimativas
mais exatas para echas em vigas pr-moldadas ou
em estruturas semi-rgidas em esqueleto.
6. Agradecimentos
Este trabalho fruto de um Mestrado rea-
lizado no Ncleo de Estudo e Tecnologia em Pr-
Moldados de Concreto (NETPRE), dentro do Pro-
grama de Ps-Graduao em Construo Civil da
UFSCar. Os autores agradecem FAPESP pela bolsa
de mestrado e pelo auxlio do Programa Jovem
Pesquisador em Centros Emergentes. Os autores
agradecem Associao Brasileira de Construo
Industrializada de Concreto (ABCIC) pela doao
da estrutura pr-moldada do laboratrio NETPRE e
agradecem as empresas Leonardi e Protendit pela
doao dos modelos ensaiados.
R
E
C
O
R
D
E
S
D
A
E
N
G
E
N
H
A
R
I
A
D
E
C
O
N
C
R
E
T
O
A Torre de Res-
friamento de Niederaus-
sem, na Alemanha, a
mais alta (200m) e mais
larga (136m de dimetro
de base) do mundo, des-
taca-se, principalmente,
pelo tipo de concreto
usado em sua constru-
o. Denominado tec-
nicamente como HPC-
SRB 85/35, este concreto
caracteriza-se por seu
alto nvel de resistncia
contra o cido sulfrico
e outros gases cidos
lanados pela Torre.
Sob tais condi-
es, o concreto em geral usado nestas torres
deteriora-se muito rapidamente, caso no seja
protegido por uma manta resistente aos cidos.
Tal procedimento feito sob um custo muito
elevado e por diversas vezes durante a vida til
da estrutura.
Por isso, para a edicao da Torre de
Resfriamento de Niederaussem foi considerado
o uso de um concreto de alto desempenho que
prescindisse da cobertura da torre. Desenvolvido
conceitualmente pelo pesquisador Bernd Hil-
lemeier, da TU Berlin, o HPC-SRB 85/35 (Saeure
Resistant Beton) um concreto de alta densidade
e alta resistncia compresso. Foi estimado que
aos 28 dias a resistncia deveria alcanar 85MPa,
valor bem acima do especicado para o concreto
comumente usado nessas torres (35MPa).
O HPC-SRB caracterizado:
Por um baixo consumo de cimento
(250kg/m
3
), com baixa quantidade de lcalis;
Por escria de alto-forno com baixa
quantidade de gua, proveniente de
elevadas temperaturas;
Por microslica em suspenso com superfcie
aproximada de 50m
2
/g; este componente,
de 50 a 100 vezes menor do que as
partculas cimentcias, capaz de preencher
a maioria das cavidades microscpicas do
concreto, reduzindo a volume de poros;
Os aglomerantes so distribudos na
seguinte proporo: 70% de cimento,
20% de escria, 10% de microslica;
Por uma granulometria adequada de
agregados esfricos e muito densos que
reduz em 50% a quantidade de aglomerantes
em relao ao HPC convencional;
Por aditivos superplasticantes de quarta
gerao baseados em policarboxilatos
(PCE), garantindo-se um slump adequado
para assegurar a trabalhabilidade do
material, cuja relao gua-cimento
menor que 0,4.
O resultado um concreto com pro-
priedades nicas: pouca gua, baixa perda de
slump, baixa retrao, alta resistncia em per-
odo muito curto e boa trabalhabilidade.
DADOS TCNICOS
Operador: RWG Energie AG
Projetista: Krtzig und Partner Ingenieurgesellschaft mbH
Construtora: E. Heitkamp GmbH
Fabricante aditivos: MC-Bauchemie
Circulao de gua: 91.000 m
3
/h
Volume de concreto: 32.000 m
3
Volume de HPC: 17.650 m
3
Volume de ao: 3,65 milhes de kilos
Torre Niederaussem:
concreto de alto desempenho
resistente aos cidos
97
REVISTA CONCRETo
98
O mais novo empreendimento comer-
cial de Alphaville, o West Point, atualmente em
fase de execuo, com 22% de sua estrutura
pronta, j acumula um recorde nacional: 10
horas de concretagem ininterrupta com con-
creto auto-adensvel.
Esse foi o tempo necessrio para con-
cretar uma laje com extenso de 1500m
2
, vigas
e pilares de um dos pavimentos, totalizando
385m
3
. Foram necessrios 55 caminhes para
completar a empreitada.
O West Point est localizado na entrada
de Alphaville e ser vizinho do futuro Shopping
Iguatemi. Edicao com 90m, 18 pavimentos
mais 3 subsolos, a previso de entrega maio
de 2009.
West Point: recorde nacional
em concretagem com CAA
DADOS TCNICOS
Construtora: Sinco Engenharia
Concreteira: Polimix Concreto Ltda.
Data da concretagem: 11/06/08
Fornecedor aditivo: Sika Brasil
Volume total utilizado no concreto
auto-adensvel: 385 m
3
Resistncia compresso (mdia) 7 dias: 32,5 MPa
Resistncia compresso (mdia) 28 dias: 39,3 MPa
Mdulo de elasticidade (mdia) 7 dias: 21,0 GPa
Resistncia compresso (mdia) 28 dias: 30,0 GPa
Flow (mdia): 720 mm
L box: 0,93
REVISTA CONCRETO
99
R
E
C
O
R
D
E
S
D
A
E
N
G
E
N
H
A
R
I
A
D
E
C
O
N
C
R
E
T
O
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
anuncio_predio21X28.pdf 7/11/08 11:32:48 AM
REVISTA CONCRETo
100
Você também pode gostar
- Vbscript PDFDocumento23 páginasVbscript PDFMarcelo Bernardino Cardoso100% (1)
- Tabela DocLabs Ortodontia - Maio 2013 PDFDocumento2 páginasTabela DocLabs Ortodontia - Maio 2013 PDFdoc_digital1Ainda não há avaliações
- Cofap BandejasDocumento22 páginasCofap BandejasfrancohoffAinda não há avaliações
- Frequencimetro MF 7130ADocumento11 páginasFrequencimetro MF 7130ANeilson Luniere Vilaça100% (1)
- Manual Professor ASA) PDFDocumento104 páginasManual Professor ASA) PDFAna Abreu50% (2)
- INCORPORAÇÃO DE TiO2 EM TINTA PARA OBTENÇÃO DE PROPRIEDADES AUTO-LIMPANTES E DESPOLUIDORADocumento7 páginasINCORPORAÇÃO DE TiO2 EM TINTA PARA OBTENÇÃO DE PROPRIEDADES AUTO-LIMPANTES E DESPOLUIDORAAecio BreitbachAinda não há avaliações
- Apostilaexamebacharel 5 Aedicaoatualizadaem 30!10!2014Documento400 páginasApostilaexamebacharel 5 Aedicaoatualizadaem 30!10!2014EDINAGL67% (6)
- Apostila Aeronáutica Eaoear 2018 Engenharia de Computação + Vídeo AulasDocumento3 páginasApostila Aeronáutica Eaoear 2018 Engenharia de Computação + Vídeo AulasUniversia EditoraAinda não há avaliações
- Dner Es338 97Documento4 páginasDner Es338 97João FontesAinda não há avaliações
- Comparações IntertemporaisDocumento37 páginasComparações IntertemporaisManoel Elias Amaral JuniorAinda não há avaliações
- Fazer Ou Construir Caiaque de Garrafas Pet - Kaypet, Projeto Grátis, Faça Você MesmoDocumento14 páginasFazer Ou Construir Caiaque de Garrafas Pet - Kaypet, Projeto Grátis, Faça Você MesmoJoao Ferreira JuniorAinda não há avaliações
- FGV 2010 Fiocruz Tecnico em Saude Publica Operacao de Equipamentos de Reproducao Audiovisual ProvaDocumento8 páginasFGV 2010 Fiocruz Tecnico em Saude Publica Operacao de Equipamentos de Reproducao Audiovisual ProvaAndré Filipe Assunção SilvaAinda não há avaliações
- MS 038Documento42 páginasMS 038Daniel zanelattoAinda não há avaliações
- Relatório Massa Especifica Agregados PDFDocumento16 páginasRelatório Massa Especifica Agregados PDFLuan C. RibeiroAinda não há avaliações
- TesteDocumento105 páginasTesteAutomação CAIS DO SERTÃOAinda não há avaliações
- Manejo Da Palma Forrageira PDFDocumento15 páginasManejo Da Palma Forrageira PDFLéo PalharesAinda não há avaliações
- Cadastro de LaboratorioDocumento3 páginasCadastro de LaboratorioTifani TeixeiraAinda não há avaliações
- Ultra Clear GP TWF Uv TMDocumento3 páginasUltra Clear GP TWF Uv TMelisabeteAinda não há avaliações
- Programação C#Documento334 páginasProgramação C#Wagner SantosAinda não há avaliações
- Monografia Cloud Computing UNIFORDocumento53 páginasMonografia Cloud Computing UNIFORPhilipp Costa100% (1)
- Apresentacao Parcial TCC Israel Goncalves 2019 2Documento9 páginasApresentacao Parcial TCC Israel Goncalves 2019 2Israel GonçalvesAinda não há avaliações
- Riscos Ocupacionais EletricistasDocumento4 páginasRiscos Ocupacionais Eletricistaslolaisi2014Ainda não há avaliações
- Testando Relés Automotivos Com o Multímetro (ART032)Documento9 páginasTestando Relés Automotivos Com o Multímetro (ART032)Laércio LaercioAinda não há avaliações
- Samsung-Sgh-C266 Ug BR VivoDocumento2 páginasSamsung-Sgh-C266 Ug BR VivoalexandredscAinda não há avaliações
- Geladeira - Refrigerador Brastemp Frost Free Clean BRM39 352L BrancoDocumento2 páginasGeladeira - Refrigerador Brastemp Frost Free Clean BRM39 352L BrancoJoão CarlosAinda não há avaliações
- Rel Atividades IU 2009 PDFDocumento51 páginasRel Atividades IU 2009 PDFTHE-LEEHPLAY FreeFireAinda não há avaliações
- Conta Da TimDocumento4 páginasConta Da TimGabriel AlexsandroAinda não há avaliações
- Sensor de TemperaturaDocumento3 páginasSensor de TemperaturaG. VilãoAinda não há avaliações
- FsguycCkJMPivm4p0i5I9cMBAVJjs4JFJnOS4P5N PDFDocumento6 páginasFsguycCkJMPivm4p0i5I9cMBAVJjs4JFJnOS4P5N PDFcleytonco2211Ainda não há avaliações
- Ava Direitos HumanosDocumento8 páginasAva Direitos HumanosMarcosPauloGrilloAinda não há avaliações