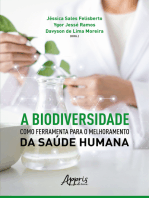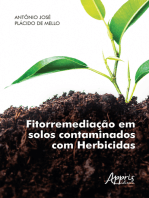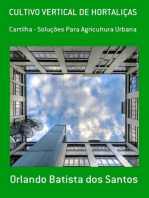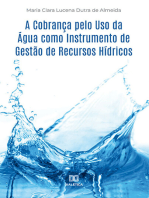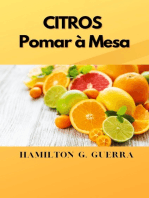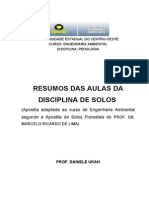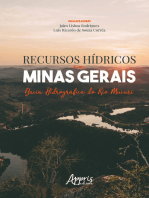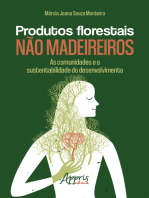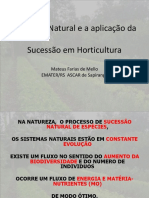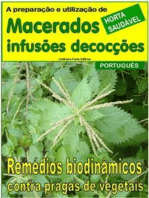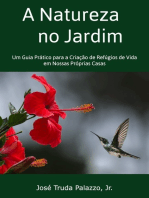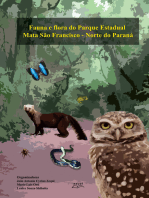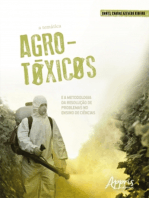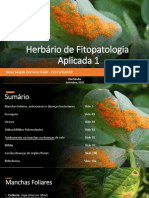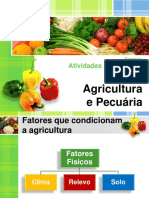Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Artigo 6 PDF
Artigo 6 PDF
Enviado por
Cristiane Santos0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
16 visualizações12 páginasTítulo original
Artigo 6.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
16 visualizações12 páginasArtigo 6 PDF
Artigo 6 PDF
Enviado por
Cristiane SantosDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 12
A Teoria da Trofobiose sob a abordagem sistmica da agricultura:
eficcia de prticas em agricultura orgnica.
The Trophobiosis Theory based on agriculture systemic approach: eficiency of organic
agriculture practices
VILANOVA, Cllio
1
; SILVA JNIOR, Carlos Dias da
2
.
1
Universidade Federal de Sergipe, Ncleo de Ps-Graduao e Estudos em Recursos Naturais,
Mestrado em Agroecossistemas, Aracaju/SE, Brasil, vila@infonet.com.br;
2
Universidade Federal de
Sergipe, Departamento de Biologia, Aracaju/SE, Brasil, cdias@ufs.br
RESUMO: Na agricultura, o enfoque sistmico cada vez mais necessrio, devido crescente
complexidade de sistemas organizados e manejados pelo homem e da emergncia do conceito de
sustentabilidade. Na abordagem sistmica se busca entender as interaes de fatores e a complexidade
ambiental, com o estudo do desempenho total de sistemas, em vez de se concentrar isoladamente nas
partes. A resistncia fisiolgica vegetal, que tem um dos mecanismos na Trofobiose, contempla uma
viso sistmica, considerando que o ambiente de uma planta cultivada individual composto de muitos
fatores que interagem e que o manejo sustentvel do agroecossistema requer o conhecimento da
complexidade do ambiente e de como os fatores podem ser manejados. De acordo com a Teoria da
Trofobiose, todo organismo vegetal fica vulnervel infestao de pragas e doenas quando h
excessos de aminocidos livres e acares redutores no sistema metablico. No presente estudo, com
base em princpios e mtodos agroecolgicos, procura-se determinar quais as prticas de agricultura
orgnica podem ser mais eficazes na contribuio ao equilbrio trofobitico e como a trofobiose est
diretamente relacionada ao manejo agroecolgico das culturas, contribuindo para a resistncia
fisiolgica vegetal e caracterizando-se como um mecanismo de sustentabilidade do agroecossistema.
PALAVRAS-CHAVE: trofobiose, abordagem sistmica, agricultura orgnica.
ABSTRACT: In agriculture, the systemic focus is more and more necessary, because of the crescent
complexity of organized systems managed by man and the urgency of the sustainability concept. The
systemic approach looks for understanding the interaction of factors and the ambient complexity, with a
study of the total development of systems, instead of concentrating in isolated parts. The physiologic
vegetal resistance, that has one mechanism in Trophobiosis, contemplates the systemic vision,
considering that the environment of an individual crop plant consists of many factors that interact among
themselves and that the sustainable management of the agro-ecosystem requires the knowledge of the
environment complexity and of how the factors can be managed. According to the Trophobiosis Theory,
every vegetal organism is vulnerable to the pest infestation and illness when excess of free amino acids
and glycosides reductor species are present in the metabolic system. This study, based on agro
ecological principles and methodology, tries to determine which organic agricultural practice can be more
efficient in the contribution to the trophobiotic equilibrium and how the trophobiosis is directly related to
the crops agro ecological management, helping out to the physiological vegetal resistance and
distinguishing itself as an agro-ecosystem mechanism of sustainability.
KEY WORDS: trophobiosis, systemic approach, organic agriculture.
Revista Brasileira de Agroecologia
Rev. Bras. de Agroecologia. 4(1):39-50 (2009)
ISSN: 1980-9735
Correspondncias para: vila@infonet.com.br
Aceito para publicao em 25/04/2009
3 9
Introduo
O termo Trofobiose origina-se do grego:
Trophos (alimento) e Biosis (existncia de vida).
De acordo com essa Teoria, todo organismo
vegetal fica vulnervel infestao de pragas e
doenas quando excessos de aminocidos livres e
acares redutores esto presentes no sistema
metablico (POLITO, 2005). A trofobiose est
diretamente relacionada ao manejo agroecolgico
das culturas, contribuindo para a resistncia
fisiolgica vegetal e sustentabilidade do
agroecossistema.
A Agroecologia, a partir de um enfoque
sistmico, adota o agroecossistema como unidade
de anlise e proporciona as bases cientficas
(princpios, conceitos e metodologias) para apoiar
o processo de transio do atual modelo de
agricultura convencional para estilos de
agriculturas sustentveis. Sendo o
agroecossistema a unidade fundamental de
estudo, nos quais os ciclos minerais, as
transformaes energticas, os processos
biolgicos e as relaes scio-econmicas so
vistas e analisadas em seu conjunto, seus
objetivos no so a maximizao da produo de
uma atividade particular, mas a otimizao do
agroecossistema como um todo. Isso significa a
necessidade de uma maior nfase no
conhecimento, na anlise e na interpretao das
complexas relaes existentes entre as pessoas,
os cultivos, o solo, gua e os animais. Nesta
perspectiva, torna-se evidente a necessidade de
se adotar um enfoque holstico e sistmico em
todas as intervenes que visem transformar
ecossistemas em agroecossistemas (ALTIERI,
2002; CAPORAL & COSTABEBER, 2004).
A abordagem sistmica visa ao estudo do
desempenho total de sistemas, em vez de se
concentrar isoladamente nas partes. Na
agricultura, o enfoque sistmico tem-se tornado
cada vez mais necessrio, devido crescente
complexidade de sistemas organizados e
manejados pelo homem e da emergncia do
conceito de sustentabilidade (PINHEIRO, 2000).
A sanidade dos organismos agrcolas deve ser
considerada como uma situao de equilbrio
dinmico, pela qual se busca atingir a
sustentabilidade, da qual os ecossistemas
naturais nos oferecem amostras. Como os
agroecossistemas no so naturais, mas
mantidos pelo homem para privilegiar os
cultgenes de seu interesse, so necessrias
medidas compensadoras, que constituem as
tcnicas de agricultura orgnica (DEFFUNE,
2007).
A sanidade dos vegetais e animais e a
qualidade de seus produtos dependem no s das
tcnicas adotadas, mas da aplicao consciente
do conhecimento dos processos vitais envolvidos
e da natureza dos problemas (pragas, doenas)
que necessitem ser resolvidos (DEFFUNE, 2007).
Considerando os efeitos das tecnologias sobre a
agricultura, h de se observar, de forma sistmica,
os mecanismos de causa e efeito das tecnologias
sobre a sustentabilidade do agroecossistema, da
mesma forma em que Hipcrates, pai da Medicina
recomendava: Sublata causa tolitur effectus
(eliminada a causa cessam os efeitos). Com
essa premissa, o cientista francs Francis
Chaboussou estabeleceu as bases da Teoria da
Trofobiose, considerando que o ataque de pragas
e doenas nos cultivos um efeito, cuja causa
est no desequilbrio metablico da planta
(PINHEIRO & BARRETO, 1996).
De forma sustentvel, a agricultura orgnica
utiliza uma dos pilares de qualquer ecossistema
o solo como um espao habitado por milhares
de organismos, com infindveis interaes entre si
e com os componentes no vivos, comportando-
se como um componente vivo dentro do
ecossistema, afetando e sendo diretamente
afetado pelas prticas culturais utilizadas no
processo de produo (FEIDEN, 2001). De
acordo com Gliessman (2005), os princpios e
mtodos ecolgicos, que formam a base da
Vilanova & Silva Junior
Rev. Bras. de Agroecologia. 4(1):39-50 (2009)
40
Agroecologia, so essenciais para determinar: se
uma prtica, insumo ou deciso de manejo
agrcola sustentvel; a base ecolgica para o
funcionamento, a longo prazo, da estratgia de
manejo escolhida. Uma vez que esses estejam
identificados, podem ser desenvolvidas prticas
que reduzam os insumos externos comprados,
diminuam os impactos de tais insumos quando
usados e estabeleam uma base para desenhar
sistemas que ajudem os produtores a sustentar
seus cultivos e suas comunidades produtoras.
No presente estudo, com base em princpios e
mtodos agroecolgicos, procura-se determinar
quais as prticas de agricultura orgnica podem
ser mais eficazes na contribuio ao equilbrio
trofobitico e como a trofobiose est diretamente
relacionada ao manejo agroecolgico das culturas,
contribuindo para a resistncia fisiolgica vegetal
e caracterizando-se como um mecanismo de
sustentabilidade do agroecossistema.
Materiais e mtodos
Os estudos foram desenvolvidos na
mesorregio do Agreste Sergipano, no Estado de
Sergipe. O sistema de agricultura orgnica do
Agreste Sergipano est caracterizado pelo cultivo
predominante e diversificado de hortalias,
associado com pequena pecuria (gado de leite e
ovinos). Os produtores orgnicos esto
organizados em associaes (ASPOAGRE
Associao de Produtores Orgnicos do Agreste e
APM Associao dos Pequenos e Mdios
Empreendedores Rurais de Malhador) e
desenvolvem o sistema, em pequenas
propriedades, h cerca de sete anos, com
certificao pelo Instituto Biodinmico IBD.
Dentre o grupo de produtores foi identificado um
produtor padro (Sr. Carlos Batista dos Santos),
em cuja unidade familiar de produo (Stio
Matapu), de 4,8 hectares, desenvolve seu cultivo
hortcola diversificado (com plantios de couve,
cenoura, tomate, abbora, pimento, batata),
associado a pequena pecuria (gado leiteiro e
ovinos) e onde executa a grande maioria das
prticas de agricultura orgnica adotadas pelo
grupo de produtores, com regularidade e
eficincia, sendo, portanto, representativo no
sistema de produo adotado pelo grupo. A
propriedade analisada (Stio Matapu) est
localizada no municpio de Itabaiana, com
coordenadas UTM N 06 66 81 e E 88 23 10 e
altitude de 223 m.
A caracterizao das reas produtivas, do
grupo de produtores e do sistema de produo
orgnica adotado no Agreste Sergipano,
considerados neste estudo, est baseada em
diagnsticos realizados pelo SEBRAE/SE (2006a
e 2006b).
Foram identificadas, dentro do sistema de
produo, as prticas mais eficazes para alcanar
um equilbrio trofobitico e como a trofobiose est
diretamente relacionada ao manejo agroecolgico
das culturas, contribuindo para a resistncia
fisiolgica vegetal e caracterizando-se como um
mecanismo de sustentabilidade do
agroecossistema. Embora escolhidas conforme o
sistema de produo da rea em estudo
(agricultura orgnica do Agreste Sergipano), as
prticas so comuns aos padres de cultivo
utilizados em qualquer plantio que adote os
preceitos da Agricultura Orgnica.
Resultados e discusso
Sustentabilidade de prticas agrcolas
mediante princpios agroecolgicos Manejo
da complexidade
O ambiente, no qual um organismo individual
ocorre, precisa ser compreendido como um
conjunto dinmico, em constante mudana, de
todos os fatores ambientais (luz, temperatura,
precipitao, vento, solo, umidade do solo, fogo e
fatores biticos) em interao, ou seja, como um
complexo ambiental. O manejo sustentvel de
agroecossistemas requer o conhecimento de
A Teoria da Trofobiose sob a abordagem
4 1
Rev. Bras. de Agroecologia. 4(1):39-50 (2009)
como fatores individuais afetam organismos
cultivados e como todos os fatores interagem para
formar o complexo ambiental (GLIESSMAN,
2005).
Diante dos recursos naturais, as prticas
executadas nos agroecossistemas pela agricultura
orgnica tm o objetivo de otimizar os fluxos de
nutrientes, reduzir as perdas e melhorar as
condies ambientais para proporcionar
produtividades timas das culturas com
sustentabilidade, considerandose as suas inter-
relaes e implicaes com e sobre o restante do
sistema (FEIDEN, 2001).
Estando a trofobiose intimamente relacionada
aos mecanismos fisiolgicos do estresse, capaz
de motivar o estado em que aminocidos livres e
acares redutores estejam disponveis para
alimentao de fitoparasitas, importante
observar os fatores que promovam esse estresse,
bem como as prticas agrcolas capazes de
minimiz-lo.
Uma srie de condies do ambiente natural
pode causar o estresse da planta (LARCHER,
2000):
- fatores abiticos fatores climticos (alta ou
baixa radiao, temperaturas excessivamente
altas ou baixas, precipitao deficiente, seca,
ventos fortes) e condies do solo (altas
concentraes de sal e minerais ou deficincia
mineral, acidez, baixa concentrao de oxignio);
- fatores biticos adensamento de plantas,
uso intenso das plantas por animais e
microorganismos, aes antropognicas.
Raramente na natureza ocorre um fator de
estresse sozinho e sem a influncia de outros
fenmenos. Frequentemente, mltiplos estresses
esto envolvidos, em uma combinao de fatores
(LARCHER, 2001). A anlise individualizada de
uma prtica agrcola que possa minimizar um fator
de estresse uma anlise parcial e deve ser
ampliada para o conjunto de prticas adotadas no
sistema produtivo e redesenho de todo o sistema,
de modo que os mltiplos estressores possam ser
contornados.
Entre os fatores estressores, capazes de
promover o desequilbrio metablico que age
sobre a proteossntese e, consequentemente,
sobre a resistncia da planta, Chaboussou (1999)
destaca:
- fatores intrnsecos, que envolvem a
constituio gentica da planta (a espcie e a
variedade, a idade dos rgos ou da planta);
- fatores abiticos: o clima (energia solar,
temperatura, umidade, precipitao, influncias
csmicas);
- fatores culturais: o solo (composio qumica,
estruturao, aerao), a fertilizao (orgnica e
mineral), a enxertia (influncia do porta-enxerto
sobre a fisiologia do enxerto e reciprocamente), o
tratamento com agrotxicos (desencadeamento
de desequilbrios biolgicos.
Um conjunto de prticas agrcolas baseadas
nos princpios agroecolgicos pode ser bastante
eficaz no manejo da complexidade ambiental e na
contribuio ao equilbrio trofobitico, resultando
em menor vulnerabilidade das plantas incidncia
de pragas e doenas. Essas prticas devero
sempre incluir (ALTIERI, 2002):
- cobertura vegetal como uma medida eficiente
na conservao do solo e da gua, atravs do uso
de plantio direto, cobertura morta, cobertura viva
etc;
- suprimento regular de matria orgnica
(esterco, composto) e promoo da atividade
bitica do solo;
- mecanismos de reciclagem de nutrientes
atravs do uso de rotaes de culturas, sistemas
integrados de produo de plantas e animais,
sistemas agroflorestais e sistemas consorciados;
- controle de pragas, com maior atividade dos
agentes de controle biolgico, alcanada por
intermdio do manejo da biodiversidade e da
introduo e/ou conservao dos inimigos
naturais;
- maior capacidade de uso mltiplo da
paisagem;
Vilanova & Silva Junior
42
Rev. Bras. de Agroecologia. 4(1):39-50 (2009)
- manuteno da produo sem uso de
insumos qumicos que degradam o ambiente.
No desconsiderando uma srie de prticas
culturais recomendadas no manejo agroecolgico
preconizado pela agricultura orgnica, algumas
prticas principais podem ser destacadas pela sua
efetividade trofobiose:
- uso eficiente da irrigao;
- formao de quebra-ventos;
- adubao orgnica;
- manejo nutricional do plantio;
- emprego de biofertilizantes e caldas
fertiprotetoras;
- calagem e gessagem;
- uso de espcies e variedades adequadas s
condies edafoclimticas locais;
- manuteno da cobertura do solo;
- excluso do uso de agrotxicos.
Uso eficiente da irrigao
Em regies de baixa precipitao pluviomtrica
ou de distribuio irregular das chuvas durante o
ano, o uso eficiente da irrigao procura manter a
umidade do solo sempre em condies
adequadas para o desenvolvimento das plantas,
sem falta nem excesso de gua. O dficit hdrico
como fator de estresse ocorre quando muito
pouca gua est disponvel planta.
No h processo vital que no seja afetado de
alguma forma pelo declnio do potencial hdrico,
alterando numerosas funes celulares. A primeira
e mais sensvel resposta ao dficit hdrico a
diminuio da turgescncia, associada
diminuio do processo de crescimento. O
metabolismo das protenas e dos aminocidos
logo limitado (LARCHER, 2001; FUMIS &
PEDRAS, 2002).
Quando a turgescncia comea a diminuir so
iniciadas medidas osmorregulatrias. A
combinao de sntese de compostos orgnicos
nitrogenados e a converso de amido para
carboidratos solveis ocasiona a acumulao de
substncias orgnicas de baixo pelo molecular
nos compartimentos celulares e no citosol
(LARCHER, 2001). Essa disfuno ocorre sob
diversas condies de estresse (no apenas
hdrico)
1
.
Formao de quebra-ventos
O efeito fsico do vento, em reas que tendem
a ter vento mais constante, pode desenvolver
condies desfavorveis s plantas, como a
dessecao. No desenho de agroecossistemas
sustentveis devem ser consideradas as tcnicas
capazes de mitigar os aspectos negativos do
vento, como os quebra-ventos.
A abertura dos estmatos na folha da planta
leva a um espao de ar na qual a troca de gs
ocorre nas paredes das clulas circundantes.
Neste espao, saturado de umidade, o vapor
dgua flui de dentro para fora da folha, criando
uma camada limtrofe de ar saturado ao redor da
superfcie da folha. O vento remove essa camada,
aumenta a transpirao e a perda de gua pela
planta. Esta perda pode ser prontamente
substituda por absoro pelas razes e transporte
subseqente para as folhas, mas se a taxa de
dessecao exceder da substituio, pode
ocorrer murcha e conseqente desequilbrio
metablico (GLIESSMAN, 2005).
A formao de barreiras ou de faixas de
vegetao nas margens dos cultivos proporciona
tambm uma reduo na disperso de pragas
(como pulges e tripes) pelo vento na rea
cultivada (ALTIERI et al., 2003).
Adubao orgnica
De acordo com Paschoal (1996), ao contrrio
dos fertilizantes minerais solveis, os adubos
orgnicos fornecem todos os macro e
micronutrientes que as plantas precisam e em
doses proporcionais, sem excessos nem
carncias. Por isso culturas adubadas
organicamente acham-se perfeitamente
A Teoria da Trofobiose sob a abordagem
4 3
Rev. Bras. de Agroecologia. 4(1):39-50 (2009)
equilibradas em seu metabolismo, no ocorrendo
acmulos de substncias solveis, o que as
tornam mais resistentes ao deletria das
espcies daninhas. Estimulando a proteossntese,
o hmus protege as plantas de pragas e doenas.
A matria orgnica humificada do solo tambm
melhora as propriedades fsicas e biolgicas do
solo, permitindo que as razes desenvolvam-se
mais e assim a planta (cultura) consiga competir
mais satisfatoriamente com as plantas invasoras
(espontneas). Estimuladas pelas substncias
hmicas, a raiz aumenta sua capacidade de
absoro de nutrientes e outros compostos
minerais e orgnicos liberados no solo pela maior
atividade microbiana. Desta forma que se
alcana, na prtica da Agricultura Orgnica, uma
condio de resistncia fisiolgica da plantas s
pragas e doenas, permitindo uma maior
sustentabilidade do sistema de produo.
Manejo nutricional do plantio
Todos os aspectos da resistncia fisiolgica
das plantas esto intimamente relacionados com o
status nutricional das plantas e refletem tanto
uma modificao no ambiente nutricional do
patgeno como na ao de enzimas e na
produo e acmulo de compostos inibidores da
patognese, como as fitoalexinas (ZAMBOLIM &
VENTURA, 1996; POLITO, 2006; DEFFUNE,
2007).
Muitos estudos demonstram a estreita relao
entre a nutrio mineral e a resistncia da planta a
patgenos, verificando-se que alguns nutrientes
aumentam a severidade da incidncia de doenas
e pragas, enquanto outros a reduzem, devendo-se
buscar uma nutrio equilibrada. Os mecanismos
de resistncia fisiolgica pelos nutrientes tm sido
associados regulao de aminocidos e
sntese de protenas. O nitrognio normalmente
estabelece a composio de certos aminocidos e
protenas, enquanto que o zinco e outros
elementos interagem com o nitrognio para
regular aminocidos, amidas e a concentrao de
protenas (SIQUEIRA & FRANCO, 1988;
PRIMAVESI, 1994; ZAMBOLIM & VENTURA,
1996; POLITO, 2006).
Os elementos minerais no somente servem
como substratos, mas tambm determinam a rota
das reaes fisiolgicas do metabolismo. O
aumento da taxa de respirao, permeabilidade
celular e a translocao podem aumentar a
disponibilidade de nutrientes para o patgeno. O
estado nutricional do hospedeiro particularmente
crtico no caso de patgenos obrigatrios. A
concentrao de determinados vrus
proporcional ao vigor do hospedeiro (ZAMBOLIM
& VENTURA, 1996).
O manejo nutricional deve considerar, no
entanto, no apenas o aporte de nutrientes s
plantas, em adequadas propores, mas a
reduo das perdas de nutrientes no sistema. De
acordo com Feiden (2001), enquanto nas regies
temperadas os solos so ricos em nutrientes e a
atividade biolgica lenta e sofre interrupes
ocasionadas pelo inverno rigoroso, em regies
tropicais e equatoriais midas, os solos so
pobres e a atividade biolgica intensa. Em
nossas condies tropicais, a melhor estratgia
para conservar os nutrientes no sistema mant-
los fixados na matria orgnica, tanto nas plantas
vivas como na matria orgnica do solo. Assim, a
imobilizao de nutrientes, que considerado
como um aspecto negativo no manejo
convencional de fertilizantes, sob o enfoque
agroecolgico passa a ser um mecanismo chave
na manuteno dos nutrientes no
agroecossistema.
Emprego de biofertilizantes e caldas
fertiprotetoras
Os biofertilizantes lquidos, na forma de
fermentados microbianos enriquecidos, funcionam
como promotores de crescimento (equilbrio
nutricional) e como elicitores na induo de
resistncia sistmica na planta. Alm disso,
ajudam na proteo da planta contra o
Vilanova & Silva Junior
44
Rev. Bras. de Agroecologia. 4(1):39-50 (2009)
ataque de doenas, por antibiose, e contra o
ataque de pragas, por ao repelente,
fagodeterrente (inibidores de alimentao) ou
afetando o seu desenvolvimento e reproduo
(MEDEIROS, 2002; MEDEIROS et al., 2003).
Embora existam diferentes formas de preparo de
biofertilizantes, na agricultura orgnica praticada
no Agreste Sergipano tem sido
predominantemente utilizado o chamado Biogeo,
enriquecido com o composto orgnico Microgeo
(SEBRAE/SE, 2006a; SEBRAE/SE, 2006b).
Os biofertilizantes possuem compostos
bioativos, resultantes da biodigesto de
compostos orgnicos de origem animal e vegetal,
contendo clulas vivas ou latentes de
micorganismos de metabolismo aerbico,
anaerbico e fermentao (bactrias, leveduras,
algas e fungos filamentosos), alm de metablitos
e quelatos organominerais (MEDEIROS et al,
2003). Os biofertilizantes contribuem
significativamente para o manejo nutricional do
plantio e seu equilbrio trofobitico, no sistema de
produo orgnica. Alves et al. (2001) destacam
sua importncia para o controle sustentvel das
pragas e reduo dos custos de produo da
cultura, devendo fazer parte do manejo
agroecolgico para a cultura, levando em conta
sua influncia sobre as relaes trofobiticas das
plantas e pragas.
Caldas fertiprotetoras (sulfoclcica, bordalesa e
viosa) tm ao inseticida, acaricida, fungicida e
nutricional, preparadas pelos agricultores e
pulverizadas sobre as plantas objetivando o
controle de doenas e o aumento da resistncia
da planta s pragas, restabelecendo o equilbrio
trfico e fornecendo clcio, cobre, enxofre e
micronutrientes (POLITO, 2000; ANDRADE &
NUNES, 2001; MEDEIROS et al., 2007). No caso
da calda sulfoclcica, o enxofre tem efeito no
sistema de proteossntese, ligado especialmente
metionina e cistena (POLITO, 2005).
Calagem e gessagem
Para correo da acidez do solo, recomenda-
se a calagem, com aplicao de calcrio no
superiores a 2 t/ha por ano (FEIDEN, 2001),
calculadas com base na anlise de solo para
corrigir deficincia de clcio e magnsio ou
neutralizao de alumnio trocvel.
A aplicao do gesso agrcola (gessagem),
alm de adicionar enxofre ao sistema, favorece o
transporte de Ca e Mg para camadas mais
profundas do solo, estimulando a penetrao das
razes. Com o melhor desenvolvimento radicular a
planta aumenta sua capacidade de absoro de
gua e nutrientes, tornando-se menos vulnervel
baixa unidade e reciclando os nutrientes
arrastados s camadas mais profundas do solo. O
gesso tambm pode ser usado, eventualmente,
no tratamento contra salinidade do solo , assim
tornado, por exemplo, pela m utilizao da
irrigao ou ausncia de drenagem.
Uso de espcies e variedades adequadas s
condies edafoclimticas locais
O modelo de agricultura convencional enfatiza
as monoculturas e o plantio de variedades mais
produtivas e com pequena variabilidade gentica,
criando sistemas ecolgicos muito simplificados e
instveis, favorecendo o estabelecimento e
multiplicao de pragas e doenas (PASCHOAL,
1996). Estas variedades, em geral, s respondem
ao potencial produtivo quando associadas a um
pacote tecnolgico que utilize altas doses de
agrotxicos e fertilizantes. J as culturas
tradicionais foram adaptadas s condies
reinantes do ambiente, especialmente s
condies adversas (PRIMAVESI, 1994) e so,
portanto, menos suscetveis a estresses causados
por condies ambientais desfavorveis.
Manuteno da cobertura do solo
No manejo ecolgico do solo utiliza-se
cobertura do solo, seja atravs de plantas vivas
ou de cobertura morta, a fim de
A Teoria da Trofobiose sob a abordagem
4 5
Rev. Bras. de Agroecologia. 4(1):39-50 (2009)
proteger a superfcie do solo da intensa radiao
solar, evitando a queima da matria orgnica do
solo, reduzindo a amplitude trmica da superfcie,
a perda de gua por evaporao, o impacto das
gotas de chuva sobre a superfcie e a velocidade
do escorrimento superficial do excesso de gua
das chuvas (PRIMAVESI, 1986; PRIMAVESI,
1994; FEIDEN, 2001; ALTIERI, 2002).
A estratgia de manuteno da cobertura do
solo, alm de proteger o solo das perdas de
nutrientes pela eroso, tambm atua no sentido de
manter estes nutrientes na biomassa do sistema
(FEIDEN, 2001).
Alta radiao, alta temperatura e baixa
umidade so fatores causadores de estresse e de
distrbios metablicos (LARCHER, 2001), que
podem ser evitados ou reduzidos pela cobertura
do solo.
Excluso do uso de agrotxicos
Numerosos estudos, discutidos por
CHABOUSSOU (1999), demonstram o aumento
da sensibilidade das plantas ao ataque de pragas
e doenas aps tratamentos com agrotxicos.
A despeito das barreiras que devem
ultrapassar os agrotxicos, sejam sistmicos ou
no, sejam fungicidas, inseticidas ou herbicidas,
penetram mais ou menos nos tecidos da planta e,
portanto agem sobre seu metabolismo, reduzindo
a proteossntese, acumulando aminocidos livres
e acares redutores, utilizveis pelas pragas e
agentes fitopatognicos (PASCHOAL, 1996;
CHABOUSSOU, 1999; ALVES et al., 2001).
A identificao de quo eficazes so as
prticas agrcolas utilizadas no sistema adotado
para que se atinja um bom nvel de
sustentabilidade requer uma abordagem
sistmica. Uma prtica, isoladamente, no
capaz de promover efeitos sobre a
sustentabilidade agrcola, se no forem
implementadas em todo o sistema, prticas
sustentveis de manejo. A prtica agrcola
apenas uma parte de um todo, que o sistema
agrcola.
As prticas convencionais de manejo atuam
principalmente na tentativa de controlar
rigidamente e homogeneizar todas as condies
isoladamente, sem considerar a complexidade
caracterstica do sistema e suas interaes
ecolgicas e simplificando os agroecossistemas.
A Agroecologia, por outro lado, enfatiza a
necessidade de estudar tanto as partes quanto o
todo, de modo que o manejo do agroecossistema
leva em conta os efeitos de qualquer ao ou
interveno sobre o sistema como um todo,
desenhando prticas que visam reforar seu
funcionamento e suas qualidades (GLIESSMAN,
2005).
Pragas e doenas no podem ser alvos, nessa
abordagem sistmica, do uso apenas de
determinadas prticas. De acordo com DEFFUNE
(2007), as causas de pragas e doenas resultam
da combinao de desequilbrios ambientais,
nutricionais e genticos, desfavorveis s plantas
cultivadas, cujos tecidos se tornam campo
favorvel aos parasitas e cujas defesas orgnicas
so ou esto temporariamente insuficientes.
Enquanto nos animais a resistncia e
resposta imunolgica individual tm um papel
significativo, nos vegetais a resistncia coletiva,
populacional e muito mais dependente do
equilbrio de fatores ambientais, ou seja, da sade
do agroecossistema ou organismo agrcola como
um todo. Sade esta obtida a partir de princpios
agroecolgicos no desenho de agroecossistemas
sustentveis (Figura 1).
Abordagem sistmica da agricultura e viso
sistmica da resistncia fisiolgica vegetal
Na agricultura, o enfoque sistmico tem se
tornado cada vez mais necessrio, devido
crescente complexidade de sistemas organizados
e manejados pelo homem e da emergncia do
conceito de sustentabilidade. A grande maioria
dos sistemas agropecurios tem requerido uma
abordagem holstica e multidisciplinar, a fim de
Vilanova & Silva Junior
46
Rev. Bras. de Agroecologia. 4(1):39-50 (2009)
melhor serem entendidos e analisados. Nessa
abordagem sistmica visado o estudo do
desempenho total de sistemas, em vez de se
concentrar isoladamente nas partes (PINHEIRO,
2000).
Uma das debilidades da abordagem
agronmica convencional no manejo de
agroecossistemas, segundo Gliessman (2005),
que ela ignora as interaes de fatores e a
complexidade ambiental. As necessidades da
cultura so consideradas isoladamente e cada
fator manejado separadamente. O manejo
agroecolgico, ao contrrio, considera o sistema
de produo como um todo e reconhece que o
ambiente no qual um organismo individual ocorre
precisa ser compreendido como um conjunto
dinmico, em constante mudana, de todos os
fatores ambientais em interao.
O estudo da resistncia fisiolgica vegetal, que
tem um dos mecanismos na Trofobiose, considera
que o ambiente de uma planta cultivada individual
composto de muitos fatores que interagem e que
o manejo sustentvel do agroecossistema requer
o conhecimento da complexidade do
ambiente, de como cada fator afeta ou afetado
pelos outros e de como esses fatores podem ser
manejados. Contempla, portanto, uma viso
sistmica.
A Trofobiose est inserida no contexto mais
amplo da chamada Resistncia Sistmica Vegetal
(WALDEMAR, 2002; DEFFUNE, 2007). Em
conjunto com outros mecanismos (como a
coevoluo e as fitoalexinas), compe uma
complexa interao de fatores que determinam a
resistncia fisiolgica vegetal. A coevoluo
refere-se resposta adaptativa interativa de duas
espcies levando a mudanas evolutivas de uma
sobre a outra. As fitoalexinas so substncias de
defesa contra infeco (DEFFUNE, 2007).
Trofobiose como mecanismo para
sustentabilidade do agroecossistema
A sustentabilidade definida por Conway
(1987) como a habilidade de uma
agroecossistema em manter a produtividade
quando submetido a grande distrbio. Esse
distrbio, atual ou potencial, pode ser causado por
um estresse intensivo, freqente ou contnuo,
A Teoria da Trofobiose sob a abordagem
4 7
Rev. Bras. de Agroecologia. 4(1):39-50 (2009)
capaz de gerar efeitos cumulativos.
Alternativamente, o distrbio pode ser causado
por um choque, definido como infreqente,
relativamente grande e imprevisvel distrbio que
tem potencial de criar uma grande perturbao
imediata.
A sustentabilidade pode determinar a
persistncia ou durabilidade da produtividade do
agroecossistema, em funo das caractersticas
intrnsecas do agroecossistema, da natureza e
fora do estresse e choque a que est submetido,
e da ao humana introduzida para conter esse
estresse ou choque (CONWAY, 1987). Na medida
em que trofobiose apresenta relao direta com os
distrbios metablicos causados pelo estresse
fisiolgico das plantas (seja por dficit hdrico, alta
radiao e temperatura, desequilbrio nutricional,
aplicao de agrotxicos, ou qualquer outro
motivo), est consequentemente, relacionada
tambm com a determinao das respostas da
produtividade a esses distrbios e
correspondente sustentabilidade do
agroecossistema. A ao humana, atravs de
prticas agroecolgicas, poder conter ou regular
o estresse, de modo a manter a sustentabilidade e
o nvel de produtividade.
Conway (1987) alerta que, em algumas
situaes, a ao humana pode se tornar parte do
problema porque, direta ou indiretamente, gera
estresses ou choques, como a aplicao freqente
de agrotxicos, que pode induzir a resistncia de
pragas ao agrotxico, sendo necessrio aumentar
o nmero de aplicaes para manter a
produtividade, podendo causar uma situao
insustentvel, de colapso da produtividade. No
caso da trofobiose, a aplicao do agrotxico
poder causar um distrbio metablico na planta,
com aumento de substncias (aminocidos livres
e acares solveis) que iro favorecer a nutrio
e desenvolvimento de diversos fitoparasitas,
sendo necessrio, para o controle, novas e
maiores aplicaes de agrotxicos, tornando a
produtividade do agroecossistema tambm
insustentvel.
De acordo com Marten (1988), um sistema de
tecnologia agrcola um projeto para um
agroecossistema, especificando todas as
produes que podem ser empregadas num
arranjo espacial e temporal e todos os insumos
que entram no sistema para produzir o que se
deseja, com todos os costumes e concepes que
um sistema de cultivo possui. A estrutura de um
agroecossistema, por sua vez, conseqncia
no apenas do projeto agrcola, mas tambm das
condies ambientais (clima, solo, topografia,
organismos da rea) que definem os recursos
disponveis para a implantao de um
agroecossistema, e dos agricultores e suas
condies sociais (valores humanos, instituies e
habilidades), que influenciam na interao entre
eles e o ecossistema de que fazem parte,
determinando como a tecnologia pode ser
empregada para moldar o ambiente para um
agroecossistema. Essa forma, Marten (1988)
destaca o carter multidimensional da
sustentabilidade e demais propriedades dos
agroecossistemas, levando em conta as
condies ambientais e sociais de um
determinado local, quais os tipos de
agroecossistemas so mais apropriados para
essas condies e identificando pontos
vulnerveis no sistema de tecnologia agrcola
para sugerir quais devem ser fortalecidos.
As vrias dimenses da sustentabilidade de
um agroecossistema so concebidas apenas pela
tecnologia agrcola de abordagem holstica,
derivada dos princpios da Agroecologia, como a
agricultura orgnica. Na tecnologia convencional,
ao contrrio, so desconsideradas as interaes
entre a agricultura, as condies ambientais e as
condies sociais, uma vez que as necessidades
da cultura so consideradas isoladamente, em
que cada fator ambiental manejado
separadamente para alcanar o rendimento
Vilanova & Silva Junior
48
Rev. Bras. de Agroecologia. 4(1):39-50 (2009)
mximo e o melhor resultado econmico.
A trofobiose est relacionada a um manejo do
sistema como um todo, em que vrios fatores (e a
interao entre eles) contribuem para a existncia
de condies adequadas de equilbrio trofobitico.
Portanto, apenas atravs de uma tecnologia de
abordagem sistmica, em que a estrutura e as
funes do agroecossistema sejam analisadas de
maneira holstica, possvel a trofobiose
expressar seu equilbrio, promovendo um aumento
da sustentabilidade.
Consideraes finais
Os princpios e mtodos agroecolgicos so
essenciais para determinar se uma prtica,
insumo ou deciso de manejo agrcola
sustentvel. As prticas de agricultura orgnica,
baseadas nos princpios da Agroecologia,
proporcionam o desenho de agroecossistemas
sustentveis.
O conjunto de prticas agrcolas escolhidas
pode ser bastante eficaz no manejo da
complexidade ambiental e na contribuio ao
equilbrio trofobitico, resultando em menor
vulnerabilidade das plantas incidncia de pragas
e doenas.
A resistncia fisiolgica vegetal, que tem um
dos mecanismos na Trofobiose, contempla uma
viso sistmica, ao considerar que o ambiente de
uma planta cultivada individual composto de
muitos fatores que interagem e que o manejo
sustentvel do agroecossistema requer o
conhecimento da complexidade do ambiente, de
como cada fator afeta ou afetado pelos outros e
de como esses fatores podem ser manejados.
A trofobiose est relacionada a um manejo do
sistema como um todo, em que vrios fatores (e a
interao entre eles) contribuem para a existncia
de condies adequadas de equilbrio trofobitico,
promovendo um aumento da sustentabilidade.
Notas
1 Toda circunstncia desfavorvel formao
de nova quantidade de citoplasma, isto ,
desfavorvel ao crescimento, tende a provocar na
soluo vacuolar das clulas um acmulo de
compostos solveis inutilizados, como acares e
aminocidos; este acmulo de produtos solveis
parece favorecer a nutrio de microorganismos
parasitas e, portanto, diminuir a resistncia da
planta s doenas parasitrias. Op. Cit.:
DUFRNOY (1936), apud CHABOUSSOU (1999).
2 A alta concentrao de sais um fator de
estresse para as plantas, pois apresenta atividade
osmtica retendo a gua, alm da ao dos ons
sobre o protoplasma (distrbio no balano inico e
efeito sobre enzimas e membranas). A gua
osmoticamente retida em uma soluo salina, de
forma que o aumento da concentrao de sais
torna a gua cada vez menos disponvel para a
planta. A assimilao do nitrognio limitada e o
metabolismo das protenas sofre distrbios
(LARCHER, 2001).
Referncias Bibliogrficas
ALTIERI, M.. A Ag gr ro oe ec co ol lo og gi ia a: : b ba as se es s c ci ie en nt t f fi ic ca as s p pa ar ra a
u um ma a a ag gr ri ic cu ul lt tu ur ra a s su us st te en nt t v ve el l. Guaba:
Agropecuria, 2002. 592p.
ALTIERI, M & NICHOLLS, C. I. Soil fertility
management and insect pests: harmonizing soil
and plant health in agroecosystems. S So oi il l & &
T Ti il ll la ag ge e R Re es se ea ar rc ch h, 72:203-211, 2003.
ALTIERI, M.; SILVA, E. do N.; NICHOLLS, C. I. O O
p pa ap pe el l d da a d di iv ve er rs si id da ad de e n no o m ma an ne ej jo o d de e p pr ra ag ga as s. .
Ribeiro Preto: Holos, 2003. 226 p.
ALVES, S. B.; MEDEIROS, M. B.; TAMAI, M. A.;
LOPES, R.B. Trofobiose e microrganismos na
proteo de plantas: Biofertilizantes e
entomopatgenos na citricultura orgnica.
B Bi io ot te ec cn no ol lo og gi ia a C Ci i n nc ci ia a e e D De es se en nv vo ol lv vi im me en nt to o,
21:16-21, 2001.
ANDRADE, L. N. T. & NUNES, M. U. C. P Pr ro od du ut to os s
a al lt te er rn na at ti iv vo os s p pa ar ra a c co on nt tr ro ol le e d de e d do oe en n a as s e e p pr ra ag ga as s
e em m a ag gr ri ic cu ul lt tu ur ra a o or rg g n ni ic ca a. Aracaju: Embrapa
Tabuleiros Costeiros, 2001 (Documentos, 28).
CAPORAL, F. R. & COSTABEBER, J. A..
A Ag gr ro oe ec co ol lo og gi ia a: : a al lg gu un ns s c co on nc ce ei it to os s e e p pr ri in nc c p pi io os s. . 24
p. Braslia: MDA/SAF/DATER-IICA, 2004.
CHABOUSSOU, F. P Pl la an nt ta as s D Do oe en nt te es s p pe el lo o U Us so o d de e
A Ag gr ro ot t x xi ic co os s ( (A A T Te eo or ri ia a d da a T Tr ro of fo ob bi io os se e) ). 2. ed.,
Porto Alegre: L&PM, 1999. 272p.
A Teoria da Trofobiose sob a abordagem
4 9
Rev. Bras. de Agroecologia. 4(1):39-50 (2009)
CONWAY, G. R. The Properties of
Agroecosystems. A Ag gr ri ic cu ul lt tu ur ra al l S Sy ys st te em ms s. 24:95-
117. 1987.
DEFFUNE, G. Sistemas de Produo
Agroecolgicos Integrados. 77 p. (REDCAPA
Curso distncia de Aperfeioamento em
Agroecologia 4. Mdulo Unidade 3). 2007.
FEIDEN, A. C Co on nc ce ei it to os s e e P Pr ri in nc c p pi io os s p pa ar ra a o o M Ma an ne ej jo o
E Ec co ol l g gi ic co o d do o S So ol lo o. Seropdica: Embrapa
Agrobiologia, dez. 2001. 21 p. (Embrapa
Agrobiologia. Documentos, 140).
FUMIS, T. de F. & PEDRAS, J. F. Variao nos
nveis de prolina, diamina e poliaminas em
cultivares de trigo submetidas a dficits
hdricos. P Pe es sq q. . A Ag gr ro op pe ec c. . B Br ra as s. ., Braslia, v. 37,
n. 4, p. 449-453, 2002.
GLIESSMAN, S. R. A Ag gr ro oe ec co ol lo og gi ia a: : p pr ro oc ce es ss so os s
e ec co ol l g gi ic co os s e em m a ag gr ri ic cu ul lt tu ur ra a s su us st te en nt t v ve el l. 3. Ed.
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2005.
LARCHER, W. E Ec co of fi is si io ol lo og gi ia a V Ve eg ge et ta al l. So Carlos:
RiMa, 2001. 531p.
MARTEN, G. C. Productivity, Stability,
Sustainability, Equitability and Autonomy as
Properties for Agroecosystem Assesment.
A Ag gr ri ic cu ul lt tu ur ra al l S Sy ys st te em ms s. 26:291-316. 1988.
MEDEIROS, M. B. de Ao de biofertilizantes
lquidos sobre a bioecologia do caro
Brevipalpus phoenicis. Piracicaba: Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz -
Universidade de So Paulo, 2002. 110 p. Tese
Doutorado.
MEDEIROS, M. B de; WANDERLEY, P. A.;
WANDERLEY, M. J. A. Biofertilizantes Lquidos:
Processo trofobitico para proteo de plantas
em cultivos orgnicos. B Bi io ot te ec cn no ol lo og gi ia a C Ci i n nc ci ia a e e
D De es se en nv vo ol lv vi im me en nt to o, 31:38-44, 2003.
MEDEIROS, M. B. de; SANTOS, D.; BARBOSA,
A. da S. Produtos trofobiticos para proteo de
plantas. R Re ev vi is st ta a B Br ra as si il le ei ir ra a d de e A Ag gr ro oe ec co ol lo og gi ia a.
2(2):1268-1272, 2007.
PASCHOAL, A.D. Pragas da Agricultura nos
Trpicos. 72 p. (ABEAS Curso de Agricultura
Tropical Mdulo 3.1). 1996.
PINHEIRO, S. L. G. O Enfoque Sistmico e o
Desenvolvimento Rural Sustentvel: Uma
Oportunidade de Mudana da Abordagem
Hard-System para Experincias com Soft-
System. A Ag gr ro oe ec co ol lo og gi ia a e e D De es se en nv vo ol lv vi im me en nt to o R Ru ur ra al l
S Su us st te en nt t v ve el l, Porto Alegre, 1(2):27-37, abr/jun,
2000.
PINHEIRO, S. & BARRETO, S. B. M MB B- -4 4 : :
A Ag gr ri ic cu ul lt tu ur ra a S Su us st te en nt t v ve el l, , T Tr ro of fo ob bi io os se e e e
B Bi io of fe er rt ti il li iz za an nt te es s. Fundao Juquira Candiru /
MIBASA, 1996. 273 p.
POLITO, W. L. Calda sulfoclcica, bordalesa e
viosa: os fertiprotetores no contexto da
trofobiose. A Ag gr ro oe ec co ol lo og gi ia a H Ho oj je e, Botucatu,
1(3):20-21, 2000.
POLITO, W. L. Fitoalexinas e a Resistncia
Natural das Plantas s Doenas. 2005.
Disponvel em www.ppi-
ppic.org/ppiweb/pbrazil.nsf/$FILE/Palestra%20
Wagner%20Luiz%20Polito.ppt.. Acesso em 05
de setembro de 2006.
POLITO, W. L. The Trofobiose Theory and organic
agriculture: the active mobilization of nutrients
and the use of rock powder as a tool for
sustainability. A An na ai is s d da a A Ac ca ad de em mi ia a B Br ra as si il le ei ir ra a d de e
C Ci i n nc ci ia as s, 78 (4): 765-779, 2006.
PRIMAVESI, A. M Ma an ne ej jo o E Ec co ol l g gi ic co o d do o S So ol lo o: : a a
a ag gr ri ic cu ul lt tu ur ra a e em m r re eg gi i e es s t tr ro op pi ic ca ai is s. So Paulo:
Nobel, 1986. 541 p.
PRIMAVESI, A. M Ma an ne ej jo o E Ec co ol l g gi ic co o d de e P Pr ra ag ga as s e e
D Do oe en n a as s: : t t c cn ni ic ca as s a al lt te er rn na at ti iv va as s p pa ar ra a a a p pr ro od du u o o
a ag gr ro op pe ec cu u r ri ia a e e d de ef fe es sa a d do o m me ei io o a am mb bi ie en nt te e. So
Paulo: Nobel, 1994.
SEBRAE/SE. Diagnstico do Sistema de
Produo Orgnica dos Associados da
Associao dos Produtores Orgnicos do
Agreste ASPOAGRE. Maio/2006. Projeto
Agricultura Orgnica. Relatrio de Consultoria
Cllio Vilanova Lemos e Silva. 2006a.
SEBRAE/SE. Diagnstico do Sistema de
Produo Orgnica dos Associados da
Associao dos Pequenos e Mdios
Empreendedores Rurais de Malhador APM.
Setembro/2006. Projeto Agricultura Orgnica.
Relatrio de Consultoria Cllio Vilanova
Lemos e Silva. 2006b.
SIQUEIRA, J. O. & FRANCO, A. A. B Bi io ot te ec cn no ol lo og gi ia a
d do o S So ol lo o: : F Fu un nd da am me en nt to os s e e P Pe er rs sp pe ec ct ti iv va as s. Braslia,
MEC ESAL FAEPE ABEAS, 1988. 236p.
WALDEMAR, C. C. Uma Viso Sistmica da
Resistncia Vegetal. A Ag gr ro oe ec co ol lo og gi ia a H Ho oj je e,
Botucatu, 16:15-16, 2002.
ZAMBOLIM, L. & VENTURA, J.A. Resistncia a
Doenas Induzida pela Nutrio Mineral das
Plantas. 45 p. (ABEAS. Curso de Agricultura
Tropical Mdulo 3.2.1). 1996.
Vilanova & Silva Junior
5 0
Rev. Bras. de Agroecologia. 4(1):39-50 (2009)
Você também pode gostar
- Fitoprotetores Botânicos: União de Saberes e Tecnologias para Transição AgroecológicaNo EverandFitoprotetores Botânicos: União de Saberes e Tecnologias para Transição AgroecológicaAinda não há avaliações
- Gestão de Risco Alimentar: Uma Política Tributária Indutora da AgroecologiaNo EverandGestão de Risco Alimentar: Uma Política Tributária Indutora da AgroecologiaAinda não há avaliações
- A Biodiversidade como Ferramenta para o Melhoramento da Saúde HumanaNo EverandA Biodiversidade como Ferramenta para o Melhoramento da Saúde HumanaAinda não há avaliações
- Fitorremediação em Solos Contaminados com HerbicidasNo EverandFitorremediação em Solos Contaminados com HerbicidasAinda não há avaliações
- Reflexões sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural: Volume IINo EverandReflexões sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural: Volume IIAinda não há avaliações
- Educação, meio ambiente e saúde: Escritos científicos do extremo sul do Piauí – Volume 2No EverandEducação, meio ambiente e saúde: Escritos científicos do extremo sul do Piauí – Volume 2Ainda não há avaliações
- Discussões Socioambientais na Amazônia OrientalNo EverandDiscussões Socioambientais na Amazônia OrientalAinda não há avaliações
- Ensino De História Na Horta EscolarNo EverandEnsino De História Na Horta EscolarAinda não há avaliações
- Educação Do Campo: Pesquisa E ConhecimentoNo EverandEducação Do Campo: Pesquisa E ConhecimentoAinda não há avaliações
- O Que Não É AgroecologiaDocumento4 páginasO Que Não É AgroecologiaLucivanioJatobaAinda não há avaliações
- A Cobrança pelo Uso da Água como Instrumento de Gestão de Recursos HídricosNo EverandA Cobrança pelo Uso da Água como Instrumento de Gestão de Recursos HídricosAinda não há avaliações
- Adubação Nitrogenada da Cultura do Trigo: com Base na Clorofilometria Via Aeronave Remotamente PilotadaNo EverandAdubação Nitrogenada da Cultura do Trigo: com Base na Clorofilometria Via Aeronave Remotamente PilotadaAinda não há avaliações
- Agricultura familiar e políticas públicas no estado de São PauloNo EverandAgricultura familiar e políticas públicas no estado de São PauloAinda não há avaliações
- Estudos Ambientais e Agroecológicos em Propriedades RuraisNo EverandEstudos Ambientais e Agroecológicos em Propriedades RuraisAinda não há avaliações
- Aula I - Agriculturas Não ConvencionaisDocumento29 páginasAula I - Agriculturas Não ConvencionaisFabi Andersson100% (1)
- Agricultura SintropiaDocumento4 páginasAgricultura SintropiaCleriston LopesAinda não há avaliações
- Apostila Solos AmbientalDocumento46 páginasApostila Solos AmbientalBorges YasmimAinda não há avaliações
- O Sistema Produtivo da Mandioca e seu Aproveitamento Industrial no Estado da Bahia: mandioca: a raiz necessária ao consumoNo EverandO Sistema Produtivo da Mandioca e seu Aproveitamento Industrial no Estado da Bahia: mandioca: a raiz necessária ao consumoAinda não há avaliações
- DOC63 - Princípios de Agroecologia No Manejo Das Pastagens Nativas Do Pantanal - EMBRAPADocumento35 páginasDOC63 - Princípios de Agroecologia No Manejo Das Pastagens Nativas Do Pantanal - EMBRAPARafael BernardinoAinda não há avaliações
- Desenvolvimento territorial rural e meio ambiente: Debates atuais e desafios para o século XXINo EverandDesenvolvimento territorial rural e meio ambiente: Debates atuais e desafios para o século XXIAinda não há avaliações
- Recursos Hídricos em Minas Gerais: Bacia Hidrográfica do Rio MucuriNo EverandRecursos Hídricos em Minas Gerais: Bacia Hidrográfica do Rio MucuriAinda não há avaliações
- Unidade entre Teoria e Prática na Formação do Técnico em Agroecologia: Estudo em uma Escola do Campo CatarinenseNo EverandUnidade entre Teoria e Prática na Formação do Técnico em Agroecologia: Estudo em uma Escola do Campo CatarinenseAinda não há avaliações
- FPJ de Pimentas Passo A Passo Adubação KNFDocumento3 páginasFPJ de Pimentas Passo A Passo Adubação KNFCaio Corrêa BaganhaAinda não há avaliações
- Apostila SAFDocumento35 páginasApostila SAFpaty_m92Ainda não há avaliações
- Agroecologia e Agricultura OrganicaDocumento8 páginasAgroecologia e Agricultura Organica• OBGEOTIVO •Ainda não há avaliações
- Manual de Plantio Das Hortalicas em HortDocumento85 páginasManual de Plantio Das Hortalicas em HortoctavioAinda não há avaliações
- Produtos Florestais não Madeireiros: As Comunidades e a Sustentabilidade do DesenvolvimentoNo EverandProdutos Florestais não Madeireiros: As Comunidades e a Sustentabilidade do DesenvolvimentoAinda não há avaliações
- Biofertilizante em MorangoDocumento93 páginasBiofertilizante em MorangoRivadávia PimentaAinda não há avaliações
- Orientações Para O Uso De Fitoterápicos E Plantas MedicinaisNo EverandOrientações Para O Uso De Fitoterápicos E Plantas MedicinaisAinda não há avaliações
- Macerados, infusões, decocções. Preparações biodinâmicas para o jardim e para a horta.No EverandMacerados, infusões, decocções. Preparações biodinâmicas para o jardim e para a horta.Ainda não há avaliações
- Caderno6hidroponia PDFDocumento46 páginasCaderno6hidroponia PDFIago MurielAinda não há avaliações
- Análise comparativa da composição química e de atividades biológicas de cinco genótipos clonais de Schinus terebinthifolius Raddi (aroeira)No EverandAnálise comparativa da composição química e de atividades biológicas de cinco genótipos clonais de Schinus terebinthifolius Raddi (aroeira)Ainda não há avaliações
- Bolas de Sementes (SeedBalls) - Tudo Sobre PlantasDocumento4 páginasBolas de Sementes (SeedBalls) - Tudo Sobre PlantasMarciléia BatistaAinda não há avaliações
- 4 Plantas CompanheirasDocumento2 páginas4 Plantas CompanheirasLucas FilipeAinda não há avaliações
- SemanaRama 01Documento8 páginasSemanaRama 01Milton CameraAinda não há avaliações
- Saude Do SoloDocumento128 páginasSaude Do SoloThaís BoniAinda não há avaliações
- Bokashi e Microorganismos EficientesDocumento13 páginasBokashi e Microorganismos EficientesThais BoAinda não há avaliações
- Boletim AlfaceDocumento126 páginasBoletim AlfacejoaoAinda não há avaliações
- Sucessão VegetalDocumento26 páginasSucessão VegetalmaodesusAinda não há avaliações
- Macerados, infusões, decocções. Remédios biodinâmicos contra pragas de vegetaisNo EverandMacerados, infusões, decocções. Remédios biodinâmicos contra pragas de vegetaisAinda não há avaliações
- Etnobotânica no cerrado: Um estudo no assentamento santa rita, Jataí-GONo EverandEtnobotânica no cerrado: Um estudo no assentamento santa rita, Jataí-GOAinda não há avaliações
- Adubos Organicos Com Potencialidades para o Uso Na Agricultura Do Semiárido BrasileiroDocumento35 páginasAdubos Organicos Com Potencialidades para o Uso Na Agricultura Do Semiárido BrasileiroMarcelle Amorim100% (1)
- A Relação Homem-Natureza Nas Comunidades Tradicionais da Ilha de Guriri-ES: Subsídios à Educação AmbientalNo EverandA Relação Homem-Natureza Nas Comunidades Tradicionais da Ilha de Guriri-ES: Subsídios à Educação AmbientalAinda não há avaliações
- Fauna e Flora do Parque Estadual Mata São Francisco: norte do ParanáNo EverandFauna e Flora do Parque Estadual Mata São Francisco: norte do ParanáAinda não há avaliações
- A Temática Agrotóxicos e a Metodologia da Resolução de Problemas no Ensino de CiênciasNo EverandA Temática Agrotóxicos e a Metodologia da Resolução de Problemas no Ensino de CiênciasAinda não há avaliações
- Boas Práticas Agrícolas para A Produção de HortaliçasDocumento27 páginasBoas Práticas Agrícolas para A Produção de HortaliçasPricila SantosAinda não há avaliações
- Manual de Oficinas para o Ensino de Botânica no Ensino MédioNo EverandManual de Oficinas para o Ensino de Botânica no Ensino MédioAinda não há avaliações
- Caça Palavras Mesopotâmia e Brasil ColôniaDocumento2 páginasCaça Palavras Mesopotâmia e Brasil ColôniaAnna Li100% (1)
- Paraná - Estado Brasileiro.Documento39 páginasParaná - Estado Brasileiro.danielAinda não há avaliações
- AlfafaDocumento1 páginaAlfafaErika SouzaAinda não há avaliações
- Prova IV Unidade - 6º AnoDocumento3 páginasProva IV Unidade - 6º AnoGlauci OliveiraAinda não há avaliações
- Ebo de OduDocumento14 páginasEbo de OduJullyane Fernandes100% (2)
- Avaliação Diagnóstica de Matemática - 2º AnoDocumento3 páginasAvaliação Diagnóstica de Matemática - 2º AnoDelfim Moreira AraxaAinda não há avaliações
- Receitas Rita ZamberlanDocumento8 páginasReceitas Rita Zamberlaninformatica.paula6988Ainda não há avaliações
- 001021630Documento340 páginas001021630Tiago ReisAinda não há avaliações
- 2021.02 (Piauí 173) SALLES, João M. Arrabalde, Parte IV - A ReviravoltaDocumento37 páginas2021.02 (Piauí 173) SALLES, João M. Arrabalde, Parte IV - A ReviravoltaEvandro NobreAinda não há avaliações
- João Paulo Martins - Vinhos de Portugal 2015 (Excerto)Documento40 páginasJoão Paulo Martins - Vinhos de Portugal 2015 (Excerto)Anonymous POQQVk8100% (1)
- Plantas IndicadorasDocumento28 páginasPlantas Indicadorasaragornson100% (1)
- Regiao SudesteDocumento4 páginasRegiao SudesteNeireAinda não há avaliações
- Lista de Pratos Take AwayDocumento1 páginaLista de Pratos Take AwayDiogo CastroAinda não há avaliações
- TabelaDocumento4 páginasTabelaBruno MarquesAinda não há avaliações
- Receitas Acido FolicoDocumento13 páginasReceitas Acido FoliconastaciadositioAinda não há avaliações
- Herbário de Fitopatologia AplicadaDocumento106 páginasHerbário de Fitopatologia AplicadaDeleon Damasceno FreitasAinda não há avaliações
- Aula Analise de LeiteDocumento77 páginasAula Analise de LeiteLeticiaLorranaAinda não há avaliações
- Laytano. Culinária GaúchaDocumento30 páginasLaytano. Culinária GaúchalassoaresAinda não há avaliações
- Substantivo 1Documento8 páginasSubstantivo 1FabricioAinda não há avaliações
- Aquaponia ProjetoDocumento6 páginasAquaponia ProjetoOrlando Karim Shiro Jr.50% (2)
- ManualHidroSedimentos PDFDocumento72 páginasManualHidroSedimentos PDFgaboAinda não há avaliações
- 2,4 D Amina 72 - BulaDocumento12 páginas2,4 D Amina 72 - Bulalenildo86100% (1)
- Sementes 1Documento23 páginasSementes 1Anderson Rezzadori Tacila VasconcelosAinda não há avaliações
- AgronegócioDocumento7 páginasAgronegócioFabricio Marçal FerreiraAinda não há avaliações
- Chica DoidaDocumento3 páginasChica DoidaBruno OliveiraAinda não há avaliações
- A Casa Rural Do Baixo Minho 1750-1810Documento28 páginasA Casa Rural Do Baixo Minho 1750-1810Carolina CordeiroAinda não há avaliações
- Alinhamento 2° Eixo Direcional BMBDocumento4 páginasAlinhamento 2° Eixo Direcional BMBAnaSantos100% (1)
- Resumo Alunos HGP 5º AnoDocumento4 páginasResumo Alunos HGP 5º AnoSónia60% (5)
- 1.fatores Que Condicionam A Agricultura PDFDocumento10 páginas1.fatores Que Condicionam A Agricultura PDFJoão SimõesAinda não há avaliações
- Agrotóxicos-Estudo de Caso em Propriedades Rurais - Lucas Link PDFDocumento44 páginasAgrotóxicos-Estudo de Caso em Propriedades Rurais - Lucas Link PDFLucas LinkAinda não há avaliações