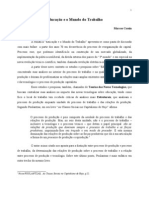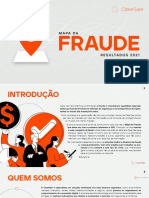Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Pageflip 4204232 74145 LT - Assentamentos - em - Deba 3409976 PDF
Pageflip 4204232 74145 LT - Assentamentos - em - Deba 3409976 PDF
Enviado por
Irene Garcia RocesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Pageflip 4204232 74145 LT - Assentamentos - em - Deba 3409976 PDF
Pageflip 4204232 74145 LT - Assentamentos - em - Deba 3409976 PDF
Enviado por
Irene Garcia RocesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
C
a
i
o
G
a
l
v
o
d
e
F
r
a
n
a
e
G
e
r
d
S
p
a
r
o
v
e
k
(C
o
o
r
d
.)
A
s
s
e
n
t
a
m
e
n
t
o
s
e
m
d
e
b
a
t
e
N
E
A
D
D
e
b
a
t
e
8
C
o
l
a
b
o
r
a
d
o
r
e
s
: A
n
t
n
io
M
. B
u
a
in
a
in
, B
e
r
n
a
rd
o
M
. F
e
r
n
a
n
d
e
s,
D
e
b
o
ra
L
e
r
re
r, E
d
g
a
r A
. M
a
la
g
o
d
i, E
lia
n
e
B
re
n
n
e
ise
n
, G
z
e
n
a
ro
Ie
n
o
N
e
to
,
H
a
n
s M
e
lic
z
e
k
, Jo
s
C
. C
. G
o
m
e
s, Jo
s
M
a
r
ia
d
a
S
ilv
e
ira
, L
a
u
ro
M
a
tte
i,
L
u
is H
. C
u
n
h
a
, M
a
rild
a
A
. d
e
M
e
n
e
z
e
s, P
a
u
lo
R
. M
a
rtin
s, R
a
m
o
n
ild
e
s A
. G
o
m
e
s,
S
rg
io
S
a
u
e
r, S
n
ia
M
. P
. B
e
rg
a
m
a
sco
e
V
e
ra
L
. S
. B
o
tta
F
e
r
ra
n
te
.
Assentamentos em debate
Assentamentos em debate
mda / nead
Braslia, 2005
NEAD Debate 8
Coorde nao
Caio Galvo de Frana e Gerd Sparovek
Col a b or a o
Antnio Mrcio Buainain, Bernardo Manano Fernandes, Debora Lerrer, Edgar
Afonso Malagodi, Eliane Brenneisen, Genaro Ieno Neto, Hans Meliczek, Jos
Carlos Cosa Gomes, Jos Maria da Silveira, Lauro Mattei, Luis Henrique Cunha,
Marilda Aparecida de Menezes, Paulo Roberto Martins, Ramonildes Alves Gomes,
Srgio Sauer, Snia Maria Pessoa Bergamasco e Vera Lcia Silveira Botta Ferrante.
NEAD Debate 8
Copyright 2005 by mda
Projeto grfico, capa e diagramao
Mrcio Duarte m10 Design Grfco
Re vi s o
Denise Oliveira
Minisrio do Desenvolvimento Agrrio (mda)
www.mda.gov.br
Ncleo de Esudos Agrrios e
Desenvolvimento Rural (nead)
scn, Quadra 1, Bloco C, Ed. Trade Center,
5
o
andar, sala 506
cep 70711-902 Braslia/DF
Telefone: (61) 3328 8661
www.nead.org.br
pct mda/iica Apoio s Polticas e Participao
Social no Desenvolvimento Rural Susentvel
Lui z Inci o Lula da Si lva
Presidente da Repblica
Mi guel Soldatelli Rossetto
Ministro de Estado do
Desenvolvimento Agrrio
Gui lherme Cassel
Secretrio-executivo do Ministrio
do Desenvolvimento Agrrio
Rolf Hackbart
Presidente do Instituto Nacional de
Colonizao e Reforma Agrria
Valter Bianchi ni
Secretrio de Agricultura Familiar
Eugni o Pei xoto
Secretrio de Reordenamento Agrrio
Jos Humberto Oli vei ra
Secretrio de Desenvolvimento Territorial
Cai o Galvo de Frana
Coordenador-geral do Ncleo de Estudos
Agrrios e Desenvolvimento Rural
B823a Brasil, Ministrio do Desenvolvimento Agrrio. Ncleo de Estudos
Agrrios e Desenvolvimento Rural.
Assentamentos em debate / coordenao Caio Galvo de
Frana , Gerd Sparovek. Colaboradores Antnio Mrcio Buainain ...
[et al]. -- Braslia : NEAD, 2005.
300 p.; 21 x 28 cm. -- (Nead Debate ; 8).
Vrios autores.
1. Assentamento rural pesquisa Brasil. 2. Assentamento rural debate
Brasil. 3. Reforma agrria Brasil. I. Ttulo II. Frana, Caio Galvo de.
III. Sparovek, Gerd. IV. Srie.
CDD 333. 3181
Apresentao
A
publicao Assentamentos em Debate a oportunida-
de de acompanhar um debate aberto, diversifcado e franco entre
pessoas dedicadas e competentes na consruo do pensamento sobre a
reforma agrria brasileira.
Como pano de fundo eso os dados, mtodos, resultados e concluses
apresentados na pesquisa A Qualidade dos Assentamentos da Reforma
Agrria Brasileira. A pesquisa foi considerada a avaliao mais abrangen-
te j produzida sobre a situao em que se encontram os benefcirios
da reforma agrria no Brasil. Tambm inovou mtodos, reciclou idias,
defniu indicadores, traou uma esratgia para levantamentos de dados
expeditos e baratos, percorreu 4.340 assentamentos e entrevisou 14.414
pessoas, chegando a resultados fnais em seis meses.
A pesquisa, em alguns asecos acertou e em outros errou, mas se
exps crtica aberta*. A partir dessa crtica, consruda por Antnio
Mrcio Buainain, Bernardo Manano Fernandes, Debora Lerrer, Edgar
Afonso Malagodi, Eliane Brenneisen, Genaro Ieno Neto, Hans Meliczek,
Jos Carlos Cosa Gomes, Jos Maria da Silveira, Lauro Mattei, Luis
Henrique Cunha, Marilda Aparecida de Menezes, Paulo Roberto Martins,
Ramonildes Alves Gomes, Srgio Sauer, Snia Maria Pessoa Bergamasco
* Esecialisas no tema da reforma agrria foram convidados a analisar a pesquisa A Qualidade dos
assentamentos da Reforma Agrria Brasileira, a partir de trs queses:
1. Quais so as contribuies que os dados na publicao A Qualidade dos Assentamentos da Reforma
Agrria Brasileira trazem para a compreenso da reforma agrria sob a tica do seu segmento ou
de seu vis de anlise?
2. A metodologia adotada adequada para a anlise da reforma agrria sob o ponto de visa do seu
segmento ou de seu vis de anlise? Quais so as vantagens e as resries dos mtodos adotados?
3. Na avaliao da qualidade da reforma agrria sob a perseciva de seu segmento ou de seu vis de
anlise, quais queses foram esquecidas ou abordadas de maneira insufciente na publicao?
6 NEAD Debate 8
e Vera Lcia Silveira Botta Ferrante, nasceu Assentamentos em Debate,
uma oportunidade de ver a reforma agrria analisada por ngulos e
persecivas diversas numa nica obra. Esa obra pode ser considerada
um alicerce para a consruo de mtodos e procedimentos que permi-
tam que levantamentos de dados geis, realisas em prazos e oramentos,
sejam desenhados e aplicados para a avaliao da situao em que se
encontram os assentamentos e benefcirios da reforma agrria brasileira.
Esas informaes interessam a todos. Assentamentos em Debate tambm
traz a perseciva individual de cada um dos colaboradores. Passar por
Assentamentos em Debate como percorrer um assentamento com um
grupo de pessoas das mais disintas origens e biografas, ver as coisas
que l exisem, conversar com as pessoas que l vivem, que dese esao
retiram seu susento e dignidade.
Assentamentos em Debate a conversa que ese grupo teve ao fnal da
tarde sentado sombra de uma rvore. Quem j teve ese tipo de experi-
ncia se recorda do debate acalorado, das divergncias e convergncias
de opinio, da incrvel diversidade de olhares que se pode lanar sobre
o mesmo cenrio, e poder repeti-la. Para quem ainda no teve ese tipo
de experincia recomendamos ler Assentamentos em Debate numa rede
pendurada sombra de uma rvore.
Caio Galvo de Frana e Gerd Sparovek
Sumrio
1 Resumo de A Quali dade dos Assentamentos
da Reforma Agrria Brasi lei ra 10
1.1 Apresentao 11
1.2 A rea reformada no Brasil 11
1.3 A disponibilidade dos resultados da pesquisa 12
1.4 Metodologia adotada na pesquisa 13
1.5 Resultados 15
1.5.1 Eficcia da reorganizao fundiria 15
1.5.2 Qualidade de vida 19
1.5.3 Articulao e organizao social 24
1.5.4 Ao operacional 28
1.5.5 Qualidade do meio ambiente 31
1.6 Concluses 35
2 Colaboradoras e colaboradores 39
2.1 A consruo de ndices como insrumentos para
retratar a realidade social: uma anlise crtica
Luis Henrique Cunha, Ramonildes Alves Gomes, Marilda Aparecida
de Menezes, Edgar Afonso Malagodi e Genaro Ieno Neto 40
2.2 O signifcado dos assentamentos de reforma agrria no Brasil
Srgio Sauer 57
2.3 A qualidade dos assentamentos da reforma agrria: a
polmica que nunca saiu de cena Debatendo o livro
A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira
Snia Maria Pessoa Pereira Bergamasco e Vera Lcia Silveira Botta Ferrante 75
8 NEAD Debate 8
2.4 Radiografa da reforma agrria: notas metodolgicas
sobre o trabalho A Qualidade dos Assentamentos
da Reforma Agrria Brasileira
Antnio Mrcio Buainain e Jos Maria da Silveira 89
2.5 Impacos socioterritoriais da luta pela terra e a queso da
reforma agrria: uma contribuio crtica publicao
A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira
Bernardo Manano Fernandes 113
2.6 O jornalismo brasileiro, a queso agrria e o imaginrio
Debora Lerrer 133
2.7 Pesquisa agropecuria e reforma agrria: contribuio
para a anlise da qualidade dos assentamentos
Jos Carlos Cosa Gomes 155
2.8 Reforma agrria e programas de assentamentos rurais:
o dilema atual da queso agrria brasileira
Lauro Mattei 168
2.9 Reforma agrria e a queso ambiental:
por uma outra concepo
Paulo Roberto Martins 184
2.10 Comentrios sobre A Qualidade dos Assentamentos
da Reforma Agrria Brasileira
Hans Meliczek 199
2.11 Assentamentos rurais: esabelecendo um dilogo
entre duas persecivas de anlise
Eliane Brenneisen 206
Assentamentos em debate 9
3 Comentrios dos autores de A Quali dade dos
Assentamentos da Reforma Agrria Brasi lei ra 238
3.1 Os comentrios: organizao e apresentao 239
3.2 Motivao e signifcncia 240
3.2.1 Entre a confana e a desconfana 240
3.2.2 Os objetivos norteadores 244
3.2.3 Os signifcados 246
3.3 Acertos e avanos 247
3.3.1 O aceno para a qualidade 247
3.3.2 Um esudo amplo e rpido a ser detalhado 249
3.3.3 Convertendo opinies em material slido 251
3.3.4 As diferenas regionais 252
3.3.5 O acesso aos dados 223
3.3.6 Enfm, o meio ambiente 254
3.3.7 A contextualizao 255
3.4 Limitaes e problemas 256
3.4.1 Omisses 256
3.4.2 Escala, abrangncia e carter quantitativo 257
3.4.3 Ausncia de uma realidade externa 259
3.4.4 A imparcialidade nas entrevisas 260
3.5 ndices: acertos 264
3.5.1 Olhares mltiplos, mas objetivados 264
3.5.2 Transarncia 266
3.6 ndices: erros 267
3.6.1 Os ndices como opo de representao da realidade 267
3.6.2 Os mais criticados: IF e IS 270
3.6.3 Omisses na qualidade de vida 276
3.6.4 O ndice de meio ambiente 277
3.7 reas descobertas e necessidade de complementaes 279
3.8 Novos olhares e formas de interpretao 286
3.9 A contribuio particular das colaboradoras
e dos colaboradores 293
Resumo de A Qualidade
dos Assentamentos da
Reforma Agrria Brasileira
1
Assentamentos em debate 11
1. 1 Apresentao
A
consulta ao livro A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria
Brasileira, organizado por Gerd Sparovek, Editora Pginas e Letras
(2003), pode ser importante para a compreenso das discusses e infor-
maes apresentadas nesa publicao. Como alternativa consulta da
publicao original, preparamos um resumo com a extrao de partes
do texto original sem nenhuma adaptao aos fatos e acontecimentos
ocorridos aps a publicao do livro, no incio de 2003.
1. 2 A rea reformada no Brasi l
A pesquisa de campo, realizada entre 15 de julho e 25 de setembro de
2002, que resultou na publicao A Qualidade dos Assentamentos da
Reforma Agrria Brasileira teve como base 14.414 entrevisas feitas em
4.340 Projetos de Assentamento (PA), criados entre 1995 e 2001, envol-
vendo todos os esados brasileiros. Eses projetos, que ocupam juntos
uma rea de aproximadamente 17,5 milhes de hecares, tm capacidade
de assentar 386.096 famlias e contavam, na poca das entrevisas, com
328.825 famlias ocupando os lotes. A disribuio das reas reformadas
pode ser visa na Figura 1. A pesquisa foi considerada a mais abrangente
j realizada no Brasil sobre os assentamentos da reforma agrria.
12 NEAD Debate 8
Figura 1 rea ocupada pelos projetos de assentamento
para os perodos de 1985-1994 e 1995-2001
1. 3 A di sponi bi li dade dos resultados da pesqui sa
Os principais resultados da pesquisa foram publicados no livro A Quali-
dade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira em 2003 reim-
presso em 2004 pelo Ncleo de Esudos Agrrios e Desenvolvimento
Rural (NEAD). H disonveis tambm verses eletrnicas do livro em
portugus (cpia da verso impressa) e em ingls (traduo completa da
verso em portugus) que podem ser solicitadas ao NEAD.
O banco de dados completo da pesquisa es disonvel para acesso
pblico na pgina do Consrcio de Informaes Sociais (CIS), no site
http://www.nadd.prp.us.br/cis/index.asx. Nesa pgina tambm h
insrues para o acesso base.
1985-1994
Brasil
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Norte
Nordeste
UK
1985-2001
As barras equivalem, na escala
do mapa, ao somatrio da
rea ocupada pelos projetos
de assentamento. A altura da
barra foi fixada em 100 km
e o comprimento varia em
funo da rea ocupada pe-
los projetos de assentamento.
Ao lado esquerdo do mapa
foi desenhado o contorno do
mapa do Reino Unido (UK) e
da Irlanda (cinza claro) na
mesma escala do mapa do
Brasil. A rea do UK muito
semelhante ao total da rea
reformada (1985-2001) re-
presentada no mapa do Brasil.
Assentamentos em debate 13
1. 4 Metodologia adotada na pesqui sa
Em cada Projeto de Assentamento (PA) foram realizadas pelo menos
trs entrevisas coletando-se a opinio do i) executor da poltica agrria e
fundiria pela entrevisa com o empreendedor social (ES) do Incra ligado
ao projeto; ii) presidente ou diretor da associao do PA (no caso de haver
mais de uma associao, foram entrevisados at cinco associaes); e iii)
assentado sem cargo na associao na poca da entrevisa.
Os formulrios utilizados nas entrevisas foram composos por duas
sees. A primeira seo reuniu os dados cadasrais dos PA retirados de
sua portaria de criao data de criao, capacidade de assentamento, rea
e nmero de cadasro no Sisema de Informaes dos Projetos de Reforma
Agrria (Sipra). A segunda regisrou a entrevisa propriamente dita. Ao todo,
havia 88 queses e atuaram como entrevisadores aproximadamente 280
empreendedores sociais do Incra que realizaram as entrevisas fora de suas
regies de trabalho (em PA que no esavam sob sua resonsabilidade).
A maior parte das queses foi organizada de forma a permitir resosas:
i) quantitativas, ii) semiquantitativas, ou iii) qualitativas. Como exemplo,
apresentamos a queso 30 do formulrio na Tabela 1.
As queses apresentavam trs nveis de resosa possveis. Um quan-
titativo, representado por uma resosa numrica ou uma que fosse
equivalente numrica (por exemplo o termo no foi considerado
No
Quantas so?
Poucas Metade Maioria Todas
Mais ou menos
quantas so?
0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81- 100%
Em porcentagem,
quantas so?
30) Famlias que ocupam casas denitivas de alvenaria ou de madeira,
independentemente da origem dos recursos para a sua construo
Marque apenas uma resposta
Existem famlias que
j esto nas suas
casas denitivas?
14 NEAD Debate 8
igual a valor zero, e todas foi considerado igual ao valor indicado de
famlias morando no PA). Outro, semiquantitativo, em que as opes de
resosa foram divididas em cinco faixas de porcentagem. E o terceiro,
qualitativo, sendo as opes de resosas, nesse caso, poucas, metade
ou maioria. Assim, foi possvel coletar formulrios integralmente
preenchidos sem induzir resosas e, ao mesmo tempo, regisrar a sua
incerteza. Para os clculos dos ndices temticos e demais totalizaes,
as resosas semiquantitativas e qualitativas foram primeiro convertidas
matematicamente em dados quantitativos.
Foram sugeridos ndices que integram as queses do formulrio afns
com um determinado tema. Esses ndices foram apresentados sempre em
conjunto com os valores individuais de cada um dos seus componentes.
Os ndices sugeridos aparecem descritos de forma resumida a seguir:
O ndice de efccia de reorganizao fundiria (IF) avaliou o impaco
que a criao do projeto de assentamento teve na converso do latifn-
dio improdutivo, considerando a sua reorganizao para uma situao
caracersica de produo familiar. Os seus parmetros foram baseados
na meta (capacidade) de assentamento. O nmero de famlias morando
no PA, as parcelas abandonadas ou que sofreram aglutinao e a rea
remanescente que no foi parcelada ou desinada a uso coletivo foram
ponderados pela capacidade de assentamento. A porcentagem de rea
til ocupada com produo tambm comps o ndice.
O ndice de qualidade de vida (QV) reuniu queses ligadas ao acesso
a servios e condies de moradia no PA. Os maiores pesos foram vin-
culados ao acesso educao, servios de sade e moradia. A localizao
do PA e a forma de acesso (tipo de esrada, meio de transorte), abas-
tecimento de gua e energia eltrica, tratamento de esgoto e transorte
coletivo tambm foram ponderados no ndice de qualidade de vida, mas
apresentaram peso relativamente menor. O fator de ponderao, nesse
caso, foi sempre o nmero de moradores no PA e no a capacidade de
assentamento. A conseqncia disso foi uma avaliao desvinculada das
metas proposas na criao do PA.
A articulao e organizao social (IS) foram avaliadas principalmente
em relao s parcerias externas do PA para atender s suas necessidades
de servios de educao, sade, manuteno de esradas de acesso, auxlio
Assentamentos em debate 15
produo e comercializao, lazer e religio. Quanto maior o nmero de
parcerias e quanto mais elas forem vinculadas a organismos no diretamente
relacionados reforma agrria, maior ser o valor do ndice. Com menor peso,
tambm compem o ndice a participao dos moradores em associaes
e cooperativas, a rea de produo coletiva do PA e a comercializao em
sisemas integrados. A ponderao, nesse caso, tambm foi feita com base no
nmero de moradores do PA e no com a sua capacidade de assentamento.
A ao operacional (AO) foi avaliada pelo cumprimento das obrigaes
do Incra ou do gesor local da poltica agrria e fundiria com o PA, e pela
fase em que se encontra o projeto. O nmero de casas defnitivas com abas-
tecimento de gua, energia eltrica e acesso por esradas, ponderado, nesse
caso, pela capacidade de assentamento foi contabilizado no valor do ndice.
A fase de elaborao do Projeto de Desenvolvimento do Assentamento
(PDA), a titulao e a consolidao, em conjunto com a liberao de crditos
de insalao, de habitao e do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar Linha A (Pronaf-A) tambm foram considerados,
todos com o mesmo peso. Quanto maior for o cumprimento das obriga-
es do gesor da poltica agrria e fundiria, e quanto mais prximo o PA
esiver da consolidao, maior ser o valor do ndice de ao operacional.
A qualidade ambiental (QA) foi representada por um ndice que
considera o esado de conservao das reas de Preservao Perma-
nente (APP) e a Reserva Legal (RL) com o maior peso. A exisncia de
atividades ilegais de extrao de produtos foresais (madeira e carvo)
e a degradao das terras por eroso tambm foram consideradas no
clculo do ndice. Com peso tambm elevado, as aes de recuperao
ambiental (plantio de rvores e recuperao de matas ciliares) tambm
foram contabilizadas. O esado de preservao das APP e RL e as aes de
recuperao ambiental elevaram o valor numrico do ndice, e a exisncia
de atividades impacantes ou ilegais depreciaram o seu valor.
1. 5 Resultados
1.5.1 Eficcia da reorganizao fundiria
O ndice de efccia da reorganizao fundiria (IF) es representado
numericamente na Tabela 2 e grafcamente na Figura 2.
16 NEAD Debate 8
Tabela 2 Valores mdios do ndice de eficcia da
reorganizao fundiria (IF), valores mximos e mnimos,
fonte e tipo de respostas para o Brasil e regies.
Mx: Mximo ndice possvel, considerando a resposta mais favorvel de todos os formulrios.
Mn: Mnimo ndice possvel, considerando a resposta menos favorvel de todos os formulrios.
Gov: ndice representando a opinio do Gestor da Interveno Fundiria (Incra ou Agncias Estaduais).
Assoc: ndice representando a opinio das Associaes dos Projetos de Assentamento.
Trab: ndice representando a opinio dos trabalhadores rurais, considerando os formulrios das
entrevistas com os assentados no membros da diretoria das Associaes.
Qt: Porcentagem total de respostas quantitativas.
SQt: Porcentagem total de respostas semiquantitativas.
Ql: Porcentagem de respostas qualitativas.
IF
Mdia Mdia Mx Mx
Mdia Mdia Mx Mx
Mdia Mdia Mx Mx
Mdia Mdia Mx Mx
Mdia Mdia Mx Mx
Mdia Mdia Mx Mx
102 96
Min 90 Min 84
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
94 95 96 90 89 91
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
92,3% 3,5% 4,2% 92,1% 3,9% 4,0%
91 92
Min 75 Min 77
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
82 84 81 84 84 84
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
87,9% 6,1% 6,1% 88,7% 6,3% 4,9%
105 95
Min 93 Min 83
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
98 99 100 89 89 89
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
92,6% 2,7% 4,7% 92,1% 3,2% 4,7%
97 95
Min 84 Min 84
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
89 94 90 89 90 89
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
91,6% 4,7% 3,6% 92,0% 4,9% 3,1%
109 101
Min 99 Min 93
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
99 104 105 98 94 98
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
93,7% 3,4% 2,9% 95,4% 2,8% 1,8%
107 101
Min 100 Min 96
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
103 103 104 98 99 99
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
96,6% 1,3% 2,0% 95,8% 2,2% 2,0%
95
1985-1994 1995-2001
90
82 84
99 89
104 99
91 89
103 97
Brasil
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Assentamentos em debate 17
Figura 2 Valor do ndice de eficcia de reorganizao
fundiria (IF) dos projetos de assentamento do Brasil.
Cada ponto no mapa indica um projeto de assentamento.
Esse ndice, ao contrrio dos outros, apresentou valores elevados e muitas
vezes prximos ao ideal. Para os projetos criados no perodo de 1985-1994,
seu valor mdio no Brasil foi de 95, sendo apenas um pouco superior ao
dos projetos criados no perodo de 1995-2001, que foi de 90 (Tabela 2).
Regionalmente, no perodo de 1985-1994, pode-se desacar que o Sul
(104) e Sudese (103) apresentaram ndices superiores a 100. Esses valores
indicam que o nmero de moradores nos projetos foi superior ao inicial-
mente planejado (capacidade de assentamento). A permanncia das famlias
nos projetos e mesmo a migrao esontnea para as reas reformadas
parecem esar desvinculadas da variao de outros ndices importantes
como a qualidade de vida e efcincia operacional do governo. Mesmo em
Eficcia de
Reorganizao
Fundiria (IF)
Valor do ndice de IF
Sistema de Coordenadas Latitude/Longitude
Datum de Referncia SAD 1969 Brasil
20
45
70
95
120
18 NEAD Debate 8
reas em que foram regisrados baixos ndices de qualidade de vida (acesso
a servios e moradia), foram identifcadas srias defcincias operacionais
(liberao de crditos e implantao de infra-esrutura), a organizao
social dos projetos foi defciente, a permanncia das famlias foi elevada e
a meta de assentamento pde ser atingida. A combinao desses fatores
preocupante por ser indicativa de uma realidade ainda mais sombria, ou
seja, a vida precria dessas famlias antes de esarem nos assentamentos.
Os assentados de hoje so os acampados de ontem, aqueles que per-
deram o emprego no campo, tiveram que vender suas terras ou migraram
para a periferia das cidades. O fato dessas pessoas aceitarem condies
precrias em muitos assentamentos refora a importncia do programa
de reforma agrria e a necessidade de ampliao das aes do governo na
interveno fundiria. Essas famlias vem no acesso terra, e no nos be-
nefcios indiretos (crditos e servios), o equacionamento de seus problemas.
O componente do IF que mais colaborou para a sua reduo o fator
de rea til explorada. A mdia desse fator, para o Brasil, indicou que nos
assentamentos criados no perodo de 1985-1994 a rea til no explorada
foi de 18%. No perodo de 1995-2001, os valores so mais elevados, com
uma mdia nacional de 27%. A no explorao de toda a rea til dos
projetos pode ser decorrente de diversos fatores: a) difculdade de acesso
ao montante de crditos e benefcios necessrios para a efetiva explorao
de toda a rea; b) incluso de reas inaptas explorao agrcola na rea
til do projeto; c) concesso de rea maior do que a disonibilidade de
mo-de-obra das famlias; e d) implantao por parte das famlias de
sisemas de produo mais intensivos do que os previsos, prescindindo
assim de extenses menores de terra.
Cada uma dessas hipteses leva a um equacionamento diferente do
problema, e os mtodos empregados na anlise dos dados desa pesquisa
no permitem identifcar quais so os fatores mais relevantes.
Os outros parmetros que compem o IF no colaboraram muito para
a sua reduo. Isso indica que a ocorrncia de lotes vagos, aglutinao
de lotes ou a exisncia de reas no parceladas nos projetos foi muito
pequena. Nesses asecos, apenas casos mais isolados podem ser apon-
tados: a) elevada ocorrncia de reas no parceladas no Amap (43%, no
perodo de 1995-2001, e 15%, no perodo de 1985-1994); b) signifcativa
Assentamentos em debate 19
aglutinao de lotes no perodo de 1985-1994, no Par (13%) e em Ron-
dnia (13%); c) 21% de lotes vagos no Amap e 13% no Amazonas, no
perodo de 1995-2001, e 26% no Amap e 21% no Amazonas, no perodo
de 1985-1994. A variao de lotes vagos e de alteraes dos benefcirios
originais es representada na Figura 3.
Figura 3 Variao nos estados de a) lotes vagos e
b) lotes em que houve alterao dos beneficirios.
A anlise conjunta do IF indica que a efcincia com que os latifndios
so convertidos numa matriz fundiria baseada em agricultura familiar
evidente em todo o Brasil e os problemas observados, como abandono ou
aglutinao de lotes e reas no parcelados nos projetos, foram isolados.
O fato da efcincia da reorganizao fundiria esar desvinculada de outros
ndices, como qualidade de vida e efcincia operacional, refora o conceito de
que o acesso terra, mais do que os benefcios indiretos, o mecanismo mais
importante do processo de reforma agrria na transformao da sociedade.
1.5.2 Qualidade de vida
O ndice de qualidade de vida (QV) es representado numericamente
na Tabela 3 e grafcamente na Figura 4.
Lotes vagos
Fonte: Pesquisa A Qualidade dos assentamentos
da reforma agrria brasileira, 2002
2
25
50
63%
Alterao de ocupante
PA criados entre 1985 e 2001
0
5
10
15
20
25%
20 NEAD Debate 8
Tabela 3 Valores mdios do ndice de qualidade
de vida (QV), valores mximos e mnimos, fonte
e tipo de respostas para o Brasil e regies.
Mx: Mximo ndice possvel, considerando a resposta mais favorvel de todos os formulrios.
Mn: Mnimo ndice possvel, considerando a resposta menos favorvel de todos os formulrios.
Gov: ndice representando a opinio do Gestor da Interveno Fundiria (Incra ou Agncias Estaduais).
Assoc: ndice representando a opinio das Associaes dos Projetos de Assentamento.
Trab: ndice representando a opinio dos trabalhadores rurais, considerando os formulrios das
entrevistas com os assentados no membros da diretoria das Associaes.
Qt: Porcentagem total de respostas quantitativas.
SQt: Porcentagem total de respostas semiquantitativas.
Ql: Porcentagem de respostas qualitativas.
QV
68 60
Min 57 Min 48
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
63 61 64 55 52 54
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
76,2% 7,2% 16,6% 78,1% 7,4% 14,5%
55 48
Min 43 Min 35
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
50 49 48 42 42 41
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
72,1% 9,0% 18,9% 75,8% 9,0% 15,1%
66 60
Min 56 Min 48
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
63 61 61 55 53 53
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
77,4% 4,4% 18,2% 80,4% 4,4% 15,2%
74 63
Min 62 Min 51
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
68 68 70 59 57 55
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
70,9% 14,5% 14,6% 76,3% 10,7% 13,0%
74 68
Min 64 Min 56
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
66 65 70 64 57 65
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
75,9% 12,3% 11,8% 74,8% 15,0% 10,3%
81 72
Min 69 Min 60
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
76 81 74 68 71 65
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
82,2% 3,3% 14,5% 78,2% 5,6% 16,1%
76 67
69 57
67 63
49 42
62 54
63
1985-1994 1995-2001
54
Mdia Mdia
Mdia Mdia
Mdia Mdia
Mdia Mdia
Mdia
Mdia Mdia
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Brasil
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Assentamentos em debate 21
Figura 4 Valor do ndice de qualidade de vida
(QV) dos projetos de assentamento do Brasil.
Cada ponto no mapa indica um projeto de assentamento.
O ndice de qualidade de vida integra as queses ligadas s condies
de moradia e acesso aos servios de educao e sade dos moradores dos
projetos, independentemente de sua condio de assentado ou ocupante.
A condio de vida reporta-se apenas queles que eso no projeto, regular
ou irregularmente, desvinculando essa avaliao da efcincia com que o
projeto foi implantado ou do seu potencial de atender famlias.
Os valores mdios calculados para o Brasil foram baixos, sendo 63,
para os projetos criados entre 1985-1994, e 54, para aqueles criados no
perodo de 1995-2001. Em todos os casos, a tendncia de valores mais
elevados nos projetos do perodo mais antigo se manteve, embora essa
Qualidade de
Vida (QV)
Valor do ndice de IF
Sistema de Coordenadas Latitude/Longitude
Datum de Referncia SAD 1969 Brasil
20
45
70
95
120
22 NEAD Debate 8
elevao tenha sido pequena. Com base nesses nmeros, possvel afrmar
que pouco mais da metade dos fatores ligados ao ndice de qualidade de
vida eso plenamente satisfeitos e que, apesar do desenvolvimento dos
PA levar a melhorias, elas vo ocorrer de forma lenta e incompleta. As
maiores diferenas foram regionais, com os valores mdios para a regio
Sul sendo os mais elevados, seguidos daqueles das regies Sudese e Cen-
tro-Oese, numa situao intermediria, e as regies Nordese e Norte
apresentando os menores valores.
Os fatores isolados que mais contriburam para a reduo de QV, nos
dois perodos, foram: a) acesso ao atendimento de sade em caso de emer-
gncias; b) acesso gua de boa qualidade; c) acesso ao ensino mdio; e
d) tratamento do esgoto domsico. Descartando a possibilidade desses
benefcios no esarem na agenda de reivindicao dos moradores dos
projetos, resa uma hiptese. A sua pouca disonibilidade e a tendncia
de no haver melhorias signifcativas com o tempo indicam a ausncia
ou inefccia das polticas e aes para seu equacionamento.
A variao de alguns fatores do ndice de QV por esado es apre-
sentada na Figura 5.
Assentamentos em debate 23
Figura 5 Variao nos estados de a) acesso a ensino mdio;
b) acesso a ensino fundamental; c) acesso eletricidade; d) acesso
gua de boa qualidade e e) moradia em casas definitivas.
Ensino mdio
0
25
50
75
100%
Ensino fundamental
Eletricidade Acesso gua
Casa definitiva
0
25
50
75
100%
0
25
50
75
100%
0
25
50
75
100%
0
25
50
75
100%
24 NEAD Debate 8
As concluses gerais da anlise do ndice de qualidade de vida foram:
a) os valores mdios de QV para o Brasil foram baixos e apenas alguns
fatores eso relativamente bem atendidos; b) h ainda um grande n-
mero de fatores importantes que comprometem a qualidade de vida nos
assentamentos; c) as variaes regionais foram marcantes em todos os
asecos e fatores que compem o ndice. Essa tendncia um indicativo
de que as polticas e aes nesse sentido devem ser regionalizadas. A sua
efcincia em regies naturalmente pouco supridas de infra-esrutura foi
menor; e d) a melhoria da qualidade de vida com o tempo no ocorreu
em todos os fatores considerados e foi geralmente pequena.
Esa anlise demonsra que as polticas de apoio aos assentamentos,
por parte do governo em todos os seus nveis, devem ser de longo prazo.
No incio, deveriam envolver fases de atuao mais intensiva e voltada
implantao de infra-esrutura bsica. Poseriormente, deveriam
ter o objetivo de integrar os projetos no contexto regional visando ao
acesso a servios e benefcios desvinculados das aes de interveno
fundiria direta ou da lisa de obrigaes assumidas pelo governo no
momento da criao dos projetos.
Os fatores isolados que compem o ndice de QV ainda permitem
as seguintes anlises: a) nos projetos recentes, criados entre 1995-2001,
os maiores problemas com casas defnitivas foram regisrados na regio
Norte (45% das famlias no tm casa defnitiva). Esse valor foi mais baixo
no perodo de 1985-1994, sendo muito baixo em algumas regies, nesse
perodo (3% na regio Sul); b) o suprimento de gua de boa qualidade
nas moradias preocupante em todo o Brasil. Na regio Nordese, no
perodo de 1995-2001, apenas 43% das moradias regisraram o suprimento
de gua de boa qualidade, mas valores baixos foram observados em todas
as regies nesse perodo (11% no Amap, 32% no Rio Grande do Sul, 53%
em Gois e 31% no Rio de Janeiro); c) o tratamento de esgoto domsico,
em fossa sptica, foi extremamente baixo nos dois perodos, em todas as
regies; d) o transorte pblico das reas dos projetos at a sede municipal
mais prxima precrio na maioria dos casos; e e) as esradas internas,
na sua maioria, no apresentam boas condies de trfego.
1.5.3 Articulao e organizao social
O ndice de articulao e organizao social (IS) es representado nu-
mericamente na Tabela 4 e grafcamente na Figura 6.
Assentamentos em debate 25
Tabela 4 Valores mdios do ndice de articulao e
organizao social (IS), valores mximos e mnimos,
fonte e tipo de respostas para o Brasil e regies.
Mx: Mximo ndice possvel, considerando a resposta mais favorvel de todos os formulrios.
Mn: Mnimo ndice possvel, considerando a resposta menos favorvel de todos os formulrios.
Gov: ndice representando a opinio do Gestor da Interveno Fundiria (Incra ou Agncias Estaduais).
Assoc: ndice representando a opinio das Associaes dos Projetos de Assentamento.
Trab: ndice representando a opinio dos trabalhadores rurais, considerando os formulrios das
entrevistas com os assentados no membros da diretoria das Associaes.
Qt: Porcentagem total de respostas quantitativas.
SQt: Porcentagem total de respostas semiquantitativas.
Ql: Porcentagem de respostas qualitativas.
47 44
Min 37 Min 35
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
43 43 41 40 40 39
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
88,9% 3,8% 7,2% 89,7% 3,7% 6,6%
46 43
Min 37 Min 33
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
41 42 41 37 39 38
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
89,9% 4,2% 5,9% 90,3% 4,1% 5,6%
46 45
Min 38 Min 36
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
44 42 42 41 40 40
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
87,4% 3,3% 9,3% 88,2% 3,5% 8,3%
51 47
Min 41 Min 38
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
46 47 46 45 43 41
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
86,9% 6,7% 6,5% 89,0% 5,5% 5,6%
42 38
Min 31 Min 29
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
39 40 33 34 37 32
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
89,3% 5,8% 4,9% 92,8% 4,0% 3,2%
48 46
Min 37 Min 35
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
43 54 40 40 51 40
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
91,8% 1,9% 6,4% 93,0% 1,4% 5,6%
42
1985-1994 1995-2001
40
41 38
43 40
43 41
46 43
37 34
Mdia Mdia
Mdia Mdia
Mdia Mdia
Mdia Mdia
Mdia
Mdia
Mdia Mdia
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Brasil
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
26 NEAD Debate 8
Figura 6 Valor do ndice de articulao e organizao
(IS) dos projetos de assentamento do Brasil.
Cada ponto no mapa indica um projeto de assentamento.
Os fatores que compem o IS podem ser divididos em dois asec-
tos: a) ligados reivindicao por benefcios sociais; e b) organizao
visando obter benefcios para os sisemas de produo. Os valores de
IS apresentaram caracersicas disintas daquelas de todos os outros
ndices. A variao regional foi pequena, os valores absolutos baixos
e as diferenas entre os dois perodos pouco signifcativas. A anlise
de seus fatores isolados indicou que a organizao e articulao social
nos projetos se concentram nas atividades reivindicatrias voltadas a
servios e benefcios sociais. So exemplos: as parcerias para equacionar
problemas de educao e sade, a manuteno de esradas de acesso e a
Articulao e
Organizao Social (IS)
Valor do ndice de IF
Sistema de Coordenadas Latitude/Longitude
Datum de Referncia SAD 1969 Brasil
20
45
70
95
120
Assentamentos em debate 27
participao nas associaes dos projetos. As associaes dos projetos
tm papel importante na negociao de crditos e auxlios com o governo,
bem como na mediao das relaes entre os associados. A organizao
dos projetos nessas reas foi elevada em todos os esados.
A organizao visando obter benefcios coletivos para a produo
foi bem menor do que aquela observada nos asecos reivindicatrios.
Parcerias buscando conseguir benefcios para a comercializao e/ou
produo agrcola foram regisradas em 9% dos PA (mdia Brasil de
projetos criados entre 1985-2001) e as parcerias ligadas a benefcios sociais
ocorreram em 57% dos casos. A produo coletiva, com exceo de alguns
esados do Nordese, no apresentou valores signifcativos. A participao
em cooperativas teve alguma expresso maior apenas na regio Sul e as
parcerias com agroindsrias, com exceo apenas do esado de Gois,
no foram signifcativas.
A anlise conjunta dessas tendncias indica que, aps o assenta-
mento, as famlias optam por individualizar sua produo, evitando
solues coletivas como cooperativas ou parcerias com agroindsrias.
A individualizao no atinge as aes reivindicatrias por benefcios e
servios sociais, que continuam sendo feitas coletivamente, visando o
projeto como um todo, pelo intermdio das associaes. A variao da
participao em associaes e em sisemas cooperados por esado es
apresentada na Figura 7.
28 NEAD Debate 8
Figura 7 Variao nos estados de a) sistemas
de produo cooperados e b) associaes
1.5.4 Ao operacional
O ndice de ao operacional (AO) es representado numericamente na
Tabela 5 e grafcamente na Figura 8.
Participao em cooperativas
0
25
50
75
100%
0
25
50
75
100%
Participao em associaes
Assentamentos em debate 29
Tabela 5 Valores mdios do ndice de ao
operacional (AO), valores mximos e mnimos, fonte
e tipo de respostas para o Brasil e regies.
Mx: Mximo ndice possvel, considerando a resposta mais favorvel de todos os formulrios.
Mn: Mnimo ndice possvel, considerando a resposta menos favorvel de todos os formulrios.
Gov: ndice representando a opinio do Gestor da Interveno Fundiria (Incra ou Agncias Estaduais).
Assoc: ndice representando a opinio das Associaes dos Projetos de Assentamento.
Trab: ndice representando a opinio dos trabalhadores rurais, considerando os formulrios das
entrevistas com os assentados no membros da diretoria das Associaes.
Qt: Porcentagem total de respostas quantitativas.
SQt: Porcentagem total de respostas semiquantitativas.
Ql: Porcentagem de respostas qualitativas.
AO
71 52
Min 58 Min 41
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
65 60 66 48 44 47
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
80,0% 7,7% 12,3% 82,0% 7,8% 10,2%
48 38
Min 36 Min 27
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
43 42 40 33 32 31
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
70,7% 10,9% 18,4% 75,4% 10,8% 13,8%
70 51
Min 57 Min 39
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
66 62 64 47 44 44
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
81,5% 5,0% 13,5% 85,8% 4,5% 9,7%
72 58
Min 57 Min 45
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
66 64 63 52 51 50
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
76,4% 15,5% 8,1% 78,4% 12,1% 9,5%
81 60
Min 69 Min 48
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
75 72 71 56 54 53
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
80,8% 11,1% 8,1% 80,5% 12,9% 6,6%
92 72
Min 80 Min 61
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
88 86 86 67 71 66
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
90,3% 2,6% 7,1% 85,0% 5,9% 9,2%
87 67
64 51
73 54
42 32
64 45
64
1985-1994 1995-2001
46
Mdia Mdia
Mdia Mdia
Mdia Mdia
Mdia Mdia
Mdia
Mdia
Mdia Mdia
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Brasil
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
30 NEAD Debate 8
Figura 8 Valor do ndice de ao operacional (AO)
dos projetos de assentamento do Brasil.
Cada ponto no mapa indica um projeto de assentamento.
As diferenas entre os ndices regionais no foram alteradas com o
tempo. Nas regies Norte e Nordese, onde se concentra a maioria dos
projetos de assentamento, os ndices de AO so mais baixos em todas as
pocas. A regio Norte sempre apresentou os valores mais baixos e o menor
incremento com o tempo. Os valores de AO nos projetos mais antigos
da regio Norte, criados entre 1985-1994, fcaram abaixo dos valores dos
projetos mais recentes do Sul e Sudese, criados entre 1999-2001. Essas
tendncias indicam que a ao operacional apresenta esecifcidades
regionais, as quais podem esar vinculadas a diferentes formas de atuao
do Incra nas superintendncias regionais. Outra tendncia observada foi a
Ao Operacional (AO)
Valor do ndice de IF
Sistema de Coordenadas Latitude/Longitude
Datum de Referncia SAD 1969 Brasil
20
45
70
95
120
Assentamentos em debate 31
diminuio do AO medida que se intensifca a interveno fundiria nas
regies. A disino entre essas duas causas no foi feita, mas certamente
um elemento-chave para a implementao de esratgias que visam
melhoria da ao operacional por parte do governo.
Os fatores que compem o ndice podem ser agrupados em trs
categorias principais: a) infra-esrutura (consruo de casas, acesso
gua de boa qualidade e eletricidade e esradas internas); b) liberao de
crditos (insalao, habitao e produo); e c) titulao e consolidao
dos projetos.
O valor 64 alcanado pelo ndice no Brasil, no perodo de 1985-1994,
es aqum do desejado, pois assentamentos criados h mais de oito
anos deveriam esar com a totalidade ou a maioria dos servios bsicos
executados. Os valores dos fatores isolados que compem o ndice no
perodo de 1985-1994 mosram que o fator de maior resrio foi a titu-
lao e consolidao, seguido da exisncia de esradas internas em boas
condies. O item melhor atendido foi a exisncia de casas defnitivas. A
liberao dos crditos de insalao e habitao tambm j foi executada
na maior parte.
1.5.5 Qualidade do meio ambiente
O ndice de ao operacional (AO) es representado numericamente na
Tabela 6 e grafcamente na Figura 9.
32 NEAD Debate 8
Tabela 6. Valores mdios do ndice de qualidade
ambiental (QA), valores mximos e mnimos, fonte
e tipo de respostas para o Brasil e regies.
Mx: Mximo ndice possvel, considerando a resposta mais favorvel de todos os formulrios.
Mn: Mnimo ndice possvel, considerando a resposta menos favorvel de todos os formulrios.
Gov: ndice representando a opinio do Gestor da Interveno Fundiria (Incra ou Agncias Estaduais).
Assoc: ndice representando a opinio das Associaes dos Projetos de Assentamento.
Trab: ndice representando a opinio dos trabalhadores rurais, considerando os formulrios das
entrevistas com os assentados no membros da diretoria das Associaes.
Qt: Porcentagem total de respostas quantitativas.
SQt: Porcentagem total de respostas semiquantitativas.
Ql: Porcentagem de respostas qualitativas.
QA
72 75
Min 55 Min 57
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
62 64 65 64 67 68
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
77,7% 9,6% 12,7% 80,5% 9,6% 10,0%
70 72
Min 52 Min 55
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
58 63 61 60 65 65
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
77,0% 11,9% 11,1% 79,6% 12,2% 8,2%
67 71
Min 52 Min 53
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
59 60 61 61 63 64
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
81,6% 5,7% 12,7% 82,5% 6,3% 11,2%
73 82
Min 52 Min 63
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
54 67 65 68 75 75
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
75,7% 14,8% 9,5% 79,3% 12,7% 8,1%
79 82
Min 59 Min 61
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
67 69 68 70 74 71
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
78,5% 12,7% 8,8% 79,9% 13,6% 6,5%
82 84
Min 63 Min 63
Fonte Fonte
Gov Assoc Trab Gov Assoc Trab
73 82 71 70 82 76
Tipo Tipo
Qt SQt Ql Qt SQt Ql
71,3% 10,0% 18,6% 75,6% 10,6% 13,8%
73 75
62 73
68 71
61 63
60 63
64
1985-1994 1995-2001
66
Mdia Mdia
Mdia Mdia
Mdia Mdia
Mdia Mdia
Mdia
Mdia
Mdia Mdia
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Brasil
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Assentamentos em debate 33
Figura 9 Valor do ndice de qualidade ambiental
(QA) dos projetos de assentamento do Brasil.
Cada ponto no mapa indica um projeto de assentamento.
O ndice como um todo apresentou variao regional signifcativa,
com valores mais baixos nas regies Nordese e Norte, intermedirios no
Centro-Oese e Sudese e mais elevados no Sul. Ao contrrio de todos os
outros ndices, os valores maiores foram observados nos assentamentos
novos, o que d margem a duas interpretaes: a) a qualidade do meio
ambiente diminui com o desenvolvimento do projeto e com a intensif-
cao dos sisemas de produo; ou b) as atitudes conservacionisas tm
sido intensifcadas em tempos mais recentes. Os fatores isolados que mais
contriburam para que o ndice assumisse valores relativamente baixos
em termos absolutos (com exceo de alguns esados da regio Sul) foram
Qualidade do Meio
Ambiente (QA)
Valor do ndice de IF
Sistema de Coordenadas Latitude/Longitude
Datum de Referncia SAD 1969 Brasil
20
45
70
95
120
34 NEAD Debate 8
a conservao de reas de Preservao Permanente (APP) e Reserva
Legal (RL) e a falta de aes de melhoria ambiental. A metodologia da
pesquisa no permitiu avaliar se as APP e RL j esavam degradadas na
poca de criao dos projetos, assim surgem novamente duas possibili-
dades: a) a degradao ocorreu em decorrncia da implantao dos PA,
sendo, nesse caso, uma conseqncia direta da reforma agrria; ou b) a
seleo das reas utilizadas para reforma agrria no considera situaes
em que o esado de preservao j es comprometido, como parte do
processo de tomada de deciso. Apoiando a primeira hiptese es o fato
de que a rea desmatada aps a criao dos PA (legal ou ilegalmente) foi
de 30% em relao rea total dos projetos, ou de 43% em relao sua
rea til, como mdia para o Brasil (aproximadamente 7,2 milhes de
hecares desmatados, entre 1985-2001, de uma rea total de projetos de
assentamento de 24,4 milhes de hecares, com rea til de 16,7 milhes
de hecares. Esses nmeros indicam que as regies priorizadas para a
reforma agrria eso nas fronteiras agrcolas, onde a implantao dos
sisemas de produo ainda prescinde de desmatamento.
Uma possvel explicao para essa tendncia so os critrios adotados
na defnio de imvel produtivo ndices de Grau de Utilizao da
Terra (GUT) e de Grau de Efcincia na Explorao (GEE). Caso esses
ndices sejam muito baixos, como so muitas vezes considerados, eles
permitem a caracerizao de imveis improdutivos apenas em regies
remotas, onde o desenvolvimento dos sisemas de produo agrcola ainda
muito incipiente. Se esse, realmente, for o fator que leva a difculdades
de arrecadao de terras por parte do governo nas regies mais desen-
volvidas, torna-se imprescindvel uma reviso e atualizao dos ndices
para o clculo de GUT e GEE.
A insufcincia de crditos esecfcos para benefcios ao meio ambiente
(reforesamentos, recuperao de matas ciliares, sisemas agroforesais)
e a implantao apenas recente de aes de planejamento dos sisemas de
produo (PDA) e da licena ambiental para a implantao de projetos
ou liberao de crditos jusifcam a pouca abrangncia das aes de
recuperao ambiental nos projetos de assentamento. Essas aes foram
implementadas em 871 mil hecares (3,6% da rea total dos PA ou 5,2%
de sua rea til).
Assentamentos em debate 35
Como concluso da anlise geral dos dados, possvel afrmar que
o processo de reforma agrria realizado com base num passivo am-
biental signifcativo. Esse passivo fruto da priorizao de reas em que
a qualidade ambiental j es comprometida ou da seleo de reas em
que o desmatamento ainda necessrio para a implantao dos sisemas
de produo agrcola. A falta de aes direcionadas para o equaciona-
mento desse passivo, defnidas apenas em pocas muito recentes (PDA
e licena ambiental), associada priorizao absoluta dos crditos para
a implantao de infra-esrutura e apoio produo jusifcam a pouca
abrangncia de aes que poderiam promover o resgate da qualidade
ambiental nos assentamentos.
2. Concluses
As concluses acerca dos dados apresentados dependem da abrangncia
com que as aes da reforma agrria so consideradas.
De uma maneira simplifcada, a reforma agrria pode ser visa consi-
derando-se a reverso da situao fundiria como parmetro principal ou
nico de avaliao de resultados. Nesse caso, a converso do latifndio
improdutivo numa rea reformada, onde predomina a pequena proprie-
dade familiar, passa a ser o principal objetivo. Sob esse aseco, a reforma
agrria pode ser considerada um programa de grande sucesso. Os in-
dicadores apresentados nese trabalho apontam para elevada efcincia
e para uma tendncia crescente nos invesimentos e na priorizao das
aes. Exemplos so: a) o ndice de efccia da reorganizao fundiria
foi elevado e perto de nveis timos na maioria das regies do Brasil;
b) o nmero de lotes vagos e parcelas aglutinadas foi, de forma geral, muito
pequeno, se comparado ao nmero de lotes ocupados; c) os invesimentos
por parte do governo vm aumentando nessa rea e nos ltimos 16 anos
o nmero de famlias assentadas e a extenso das reas reformadas vm
crescendo; e d) alm da criao de projetos de assentamento por desa-
propriao, o governo vem abrindo novas frentes de atuao na mbito
da interveno fundiria, cabendo desacar a utilizao de insrumentos
de crditos para a aquisio de reas para a reforma agrria (Banco da
36 NEAD Debate 8
Terra, Cdula da Terra). Tambm cabe desacar a desinao de crditos
produtivos esecfcos, como o caso do Pronaf-A.
Os indicadores compatveis com essa defnio so todos quantita-
tivos. As esatsicas sobre o nmero de PA criados, a rea reformada, o
nmero de famlias assentadas e a quantidade de recursos aplicados so
os principais indicadores que devem ser considerados sob esa tica.
Adotando uma abrangncia menos simplifcada do conceito de reforma
agrria, sero contabilizados outros fatores alm da converso do latifn-
dio em rea reformada. Nesse caso, surgiro duas diferenas relevantes
na anlise: a) os mtodos meramente quantitativos e esatsicos no so
mais os melhores insrumentos de avaliao; e b) h muito menos o que
comemorar em relao s concluses. Uma viso mais abrangente das
aes de reforma agrria no pode se resringir ao sucesso da converso
do latifndio improdutivo em matriz de produo familiar. Novos valores
e insrumentos de avaliao passam a integrar, necessariamente, a sua
avaliao. Alguns deles referem-se a condies locais, iso , a asecos
intrnsecos aos projetos de assentamento, e, outros, a uma esfera maior,
do entorno das reas reformadas e dos seus impacos sobre a sociedade.
Diversos dados gerados nesa pesquisa aplicam-se anlise da reforma
agrria nessa defnio ampliada e permitem desacar alguns asecos.
O primeiro, e provavelmente um dos mais importantes, o fato de o
sucesso da interveno fundiria esar desvinculado da efcincia com
que outras aes so implementadas. O ndice de efccia da reorgani-
zao fundiria foi elevado, independentemente da efcincia com que
as aes operacionais so executadas, da qualidade de vida nos projetos,
e dos critrios que foram adotados na seleo dos locais em que os as-
sentamentos foram criados (aptido agrcola, desenvolvimento regional,
qualidade climtica). A soma dessas duas consataes , provavelmente,
a explicao para uma srie de queses.
Os mtodos que o governo adota na avaliao da reforma agrria
(quantitativos, contabilizando famlias assentadas e desinao de recursos)
tm o poder de analisar a reforma agrria apenas sob uma tica muito
simplifcada. Nessa abordagem, independentemente de diversos fatores
que assumem importncia apenas numa anlise mais abrangente, os n-
meros so favorveis. Assim, por que invesir em outros asecos se eles
Assentamentos em debate 37
no so contabilizados na avaliao governamental dos resultados? Por
que desender recursos, dedicar energia gerencial, implementar aes em
reas que eso fora da resrita tica sob a qual as aes vo ser analisadas?
A tendncia natural ser invesir na arrecadao de terras (onde esa
for mais fcil ou mais solicitada pelos movimentos sociais), proporcionar
condies mnimas para a insalao das famlias nos assentamentos e
cumprir as metas quantitativas sugeridas pela adminisrao central.
Asecos como qualidade de vida, desenvolvimento econmico dos
projetos, impacos ambientais, benefcios regionais e abrangncia das
aes na modifcao e melhoria das comunidades locais do entorno das
reas reformadas assumem papel secundrio sob essa forma de avaliar o
desempenho. Independentemente disso tudo, a situao fundiria inde-
sejvel revertida, e a rea permanece ocupada por famlias que vo ter
se benefciado das aes implementadas pelo governo.
Numa viso mais abrangente, a anlise dos mesmos dados assume
outra dimenso. A primeira, e a mais sombria, o fato de alguns mi-
lhares de brasileiros verem uma opo de vida em assentamentos nos
quais as condies so precrias (faltam escolas, casas, abasecimento de
gua, tratamento de esgoto, atendimento de sade e transorte) e a ao
operacional do governo em resolver esses problemas ser pouco efciente.
A nica explicao razovel que, para os trabalhadores rurais sem-terra,
aqueles que perderam os seus empregos, foram subsitudos por mqui-
nas e sisemas de produo menos intensivos em mo-de-obra, mesmo
essas condies so melhores do que a migrao para as cidades ou a
remunerao oferecida pelo seu trabalho. Essas famlias vem na posse
da terra e no domnio dos meios de produo a soluo de parte dos seus
problemas, provavelmente pensando num futuro mais disante e no nas
condies precrias s quais esaro submetidas no presente.
Essa viso apenas refora o conceito de que o domnio sobre os meios
de produo, representado principalmente pela posse da terra, o prin-
cipal fator de sucesso da reforma agrria. Esse fator suplantado pelos
benefcios indiretos, como acesso a crditos, moradia e infra-esrutura,
que so necessrios apenas para garantir condies mnimas de qualidade
de vida aos assentados e permitir que consolidem e desenvolvam mais
rapidamente sua produo agrcola. Essas queses, no entanto, no so
38 NEAD Debate 8
as principais e no consituem o objetivo fnal. A anlise refora a tese
de que a concentrao da posse da terra e a difculdade de acesso aos
meios de produo no setor agrcola so o principal obsculo para o
desenvolvimento do Brasil rural e que a reforma agrria um programa
essencial para o desenvolvimento da produo agrcola. Os componentes
de assisncia social imediata embutidos nas aes de reforma agrria
(crditos para insalao e habitao, infra-esrutura bsica implantada
nos projetos de assentamento) no so os seus asecos mais importan-
tes nem aqueles que mais atraem os trabalhadores rurais. Se fosse assim,
haveria corresondncia maior entre os ndices de ao operacional e
qualidade de vida com a efccia da reorganizao fundiria.
Outra conseqncia direta dessa combinao o fato de os mtodos
atualmente adotados para avaliar o desempenho do governo na execuo
da reforma agrria e, conseqentemente, os elementos dos quais se lana
mo para tomar decises gerenciais e direcionar polticas permitirem
executar o programa cusa de grandes passivos. Esses passivos, identi-
fcados apenas numa anlise qualitativa, foram signifcativos em diversas
esferas, desacando-se a qualidade de vida, a qualidade do meio ambiente
e a ao operacional. O resgate desse passivo no interfere na contagem
do nmero de famlias que foram assentadas ou na quantidade de projetos
criados. O resgate desse passivo interfere diretamente na forma de vida
cotidiana das famlias, em asecos essenciais como ter os flhos esudando,
ter atendimento de sade quando necessrio, gua para beber, ou uma
casa para morar. Tambm interfere no impaco da reforma agrria sobre
os recursos naturais e na seriedade com que os compromissos assumidos
pelo governo so cumpridos. O resgate desse passivo s ser possvel
se forem alterados os mtodos que avaliam os resultados, passando os
mesmos a agregar asecos qualitativos. A pergunta quanto? precisa ser
complementada com as perguntas como? e por qu?.
Eseramos que esa pesquisa sirva como um elemento de agregao
daqueles que vem na reforma agrria uma alternativa vlida para o
desenvolvimento do Brasil. Esse desenvolvimento, alm de benefciar os
trabalhadores rurais, traz refexos positivos em outros setores da economia
e para a populao que vive na zona urbana.
Colaboradoras e colaboradores
2
A construo de ndices como
instrumentos para retratar a
realidade social: uma anlise crtica
Luis Henrique Cunha
Doutor em Desenvolvimento SocioAmbiental pelo Ncleo de Altos Estudos
Amaznicos/Universidade Federal do Par (NAEA/UFPA) e professor do
Programa de Ps-Graduao em Sociologia/Universidade Federal da Paraba/
Universidade Federal de Campina Grande (PPGS/UFPB/UFCG).
Ramonildes Alves Gomes
Doutora em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e professora
do Programa de Ps-Graduao em Sociologia (PPGS/UFPB/UFCG).
Marilda Aparecida de Menezes
Doutora em Sociologia pela University of Manchester, Manchester, Inglaterra, e
professora do Programa de Ps-Graduao em Sociologia (PPGS/UFPB/UFCG).
Edgar Afonso Malagodi
Ps-Doutor pela University of Manchester, Manchester, Inglaterra, e professor
do Programa de Ps-Graduao em Sociologia (PPGS/UFPB/UFCG).
Genaro Ieno Neto
Mestre em Licenciatura e Psicologia pela Universidade Federal da Paraba (UFPB).
2.1
Assentamentos em debate 41
N
as duas ltimas dcadas, muitas pesquisas foram realizadas, tanto no
mbito acadmico quanto dos rgos gesores de polticas pblicas,
com o objetivo de mensurar ou avaliar os impacos econmicos, sociais,
polticos e ambientais dos projetos de assentamentos exisentes no Bra-
sil. Algumas dessas pesquisas se desacaram pela abrangncia nacional
como o I Censo da Reforma Agrria no Brasil (Schimidt et alli, 1998) e,
mais recentemente, a pesquisa que analisou os impacos regionais dos
assentamentos (Leite et alli, 2004) ou pelo carter polmico de seus
resultados (Casro, 1992) e das metodologias adotadas (Neves, 1995);
(Veiga, 1995; 2002). Nese contexto, a pesquisa A Qualidade dos Assen-
tamentos da Reforma Agrria Brasileira, coordenada por Gerd Sparovek
(2003), pretende-se inovadora ao adotar uma metodologia de baixo cuso
operacional, com uma abordagem qualitativa, capaz de gerar informaes
recentes, sisematizadas e abrangentes sobre importantes dimenses do
processo de implementao dos projetos de assentamento, organizadas
na forma de ndices que facilitem a apreenso dos dados e infuenciem
as polticas pblicas no setor.
Ese artigo refete criticamente sobre os resultados dese empreendi-
mento, em termos dos objetivos explicitados e do retrato que oferecido,
indicando que algumas fragilidades tericas, conceituais e metodolgicas
produzem um quadro disorcido da realidade dos assentamentos no Bra-
sil e da ao do poder pblico nesa rea, ocultando os dados primrios
gerados pela pesquisa e comprometendo uma iniciativa que efetivamente
pode contribuir com a refexo sobre as polticas pblicas voltadas para
resolver a queso agrria no pas.
necessrio aceitar o fato de que a realizao de um diagnsico da
realidade social dos projetos de assentamentos (seja na dimenso local,
regional ou nacional) sempre uma experincia incompleta. Evidente-
42 NEAD Debate 8
mente, sempre possvel quesionar a validade (tcnica e poltica) de
realizao de uma invesigao que utiliza esse insrumento metodol-
gico. Mas, uma vez que se decide pela importncia de realizao de um
diagnsico, necessrio assumir que esse ser sempre parcial, tanto mais
superfcial quanto mais amplo se pretender.
Para que as informaes geradas por um diagnsico sejam teis
compreenso da realidade social, seus objetivos devero esar bem de-
fnidos. Um dos maiores problemas do trabalho coordenado por Gerd
Sparovek reside jusamente nesse ponto. Se, por um lado, h uma clara
delimitao dos objetos concretos da pesquisa (os projetos de assenta-
mento criados em todo o Brasil no perodo que vai de 1985 a 2001), por
outro, os objetivos que nortearam o trabalho parecem imprecisos. Ese
artigo desenvolve a hiptese de que os resultados apresentados (e no
os dados coletados) refetem mais uma avaliao da efcincia da ao
governamental na implementao de uma poltica pblica do que uma
anlise qualitativa dos projetos de assentamento.
A opo esratgica de apresentar os dados na forma de ndices con-
tribui para alimentar a desconfana em torno da realidade revelada pelo
diagnsico. do confronto entre o retrato que esses ndices oferecem
com as imagens que emergem da observao das aes de movimentos
sociais, assentados e agentes governamentais, que buscamos esruturar
nossa colaborao no esforo de criao de uma ferramenta gil de
acompanhamento da poltica de assentamento de famlias sem-terra no
mundo rural brasileiro.
Pol ti ca de reforma agrria ou
pol ti ca de assentamento?
Qualquer diagnsico da realidade social deve partir, primeiramente, do
esforo de compreenso dos processos hisricos que conformam esa
realidade. Muitos autores (Ferreira, 1994; Alentejano, 2002; Moreira,
Targino e Menezes, 2002) tm alertado para o fato de que o poder p-
blico no Brasil no tem e nunca teve uma poltica de reforma agrria de
abrangncia nacional, voltada para alterar signifcativamente a esrutura
fundiria do pas. O que se tem realizado nas duas ltimas dcadas so
Assentamentos em debate 43
aes pontuais de assentamento de famlias de trabalhadores sem-terra
em zonas de confito fundirio ou em reas que passam por processos
de decadncia econmica ou de reesruturao produtiva.
As aes que tm sido implementadas pelo governo federal a partir
de 1985, depois da reabertura poltica, conformam basicamente uma
poltica de assentamento de famlias sem-terra. Essas aes certamente
tm tido impacos importantes sobre o meio rural brasileiro e sobre o
desenvolvimento da agricultura familiar no pas, mas no podem ser
confundidas com reforma agrria.
O esudo A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira
problematiza a falta de consenso sobre os impacos dos assentamentos
no Brasil (como se esse consenso fosse possvel ou desejvel), mas deixa
de refetir criticamente sobre o prprio objeto de sua invesigao. Esa
lacuna difculta a defnio dos objetivos do esudo. H uma tenso entre
a anlise de implementao de uma poltica (dita de reforma agrria) e
a avaliao qualitativa dos projetos de assentamento. Mas, na verdade,
acaba-se por priorizar a anlise da interveno do governo (p.47).
Ao priorizar uma anlise da efcincia da ao governamental, a equi-
pe resonsvel pela realizao do diagnsico deixa na sombra aqueles
que talvez sejam os principais resonsveis pela formulao, defnio
de prioridades e pelo ritmo de implementao de uma poltica pblica
de assentamento de trabalhadores sem-terra no Brasil: os prprios tra-
balhadores organizados em movimentos sociais. Quando se diz que os
principais fatos polticos que infuenciaram a reforma agrria foram a
elaborao da Consituio de 1988 e as transies de governo (p.40),
joga-se para segundo plano as lutas camponesas no Brasil e os movimentos
sociais de trabalhadores sem-terra que emergiram novamente a partir
do fm da dcada de 1970, nas suas mais diferentes organizaes, em ar-
ticulao com insituies como Igreja Catlica, Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), universidades, partidos de esquerda, reivindicando a
implementao de uma poltica de reforma agrria com forte presena
na agenda governamental.
Ao se afrmar que so as esratgias gerenciais aplicadas no cumpri-
mento das metas que vo infuenciar a qualidade e efcincia das aes
(de governo) (p.3), demonsra-se, ainda, um desconhecimento sobre
44 NEAD Debate 8
as dinmicas confituosas e contraditrias relacionadas elaborao e
execuo de polticas pblicas, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar
do mundo, em que interesses antagnicos so mobilizados em disutas
e negociaes permanentes.
Que retrato sobre a qualidade dos assentamentos a pesquisa revela?
Foi afrmado que o retrato revelado pelo esudo coordenado por Gerd
Sparovek oferece um quadro disorcido sobre a realidade dos projetos de
assentamentos no Brasil, devido a algumas fragilidades tericas e meto-
dolgicas. Antes de refetir sobre esas fragilidades, necessrio indicar,
mesmo que sinteticamente, que retrato ese.
Analisando os resultados dos cinco ndices proposos pelo projeto,
possvel interpretar que:
A interveno feita pelo governo federal com visas a alterar a esrutura
fundiria, medida pelo ndice de efccia da reorganizao fundiria (IF),
foi quase um sucesso absoluto e obteve mdias nacionais de 95 (perodo
1985-1994) e 90 (1995-2001) num ndice que vai de 1 a 100. Esses valores
indicariam que a efcincia com que os latifndios so convertidos
numa matriz fundiria baseada em agricultura familiar elevada em
todo o Brasil (p.96).
O papel dos projetos de assentamento em garantir boa qualidade de vida
para as famlias assentadas em todo o pas relativamente baixo sendo
a mdia do ndice de qualidade de vida (QV) calculado em 63 para o pe-
rodo 1985-2001 e 54 para o perodo 1995-2001 e de que essa melhoria,
quando ocorre, lenta e incompleta.
A capacidade de organizao dos assentados apresenta os piores resultados
entre as cinco variveis analisadas pela pesquisa na forma de ndices. O
ndice de articulao de organizao social (IS) alcana valores mdios
de 42 para o perodo 1985-1994 e 40 para o perodo 1995-2001. A pesquisa
teria revelado que a organizao e articulao social nos projetos se con-
centram nas atividades reivindicatrias voltadas a servios e benefcios
sociais (p.106).
A efcincia com que o governo assume seus compromissos na implanta-
o dos projetos de assentamento at a sua consolidao fnal calculada
pelo ndice de ao operacional (AO) mais elevada que a efccia dos
assentados em se organizarem internamente. As mdias do AO foram de
a)
b)
c)
d)
Assentamentos em debate 45
64 para o perodo 1985-1994 e 46 para o perodo 1995-2001. Esses valores
refetiriam principalmente problemas com a titulao e consolidao
dos projetos de assentamento. Mas que isso poderia esar acontecendo
porque o governo prefere no emitir ttulos e consolidar (emancipar) os
projetos, mantendo-os sob sua tutela por longo perodo de tempo, para
evitar a eseculao imobiliria (p.111).
O ndice de qualidade do meio ambiente (QA) mais baixo nas regies
Norte e Nordese (61/63 e 60/63, resecivamente, para os perodos 1985-
1994 e 1995-2001) do que nas demais regies, enquanto que a mdia na-
cional foi calculada em 64 (perodo 1985-1994) e 66 (perodo 1995-2001).
Uma informao relevante desse ndice (que leva em conta basicamente
o esado de conservao das reas de Preservao Permanente e de Re-
serva Legal) de que, ao contrrio dos demais, os valores maiores foram
regisrados entre os projetos de assentamento mais recentes.
Chama ateno, particularmente, a imagem que tal retrato delineia
sobre a ao governamental e sobre o papel dos assentados no processo
de implementao dos projetos de assentamento. Enquanto o governo
federal tem desempenho timo (reorganizao fundiria) e mediano
(ao operacional), a ao dos assentados fca entre mediana e fraca
(organizao e articulao social). O esudo no interpreta, em conjunto,
os fatores que levaram queda nos valores dos ndices no perodo de
1995-2001 (exceo para o ndice de qualidade ambiental) em relao ao
perodo 1985-1994. Ese pior desempenho se deve a perdas nos nveis de
efcincia da ao governamental ou ao aumento da fragilidade organi-
zacional dos assentados?
Os retratos que emergem de outras observaes
O retrato revelado pela pesquisa A Qualidade dos Assentamentos da
Reforma Agrria Brasileira contrasa com outros retratos e imagens
consrudos sobre a realidade dos projetos de assentamento e sobre os
processos de implementao de uma poltica de assentamento de famlias
de trabalhadores rurais sem-terra no Brasil. Algumas dessas contradies
sero aqui indicadas sem que sejam aprofundadas as dimenses das
diferenas percebidas:
e)
46 NEAD Debate 8
A esrutura fundiria brasileira no parece passar por transformaes
to signifcativas como as que so indicadas pelos valores do ndice de
efccia da reorganizao fundiria. No livro sntese do esudo es indi-
cado que os ndices gerais de concentrao de terras no vm sofrendo
alteraes que indiquem que o acesso terra, por parte dos pequenos
produtores familiares, tenha sido facilitado, de forma global (p.37). Essa
afrmao se baseia, por exemplo, na variao do ndice de Gini referente
concentrao de terras no Brasil, que em 1985 era calculado em 0,858,
enquanto que em 1998 ese valor era de 0,843. Esudo realizado na zona
canavieira do Nordese (Moreira, Targino e Menezes, 2002) revelou
um impaco diferenciado da poltica agrria do governo federal sobre a
esrutura fundiria dos municpios da regio. O trabalho concluiu, no
entanto, que apesar da conquisa de fraes importantes do territrio
pela agricultura familiar, a execuo da poltica agrria do governo ainda
es longe de romper com o monoplio da terra nessa regio.
Pesquisa realizada em 1997 sobre a qualidade de vida em 12 projetos de
assentamento na Paraba, criados entre 1983 e 1995, com aplicao de
quesionrios com 820 famlias, indicou que 79% das famlias assentadas
consideravam que sua vida tinha mudado para melhor depois do assen-
tamento (enquanto 4% achavam que havia mudado para pior). Os dados
sobre sade, educao, moradia, gnero, organizao e participao
social indicaram melhoria em todos esses itens depois de implantado
o projeto de assentamento, ainda que muitos problemas persisissem
(Ieno Neto e Bamat, 1998). Por outro lado, o acesso educao, segundo
dados apresentados no diagnsico (p.103), por exemplo, no signifca
efetivamente melhoria da qualidade de vida. Pesquisa realizada entre
jovens de assentamentos localizados no municpio de Piles, no brejo
paraibano, revelou um atraso escolar mdio de quatro anos entre os
esudantes matriculados no ensino fundamental e precrias condies
em termos da qualidade de ensino oferecido a esses jovens. No entanto,
os flhos apresentam nveis de escolaridade mais elevados que os de seus
pais (Menezes, Oliveira e Miranda, 2004). Na sade, tambm identifcam-
se melhorias no acesso aos servios, contudo preciso esclarecer que o
acesso no implica necessariamente um servio de boa qualidade.
a)
b)
Assentamentos em debate 47
O retrato apresentado a partir do ndice de articulao e organizao social
focalizado por uma lente cuja lgica sempre exterior e formal, no
sendo considerados os interesses, confitos e a hisoricidade dos processos
e dos atores. A pesquisa realizada por Caume (2002) sobre o processo de
organizao nos projetos de assentamento revelou exatamente que outras
formas de associaes no formais so reafrmadas, como as esratgias
de resisncia cotidianas e as redes de ajuda que se formam no interior
dos projetos. As associaes formais resondem mais necessidade de
racionalizao burocrtica de disribuio de recursos no marco das
polticas pblicas governamentais do que s dinmicas organizacionais
dos assentados. A capacidade de mobilizao e ao coletiva demonsrada
por diversos grupos organizados de trabalhadores sem-terra em todo o
pas contrasa com os resultados negativos contabilizados para o IS.
A demora na implantao do projeto de assentamento, na liberao de
crdito, na demarcao das reas, associada s difculdades na relao
entre tcnicos do Insituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria
(Incra) e assentados (particularmente nos processos de tomada de deci-
so) tm sido apontadas como entraves importantes consolidao das
reas desapropriadas para assentamento de famlias sem-terra (Cunha,
1997). Pesquisa em andamento sobre a elaborao e implementao
dos Planos de Desenvolvimento do Assentamento (PDA) em projetos
localizados no esado da Paraba (Cunha, 2003) tem revelado dinmicas
pouco participativas na elaborao desses insrumentos, a ausncia de
um diagnsico da viabilidade social dos planos proposos e a pequena
infuncia dos PDA como orientadores das esratgias produtivas e de
consruo de um projeto de desenvolvimento para os assentamentos. No
surpreende, portanto, que entre os assentamentos criados entre 1995-2001,
o ndice de ao operacional (AO) tenha sido to baixo, primeiro devido
ao maior nmero de assentamentos criados nese perodo (aumentando
a demanda de trabalho dos tcnicos) e, segundo, devido ao tempo gaso
para liberao de crditos e implementao do PA.
No semi-rido nordesino, particularmente, a poltica de assentamentos
de famlias sem-terra no tem esado vinculada a aes que reduzam a
vulnerabilidade das pessoas em relao ao fenmeno da seca. Em al-
guns casos, o assentamento das famlias leva intensifcao no uso do
c)
d)
e)
48 NEAD Debate 8
solo e de outros recursos disonveis, processo que pode ter impacos
ambientais que potencializem o risco de degradao num ecossisema
frgil (Cunha, 1997). Por outro lado, observaes no sisemticas tm
revelado, em assentamentos localizados no brejo paraibano, que a exis-
tncia de reas de reserva legal e de proteo permanente no sintoma
de qualidade ambiental, j que muitas dessas reas foram intensamente
exploradas no passado e se apresentam atualmente basante degradadas.
Esudos empricos tm mosrado, ainda, que as iniciativas de conservao
ambiental cosumam ser mais consisentes jusamente naquelas reas em
que os problemas ambientais so mais graves, revelando que a exisncia
de esforos de conservao no pode ser tomado como indicador de
qualidade ambiental.
Por que os ndi ces propostos so frgei s?
Contrariando a crena de que os ndices sugeridos em A Qualidade dos
Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira so objetivos e tecnicamente
jusifcados e que podem auxiliar a adminisrao pblica a pautar a
geso de suas polticas (p.3), acreditamos que eles se consituem na maior
fragilidade do trabalho, contribuindo para a consruo de imagens dis-
torcidas e fundamentadas em pressuposos incompletos ou simplesmente
inadequados luz do conhecimento produzido no mbito das Cincias
Sociais nas ltimas dcadas.
O ndice de efccia da reorganizao fundiria (IF) deveria avaliar o
impaco dos projetos de assentamento na converso de latifndios im-
produtivos em reas de produo familiar (p.48) e revelaria o sucesso da
interveno governamental em alterar a esrutura fundiria (p.89). J in-
dicamos acima as difculdades em tomar o IF como indicador de alterao
da esrutura fundiria brasileira. Mas ser que ele um indicador confvel
da converso do latifndio em reas de produo familiar? A pesquisa
revela importantes informaes sobre o nmero de famlias morando
nos projetos de assentamento, percentual de parcelas abandonadas e rea
til ocupada nesses projetos (elementos que compem o IF), mas esses
nmeros no parecem sufcientes para avaliar a converso do latifndio
improdutivo para a agricultura familiar. E, mesmo sendo possvel supor
Assentamentos em debate 49
que os lotes disribudos entre os assentados esejam produzindo nos
marcos da agricultura familiar, no h elementos na composio desse
ndice que informem sobre a natureza da ocupao das reas nem sobre
a organizao do trabalho no seio dessas unidades produtivas de modo
a confrmar essa hiptese.
E, de todo modo, resaria ainda em aberto, se queremos falar em
efccia, a queso da susentabilidade dese novo modelo, que poderia
ser expresso em termos no apenas de rentabilidade e produtividade,
mas das condies de fnanciamento e comercializao da produo,
para que pudssemos avaliar a transformao dos latifndios em reas
consolidadas de produo familiar. Queses que so ainda mais rele-
vantes quando sabemos que muitos dos projetos de assentamento eso
localizados em reas que passam por processos de decadncia econmica
ou de reesruturao produtiva.
O ndice de qualidade de vida (QV) seria um indicador do acesso a
servios (educao, sade, transorte, saneamento) e condies de mo-
radia nos projetos de assentamento. Os resultados revelam indicadores
mais altos para os projetos de assentamentos localizados na regio Sul,
enquanto os valores mais baixos foram encontrados nas regies Norte e
Nordese, seguindo o mesmo padro do ndice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH). Mais uma vez, as informaes apresentadas sobre o acesso
a servios e condies de moradia nos assentamentos so importantes,
mas h problemas na concepo do QV. O mais evidente deles defnir
qualidade de vida como acesso a alguns servios bsicos, quando outros
elementos poderiam ser legitimamente reivindicados como essenciais e
necessrios na composio desse ndice, tais como acesso alimentao
e segurana. Poder-se ia dizer que imprescindvel numa pesquisa de
cunho qualitativo a contextualizao da trajetria de vida dos sujeitos, na
medida em que o acesso terra (morar e trabalhar) e aos servios sociais
bsicos implica em melhoria concreta da qualidade de vida se comparada
situao anterior, em geral sem-terra, sem teto e sem trabalho.
Outro problema a vinculao sugerida entre a criao do projeto
de assentamento e a qualidade de vida das famlias. No mesmo perodo
analisado pela pesquisa, o governo federal tem levado a cabo polticas
abrangentes nas reas de educao e sade, com visas universalizao
50 NEAD Debate 8
do acesso a esses servios jusamente dois dos elementos com pesos
maiores na defnio do QV. A avaliao sobre a melhoria da qualidade de
vida no se resume ao acesso aos bens privados e pblicos, mas necessita
de insrumentos terico-metodolgicos capazes de compreender as in-
sufcincias, esecifcidades regionais e qualidade dos servios presados
(Nussbaum e Sen, 1996; Gomes, 2002).
O ndice de articulao de organizao social (IS) certamente o que
apresenta maiores problemas. A composio do ndice privilegia o que
muitos esudiosos tm chamado de relaes verticais, ou seja, relaes
(normalmente de autoridade e dependncia) entre indivduos com dife-
rentes posies sociais globais, em detrimento das relaes horizontais de
reciprocidade e cooperao entre os prprios assentados, como meio de
desenvolver a habilidade das pessoas dentro da comunidade em trabalhar
juntas para alcanar objetivos comuns e das lideranas locais em facilitar a
comunicao e o trabalho coletivo (Putnam et alli, 1994; OBrien et alli, 1998).
As parcerias externas so o elemento com maior peso no clculo do
indicador. O IS considerou ainda como indicador, a participao dos
assentados em associaes e cooperativas e a exisncia de produo
coletiva e comercializao integrada. Qualquer ndice que busque infor-
mar sobre articulao e organizao social no pode deixar de levar em
conta um elemento fundamental: os processos de tomada de deciso.
O nmero de parcerias com organismos no diretamente relacionados
reforma agrria no indicador de organizao social, principalmente
quando se desconhece a qualidade das relaes entre os parceiros. So
relaes paternalisas, clientelisas? Ou so relaes em que os assentados
preservam a autonomia que realmente conta, que a de ter voz ativa na
tomada de decises sobre queses que lhes interessam diretamente?
Da mesma maneira, a simples participao em associaes e coope-
rativas um elemento muito frgil para fundamentar uma avaliao da
organizao social de um grupo. Principalmente quando se sabe que as
associaes e cooperativas exisentes nos projetos de assentamento so
criadas por exigncia do Incra e muitas vezes no refetem as insncias
efetivas de representao e organizao dos assentados. Do mesmo modo,
a crena no fato de que a exisncia de reas de produo coletiva ou de
iniciativas de comercializao conjunta de produtos na prtica, impor-
Assentamentos em debate 51
tantes fontes de confito e de desmobilizao possam ser indicadores
determinantes da qualidade da organizao social s pode se fundamentar
num conhecimento pouco aprofundado das dinmicas sociais. Uma alter-
nativa a esses elementos seria a invesigao do hisrico de mobilizao
e das aes coletivas empreendidas pelos assentados, indicadores mais
confveis de organizao social que os utilizados na pesquisa.
O ndice de ao operacional (AO) deveria avaliar o cumprimento das
obrigaes do Incra ou do gesor local da poltica agrria e fundiria com
os projetos de assentamento (p.51). De acordo com os valores calculados
para o AO, possvel interpretar que a qualidade da ao dos tcnicos e
dos gesores pblicos da poltica de assentamentos caiu signifcativamente
no perodo de 1995-2001, comparado ao perodo de 1985-1994. O problema
que esse indicador no leva em conta uma varivel imprescindvel para
qualquer anlise de efcincia dos procedimentos de geso: o tempo.
E, nese sentido, os projetos mais antigos podem apresentar valores mais
elevados nesse ndice simplesmente porque eso implantados h mais
tempo, mas no somos informados sobre o tempo gaso para que as
obrigaes dos rgos gesores fossem cumpridas.
Mas h ainda uma outra lacuna importante no clculo desse ndice: a
ausncia de qualquer esimativa sobre a qualidade das aes implemen-
tadas. Dizer que os crditos insalao e consruo foram liberados no
informa muito sobre o papel do rgo gesor no planejamento dessa ins-
talao, do ncleo habitacional e da consruo das moradias. Da mesma
maneira que saber que o Plano de Desenvolvimento do Assentamento
es pronto no revela muito sobre a aplicabilidade desse plano. Com base
nesses elementos ausentes no clculo do ndice de ao operacional,
possvel perguntar: a demora na emisso dos ttulos da terra e na eman-
cipao dos assentamentos resultado de uma esratgia deliberada para
evitar eseculao imobiliria ou das difculdades em se cumprir prazos
e realizar tarefas fundamentais para que esses processos ocorram?
O ndice de qualidade do meio ambiente (QA) considera basicamente
o esado de conservao das reas de Preservao Permanente (APP)
e de Reserva Legal (RL), tomadas como reas de interesse prioritrio
na preservao dos recursos naturais. Ainda que seja importante saber
como se encontra a conservao das APP e das reas de reserva, esses
52 NEAD Debate 8
dois elementos no so sufcientes como indicadores de qualidade do
meio ambiente, mesmo levando em conta o grande impaco dos servios
ecolgicos presados pela cobertura foresal. Esse ndice poderia incluir
(e o modelo de levantamento de dados proposo pelo trabalho permite
a coleta) informaes sobre conservao do solo (fertilidade, processos
erosivos), prticas agrcolas (sisemas de pousio, corte e queima, uso de
fertilizantes), oferta e qualidade da gua, entre outros. Mesmo no que
diz reseito cobertura foresal, preciso uma anlise qualitativa das
foresas protegidas pelas APP e RL (so primrias, secundrias, sofreram
explorao madeireira) e uma anlise da explorao extrativa do potencial
de recursos no madeireiros.
O debate acadmico e o campo de disuta poltica sobre o que se quer
consruir, portanto, sobre o sentido que se quer dar reforma agrria
exigem que, ao se defnir os critrios de escolha desses ndices, se es-
clarea o posicionamento dessa escolha frente a esse debate. Omitir ou
escamotear esse posicionamento no garante uma hipottica neutralidade
da pesquisa e no ajuda o debate avanar.
Algumas reflexes metodolgi cas
A pesquisa coordenada por Gerd Sparovek assume duas importantes
posies metodolgicas: 1) que as esratgias metodolgicas escolhidas
vo refetir a realidade de forma imparcial e 2) que a metodologia usada
permitir avaliar asecos qualitativos dos projetos de assentamento (p.2).
No parece necessrio argumentar extensivamente sobre a impossibili-
dade de qualquer metodologia de pesquisa resultar numa compreenso
imparcial da realidade social. Essa uma das poucas queses em que
h consenso entre pesquisadores vinculados s Cincias Sociais. O pro-
blema adicional com o pressuposo da imparcialidade que ele fecha
a alternativa de uma apreciao crtica das possibilidades e dos limites
oferecidos por nossas escolhas metodolgicas. De todo modo, o mrito
da pesquisa social no avaliado em termos dos retratos imparciais que
possa gerar, mas da contribuio que faz compreenso e interpretao
de elementos selecionados da realidade social.
Assentamentos em debate 53
Mais relevante, porm, a discusso sobre o carter qualitativo desa
pesquisa. E no parece haver dvida de que o extensivo trabalho de coleta
de dados oferece como contribuio dados quantitativos (mesmo porque
a esratgia metodolgica prpria das metodologias quantitativas). Uma
melhor compreenso das diferenas metodolgicas entre esratgias
qualitativas e quantitativas resolveria alguns dos equvocos presentes no
trabalho. Dados qualitativos no so aproximaes da realidade ou de
quantidades exatas, mas uma outra forma de quesionar essa realidade
e de apresentar os resultados desse quesionamento.
importante ressaltar, porm, que uma metodologia quantitativa
pode oferecer dados sobre qualidades de processos. E nesse campo
que o trabalho apresenta as lacunas mais importantes e em que pode
avanar mais, incluindo no quesionrio, perguntas que regisrem per-
cepes e informaes sobre a qualidade dos servios, das aes, das
esratgias. Buscar saber (e fazer o regisro dessas informaes em termos
de quantidades), por exemplo, as razes que levaram algumas famlias
a abandonar seus lotes e migrarem para outras regies; perguntar o que
os informantes acham da qualidade dos servios de educao e sade e
das relaes esabelecidas com os tcnicos do Incra.
Nese sentido, o quesionrio que foi elaborado de maneira criativa e
basante competente, com solues para as dvidas, as incertezas poderia
incluir queses que realmente revelassem a opinio dos informantes
sobre alguns asecos da implantao dos projetos de assentamento. At
o momento, e ao contrrio do que es explicitado no livro A Qualidade
dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira (p.51-54), no foram
coletadas as diferentes opinies de assentados, organizaes e poder
pblico sobre as experincias que vivenciaram. Mas esse silncio pode
ser facilmente quebrado em um prximo levantamento.
Consi deraes fi nai s
A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira representa
um esforo importante na busca por insrumentos mais geis de diag-
nsico das dinmicas sociais relacionadas poltica de assentamento de
famlias de trabalhadores rurais sem-terra no Brasil. Esa importncia se
54 NEAD Debate 8
deve, principalmente, base de dados que a pesquisa gerou, que poder
alimentar e insirar muitos esudos sobre a problemtica e ser o passo inicial
na organizao de sries hisricas que permitam analisar os impacos, as
transformaes, avanos e recuos desa poltica ao longo do tempo.
Por outro lado, no possvel deixar de ressaltar que o esudo assu-
me alguns pressuposos quesionveis e que no apresenta efetivamente
um retrato da qualidade dos assentamentos nem da implementao da
poltica pblica. Mesmo porque os ndices que so apresentados na pu-
blicao encerram importantes fragilidades, contribuindo para disorcer
a realidade que se pretende retratar. Ainda assim, o esforo j feito pode
ser aperfeioado e servir de base para futuros diagnsicos. Os dados
devem ser apresentados no relatrio-sntese agregados, mas no na for-
ma de ndices. Esses ndices podem ser proposos em artigos cientfcos,
mas no podem ocultar o mais importante nesse trabalho, que so as
informaes coletadas.
Finalmente, importante dizer que qualquer diagnsico dos assen-
tamentos brasileiros no pode deixar de tratar seriamente uma queso
fundamental: a multiplicidade de esaos consrudos, em que asecos
sociais, econmicos, polticos, culturais e ecolgicos delineiam as marcas
de nossas diferenas regionais e intra-regionais. As paisagens dos as-
sentamentos no Brasil no so diferentes apenas em termos dos olhares
diversos que sobre elas se debruam, mas tambm dos prprios elementos
(e dos arranjos entre eles) que as compem. As implicaes ambientais
da poltica de assentamentos nas regies Sudese e Norte, por exemplo,
so basante diferenciadas e no podem ser tratadas igualmente em ter-
mos da criao de reas de preservao permanente e de reserva legal.
Da mesma maneira, se queremos avaliar os benefcios que uma poltica
de assentamentos traz em termos da qualidade de vida, no podemos
partir dos mesmos critrios ao analisar os projetos localizados na regio
Sul e os situados no semi-rido nordesino. preciso criatividade para
incorporar as diferenas nas metodologias de coleta e anlise dos dados
sobre a poltica de assentamentos no Brasil.
Assentamentos em debate 55
Bi bli ografia
Alentejano, P. R. Reforma agrria e pluriatividade no Rio de Janeiro:
repensando a dicotomia rural-urbana nos assentamentos rurais. Rio de
Janeiro: CPDA/UFRRJ, 1997. Dissertao de mesrado.
Castro, M. H. Reforma agrria e pequena produo. Campinas:
IE/Unicamp, 1992. Tese de doutorado.
Caume, D. J. A Tessitura dos assentamentos de reforma agrria: dis-
cursos e prticas insituintes de um esao agenciado pelo poder. Campinas:
IFCH/Unicamp, 2002. Tese de doutorado.
Cunha, L. H. Manejo e conservao de recursos comuns, desempenho
insitucional e implementao dos planos de desenvolvimento em assen-
tamentos do semi-rido nordesino. Campina Grande: Departamento de
Sociologia e Antropologia, 2003. Projeto de Pesquisa.
_______. Vulnerabilidade seca e susentabilidade nos assentamentos de
reforma agrria do semi-rido nordesino. Campina Grande: 1997. mimeo.
Dissertao de mesrado.
Fao. Indicadores scio-econmicos dos assentamentos de reforma
agrria. Rio de Janeiro: FAO, 1992.
Ferrei ra, B. Esratgias de interveno do Esado em reas de
assentamento: as polticas de assentamento do governo federal. In: Me-
deiros, Leonilde et al. Assentamentos rurais: uma viso interdisciplinar.
So Paulo: Unes, 1994.
Gomes, R. A. Representaes sociais e culturais da qualidade de
vida: o caso das famlias do permetro irrigado de So Gonalo. Revisa
Razes, Campina Grande, v.22, n.2, 2002.
Ieno, G. N e Bamat, T. (orgs.) Qualidade de vida e reforma agrria
na Paraba. Joo Pessoa: Unitrabalho/UFPB, 1998.
Lei te, S.; Heredi a, B.; Medei ros , L.; Palmei ra, M.; Ci n -
t r o, R. Impacos dos assentamentos: um esudo sobre o meio rural
brasileiro. Braslia: Insituto Interamericano de Cooperao para a Agri-
cultura: Ncleo de Esudos Agrrios e Desenvolvimento Rural; So Paulo:
Unes, 2004.
Menezes, M. A.; Oli vei ra, M. G. C. e Mi randa, R. S. Juven-
tude em assentamentos rurais. Recife: 2004. (24
a
Reunio da ABA)
56 NEAD Debate 8
Morei ra, E.; Targi no, I e Menezes , M. Esao agrrio, mo-
vimentos sociais e ao fundiria na zona canavieira do Nordese. Revisa
Fundaj, Recife, v.19, n.2, 2002.
Ne v e s , D. P. Agricultura familiar: queses metodolgicas. Revisa
da ABRA. Reforma Agrria, Campinas, v.25, ns.2/3, p.21-36, 1995. Nmero
esecial sobre Agricultura Familiar.
_______. Os dados quantitativos e os imponderveis da vida social.
Revisa Razes, Campina Grande, n.17, 1998.
Nussbaum, M. C. e SEN, A. La calidad de vida. Mxico (DF): Fundo
de Cultura Econmica, 1996.
O bri en, D. J.; Rae de ke , A. e Has si nger, E. W. Te Social
networks of leaders in more or less viable communities six years later: a
research note. Rural Sociology, v.63, n. 01, 1998.
Putnam, R. D. et al. Making democracy work: civic traditions in
modern Italy. Princenton: Princeton University Press, 1994.
Romei ro, A. R.; Guanzi rolli , C.; Palmei ra, M.; e Lei te,
S. (orgs.) Reforma agrria produo, emprego e renda O relatrio da
FAO em debate. Vozes/IBASE/FAO, 1994.
Sparovek, G. (org.) A Qualidade dos assentamentos da reforma
agrria brasileira. So Paulo: Pginas & Letras, 2003.
Schi mi dt, B.V.; Mari nho, D. N. e Couto, S. L. R. (Orgs) Os
Assentamentos de reforma agrria no Brasil. Braslia: Universidade de
Braslia, 1998.
Vei ga, J. E. da. Delimitando a agricultura familiar. Revisa da ABRA.
Reforma Agrria, Campinas, v.25, ns. 2/3, p.21-36,1995. Nmero esecial
sobre Agricultura Familiar.
O signicado dos assentamentos
de reforma agrria no Brasil
Srgio Sauer
Doutor em Sociologia pela Universidade de Braslia (UnB) e mestre em Filosofa
da Religio pela Universidade de Bergen/Stavanger (Noruega). Trabalha
como assessor parlamentar para a senadora Helosa Helena (AL).
2.2
58 NEAD Debate 8
Cada lugar , sua maneira, o mundo.
Cada lugar, irrecusavelmente imerso numa comunho
com o mundo, torna-se exponencialmente diferente dos demais.
Mi lton Santos
Introduo
E
se texto uma refexo crtica, resondendo a uma provocao do
Ncleo de Esudos Agrrios e Desenvolvimento Rural (NEAD), sobre
a metodologia e os dados de pesquisa, realizada em 2002, e seus resultados,
publicados no livro A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria
Brasileira, em 2003. Ese um exerccio procurando esabelecer dilogo
entre a consante preocupao com a efetividade na implementao de
polticas pblicas e a importncia da reforma agrria para as pessoas que
lutam pela terra.
Nas minhas invesigaes sobre as motivaes e signifcados da luta
pela terra, encontrei muita coragem, sabedoria e coraes cheios de es-
perana e sonhos. Em meio a tantas viagens e jornadas um verdadeiro
nomadismo geogrfco e social em busca de trabalho e condies de vida
regisrei hisrias hericas, expresses vivas do signifcado da luta pela
terra. A fala de dona Gloraci, ento uma acampada de Gois, resume
esse signifcado: Terra tudo; terra paz, vida! A luta pela terra uma
coisa muito clara: o susento da vida!
Ese texto es dividido em quatro partes, sendo que as trs primeiras
abarcam as discusses e queses proposas pelo NEAD, problematizando
temas relacionados com a metodologia utilizada e com resultados da
pesquisa. O ponto de partida so os assentamentos de reforma agrria e
Assentamentos em debate 59
as difculdades metodolgicas para mensurar a importncia deses lugares,
nicos e exisenciais, na consruo de uma outra ruralidade no Brasil.
Tendo a expresso de dona Gloraci como referencial, a ltima parte
uma refexo sobre o sentido da luta pela terra para as pessoas que se
aventuram nessa jornada. A terra ganha um signifcado, real e simblico,
de um lugar de trabalho, moradia e produo, portanto, de reproduo
social camponesa.
Os assentamentos de reforma agrria
O assentamento um esao, geografcamente delimitado, que abarca
um grupo de famlias benefciadas por programas governamentais de
reforma agrria. A consituio do assentamento resultado de um de-
creto adminisrativo do governo federal que esabelece condies legais
de posse e uso da terra. O assentamento fruto de um ato adminisrativo
que limita o territrio, seleciona as famlias a serem benefciadas, etc.,
sendo, portanto, artifcialmente consitudo, criando um novo ambiente
geogrfco e uma nova organizao social (Carvalho, 1999).
1
A criao do assentamento , por outro lado, produto de confitos, lutas
populares e demandas sociais pelo direito de acesso terra. A mobilizao
e organizao sociais, o enfrentamento com os poderes polticos locais e
nacionais, as disutas com o latifndio e com o Esado e os quesionamen-
tos das leis de propriedade caracerizam o que Bourdieu defniu como as
lutas pelo poder de di-viso, as quais so capazes de esabelecer territrios,
delimitar regies, criar fronteiras (Bourdieu, 1998, pp. 113ss).
O esabelecimento de fronteiras geogrfcas uma defnio legtima e
um resultado das lutas pelo poder de ver e fazer crer (produto de uma
diviso a que se atribuir maior ou menor fundamento na realidade,
Bourdieu, 1998, p. 114). Ese poder esabelece divises do mundo social, cria
diferenas culturais e gera identidades (Bourdieu, 1996, p. 108), permitindo
1 Nos debates e formulaes sobre a importncia da luta pela terra e possveis impacos de uma
reforma agrria no Brasil, os projetos de assentamento tm sido objetos, peculiares e diferenciados,
de diversos esudos. Ver, por exemplo, as discusses de Medeiros e Eserci, 1994; Palmeira e Leite,
1998; Carvalho, 1999, esecialmente a recente publicao de Leite et alii, 2004.
60 NEAD Debate 8
tratar as reas de assentamento como realidades disintas, portanto, como
unidades de anlise (uma di-viso), um objeto peculiar de esudo.
2
Esa disino, no entanto, no signifca isolamento das relaes so-
ciais e polticas locais e regionais, como so tratados os assentamentos na
pesquisa em discusso. As anlises sobre a situao, esecialmente sobre a
susentabilidade dos projetos, devem ser feitas considerando tambm os
contextos sociais, polticos, econmicos, incluindo processos hisricos
de consituio dos projetos e de insero no seu entorno.
Ese isolamento no rompido apenas com esforos tericos para
resgatar o processo hisrico de concentrao da propriedade fundiria e
as lutas sociais pela posse da terra. Os projetos de assentamento devem ser
analisados e avaliados no seu contexto geogrfco, considerando fatores
sociais, econmicos, polticos, culturais e condies agrcolas, climticas,
mercadolgicas, etc.
A converso de um latifndio, de uma grande rea de terra improdu-
tiva em um lugar de produo e vida para dezenas, centenas de famlias
apenas um aseco da reorganizao fundiria. Esa queso tem im-
pacos, inclusive econmicos, que transcendem as fronteiras dos projetos,
transformando a ruralidade de esaos vazios (Wanderley, 2000).
3
Um aseco desconsiderado na pesquisa jusamente o impaco da
exisncia deses projetos no seu entorno. Esse um aseco central
porque, segundo Leite:
Os assentamentos tendem a promover um rearranjo do processo produtivo nas
regies onde se insalam, muitas vezes caracerizada por uma agricultura com
baixo dinamismo. A diversifcao da produo agrcola, a introduo de atividades
mais lucrativas, mudanas tecnolgicas, refetem-se na composio da receita dos
2 Srgio Leite, defendendo a necessidade de manter os assentamentos como objetos de esudos peculiares,
afrma que de um ponto de visa mais esritamente sociolgico, identifc-los, por suas caracersicas
formais, pequena produo, implica em perder de visa os processos de confito, gerao de utopias,
peculiaridades da ao governamental, etc., que os caracerizam (Leite, 2000, p.40).
3 O latifndio promotor de deslocamento geogrfco por meio do xodo rural, portanto, ins-
trumento e lugar de excluso social e marginalizao poltica. Segundo Wanderley (2000), eses
ento criam esaos vazios e lugares ausentes de signifcados. A reforma agrria deve esabelecer
novas bases produtivas, sociais, polticas, culturais e organizacionais, rompendo com ese vazio e
criando novas dinmicas socioambientais no meio rural, uma nova ruralidade.
Assentamentos em debate 61
assentados afetando o comrcio local, a gerao de imposos, a movimentao
bancria, etc., com efeitos sobre a capacidade do assentamento se frmar politica-
mente como um interlocutor de peso no plano local/regional (Leite, 2000, p. 48).
Esses impacos no se resumem a um simples aumento da produo
agropecuria e o conseqente aquecimento da economia local , mas a
uma srie de mudanas sociais e polticas, muitas vezes mudando o eixo
de poder e a correlao de foras locais e regionais.
O assentamento deve ser compreendido tambm como uma encruzilha-
da social (Carvalho, 1999, p. 10), portanto, um esao social e geogrfco
de continuidade da luta pela terra. o lugar onde diferentes biografas se
encontram ou ampliam os encontros iniciados nos acampamentos e
iniciam novos processos de interao e identidade sociais, gerando novos
atores sociais e polticos. Esses atores tero como principais fatores de me-
diao real e simblica (interna e externa) a terra, o trabalho e a produo.
Alm do acesso terra e produo, as interaes sociais so mediadas
por processos organizativos internos aos projetos, resultando na criao
de mecanismos produtivos como associaes, cooperativas, grupos de
produo, roas ou invesimentos comunitrios, etc. Esses processos e
mecanismos no podem ser preteridos, em nenhum tipo de avaliao
sobre a organizao social dos projetos de assentamento, em detrimento
de parcerias externas.
4
Essas parcerias podem revelar graus de insero ou de isolamento
dos projetos em relao aos seus contextos, mas a sua exisncia no
necessariamente signifca independncia, ao contrrio, pode representar
graus elevados de atrelamento poltico. As parcerias tambm no so
isentas (e no podem ser avaliadas como tal) de confitos, esranhamentos,
tenses e disutas, esecialmente no caso dos assentamentos, resultados
de confitos polticos com poderes locais consitudos.
fundamental, no entanto, no confundir viabilidade econmica
com necessidades concretas e demandas sociais por ocupao, trabalho
4 Apesar desa opo metodolgica, a discusso dos resultados da pesquisa sobre o ndice de
articulao de organizao social no retoma a nfase nas parcerias externas. O texto apenas
divide os dados em organizao para a reivindicao de benefcios sociais e para a produo, com
melhores ndices no primeiro caso.
62 NEAD Debate 8
e renda. Primeiro, essa viabilidade geralmente reduzida a uma equao
que procura avaliar retorno econmico, em termos de produo para o
mercado, em funo dos invesimentos governamentais. Segundo, essa
viabilidade es calcada em um nvel de exigncia (de produo, de au-
tonomia, de taxa de retorno) que nem a chamada agricultura familiar
consolidada capaz de resonder.
A produo e a conseqente gerao de renda um elemento
central para a sobrevivncia e melhoria das condies de vida das
famlias, conseqentemente um desafo para a efetividade das aes de
reforma agrria. A produo assume inclusive um valor simblico o
acesso terra cria trabalhadores produtivos e media uma relao ou
interao social com o entorno dos projetos, o que muito diferente da
tal viabilidade econmica.
Apesar da importncia social e simblica da produo, os mecanismos
e insituies no produtivas como igrejas, escolas, centros comunitrios
e de lazer e grupos de trabalho tm um peso signifcativo na organizao
e susentabilidade dos projetos e na interao do grupo social. Esses
mecanismos so importantes no s quando consitudos com parcerias
externas, mas esecialmente quando aglutinam e articulam fora social e
poltica, transformando o prprio assentamento ou os seus mecanismos
internos em ator e/ou interlocutor local e regional.
A autonomia no es, portanto, baseada na independncia dos rgos
e programas governamentais a famosa discusso sobre a emancipao ,
mas no grau de organizao e capacidade de mobilizao social e poltica
das famlias assentadas. Conseqentemente, emancipao no se resrin-
ge a um momento ou a um debate sobre , a partir do qual cessaria o
direito de acesso a polticas pblicas, mas diz reseito consituio de
sujeitos de suas prprias biografas (Giddens, 1991).
A questo metodolgi ca nas avaliaes
de aes de reforma agrria
A controvrsia disseminada na sociedade e na opinio pblica brasileira
sobre os alcances e limites da reforma agrria no Brasil demanda avalia-
es abrangentes, dados e resultados com carter nacional. Esa pesquisa
Assentamentos em debate 63
censitria contribui signifcativamente para esse debate, fornecendo um
panorama abrangente dos projetos de assentamento.
A pesquisa tinha como um de seus objetivos diagnosicar a realidade
dos assentamentos para gerir polticas pblicas. Esse objetivo levou a di-
mensionar um levantamento abrangente, de alcance nacional, recolhendo
dados de mais de quatro mil projetos,
5
o que muito diferente de outros
esudos qualitativos, exausivos, mas geografcamente delimitados.
importante ter claro, no entanto, os limites e defcincias dese tipo de
levantamento.
6
Os ndices e ponderaes resultantes do um quadro geral
que diz muito pouco sobre a realidade dos projetos em esudo. , inclusive,
duvidoso o desejo de criar ndices objetivos capazes de pautar a geso
de polticas pblicas. As diversidades regionais e as demandas esecfcas
da decorrentes exigem polticas direcionadas, inclusive em termos da
quantidade de recursos a ser alocada nos diferentes programas.
Condizente com esa opo censitria, o quesionrio utilizado bas-
tante objetivo e dinmico, o que permitiu uma certa preciso nos dados
coletados. As queses fechadas, coletando dados objetivos, permitiram um
rpido processamento das informaes obtidas,
7
por meio de entrevisas
feitas com representantes do governo federal diretamente envolvidos com
o tema (Incra e gesores de polticas pblicas), representantes dos movi-
mentos sociais e assentados (lideranas de associaes e cooperativas).
O levantamento foi realizado em 4.340 projetos em todo o pas, mas a publicao no esclarece
como a equipe defniu ese universo de pesquisa, inclusive no esecifca a partir de que esgio
foi considerado como assentamento ou se ese nmero inclui projetos de assentamento feitos por
governos esaduais. No fca claro tambm se ese universo inclui as reas adquiridas por progra-
mas de compra e venda de terras como o Cdula da Terra e o Banco da Terra, os quais possuem
dinmicas sociais e polticas basante diferenciadas dos projetos resultantes das desapropriaes
para fns de reforma agrria.
A mesma resrio apresentada pela equipe para jusifcar as difculdades metodolgicas para
aferir a renda (diversidade de sisemas de produo e diferenciaes familiares e individuais)
pode ser esendida para os demais ndices e a forma diferenciada com que eses se do em cada
projeto ou em cada famlia benefciada.
Alguns asecos problemticos na aplicao deses quesionrios so: o tempo para a coleta dos
dados e a utilizao dos tais empreendedores sociais como principais resonsveis pela aplicao
dos quesionrios na pesquisa de campo. Certamente, a objetividade dos dados pode ter minimi-
zado os riscos de uma interveno de pessoas que so resonsveis tambm pela execuo das
polticas pblicas.
64 NEAD Debate 8
Por outro lado, esses quesionrios explicitam a ausncia de qualquer
referncia situao anterior aos assentamentos e impacos sociais, eco-
nmicos e polticos no seu entorno. O insrumento no coletou dados
para esabelecer uma base de comparao (no h dados comparativos
com o entorno, com agricultores familiares prximos), bem como no
coletou informaes para avaliar o processo de luta que gerou os pro-
jetos de assentamento.
Um aseco metodolgico importante da pesquisa foi a opo de avaliar
os projetos utilizando ndices (e indicadores) como nveis de qualidade
de vida, de organizao social, de efccia da reorganizao fundiria e
de preservao ambiental. So elementos extremamente importantes,
rompendo com a freqente reduo da importncia (e o sucesso) dos
assentamentos sua dimenso econmica e produtiva (a j mencionada
viabilidade econmica).
As concluses do trabalho refetem bem essa opo, inclusive com a
consatao de que as polticas governamentais acabam privilegiando a
alocao de recursos para a aquisio de reas (arrecadao de terras) e
assentamentos de famlias em detrimento de invesimentos em aes que
contribuem para melhorar as condies de vida ou o desenvolvimento
econmico dos projetos. O resultado desa opo um imenso passivo
que difculta a vida das famlias, contribuindo decisivamente para o baixo
rendimento de muitos projetos.
A pesquisa, no entanto, no deixa claro pelo menos iso no fca
explcito na publicao quais foram os critrios utilizados para defnir
os indicadores (ou fatores) capazes de mensurar ou avaliar os ndices ou
asecos selecionados. Alm do j mencionado peso dado s parcerias
externas em detrimento da organizao interna (para avaliar a articulao
e organizao social), no fca claro porque os pesquisadores optaram, por
exemplo, por critrios como a disonibilidade de escolas e no os nveis de
escolaridade das pessoas para medir a qualidade de vida nos assentamentos.
A opo pelo cumprimento de metas de assentamento de famlias
como o principal fator para avaliar a efccia da reorganizao fundiria,
por outro lado, atende mais a uma certa presao de contas sobre os
insrumentos pblicos capacidade de execuo e implantao do projeto
Assentamentos em debate 65
do que a uma real avaliao da situao dos projetos.
8
A incluso do ndice
de ao operacional torna essa tendncia da pesquisa ainda mais evidente.
Em relao reorganizao fundiria, a equipe inclusive considerou
positiva a exisncia de um nmero maior de famlias do que a capacidade
inicial de assentamento, como aconteceu nas regies Sul e Sudese nos
projetos antigos (implantados antes de 1995). Na verdade, a agregao
de mais pessoas e famlias nos lotes pode, ao contrrio, signifcar um
processo de minifundizao dos projetos, ou seja, mais pessoas do que
a capacidade produtiva da rea utilizada.
Sem sombra de dvidas, a opo metodolgica ponto de referncia
da avaliao foi valorizar a disonibilidade e a implantao de servios
pblicos de sade, educao, moradia e infra-esrutura bsica (gua
potvel, esgoto, eletricidade) nos projetos. Isso revela uma avaliao da
execuo de polticas pblicas e no os seus impacos nos assentamentos,
ou seja, centra esforos em uma possvel presao de contas das aes
e programas governamentais.
Como refexo de uma poltica governamental, os assentamentos
no podem ser avaliados sem considerar os invesimentos pblicos. A
realidade deses projetos no , no entanto, apenas refexo do sucesso
ou fracasso das aes governamentais. Essa disino no fca clara no
processo de coleta e anlise das informaes obtidas sobre os assenta-
mentos de reforma agrria.
A pesquisa faz certa confuso entre uma avaliao dos assentamentos
em si (sua dinmica interna, sua capacidade de gerar renda e melhorar
as condies de vida das pessoas) e uma avaliao das prprias polticas
governamentais (se assentou o nmero de famlias que a rea comporta;
se implantou escolas ou posos de sade, etc). Prevaleceu um dos objetivos
da pesquisa que era fornecer ndices objetivos e tecnicamente jusifcados
a partir dos quais a adminisrao pblica poder vir a pautar a geso
de suas polticas.
8 O prprio recorte hisrico, dividindo os dados em apenas dois perodos (de 198 a 1994 e de 199
a 2001) claramente esabelece a adminisrao pblica federal (governos nacionais e suas polticas
fundirias) como referncia privilegiada da pesquisa. Mesmo nesa perseciva, considerar o
primeiro perodo como um bloco hisrico nico outro problema dese recorte da pesquisa.
66 NEAD Debate 8
Resumidamente, esa preferncia no se consitui em um grave
problema da pesquisa. Uma vez assumida essa perseciva, no entanto,
deveria levar a busca de dados capazes de realmente avaliar a efccia e
a efcincia das aes governamentais de reforma agrria. Signifcaria
incluir, ainda, outros asecos e dados como, por exemplo, montante de
recursos pblicos aplicados, formas de aplicao (em que aes, perodos
de liberao dos recursos, etc.), adminisrao pblica dos projetos, grau
de participao dos interessados nas decises sobre prioridades (quais
aes implementar, quando e como implementar), etc.
Parte desa preocupao es contemplada com a incluso do ndice
de ao operacional. Esse ndice, no entanto, se confunde com o de quali-
dade de vida porque assume os mesmos fatores de avaliao (consruo
de casas, insalao de infra-esrutura, como a consruo de esradas,
fornecimento de eletricidade, etc.).
Os dados da pesqui sa sobre a
quali dade dos assentamentos
Conforme j mencionado anteriormente, uma das principais concluses
dese levantamento foi a consatao do descompasso entre os inves-
timentos para a aquisio de reas e o assentamento de famlias e as
demais aes governamentais voltadas para melhorar as condies de
vida ou preservar o meio ambiente nos projetos. Esse descompasso j
foi amplamente consatado e resultado de uma opo governamental
de invesir no cumprimento de metas, realizando aes de visibilidade
pblica capazes de serem expressas em nmeros.
Relacionado com a opo governamental de priorizar desapropria-
es, um dado signifcativo da pesquisa o alto grau de concentrao
de projetos na regio Norte do pas. A amosra geral (de 1985 a 2001)
composa por 49,3% de rea desapropriada, assentando 32,7% do total das
famlias benefciadas nessa regio. Esses ndices foram de 43,1% da rea
e 27,5% das famlias para o perodo de 1995 a 2001, sendo que as regies
Sul e Sudese apresentaram os menores ndices no perodo.
A equipe no problematizou esses dados, mas so signifcativos por,
pelo menos, dois motivos bsicos. Primeiro, corroboram e reafrmam as
Assentamentos em debate 67
opes governamentais de desapropriar reas em detrimento de outras
aes complementares. Esa opo tem sido executada na regio com
o maior esoque de terras conseqentemente terras com preos mais
baixos , resultando em gasos pblicos com um maior retorno (maior
nmero de famlias benefciadas).
Em segundo lugar, essa regio apresentou os piores ndices gerais de
qualidade de vida com mdia de 49 para os projetos implantados at 1994,
e de 42 para os implantados de 1995 a 2001 (contra 63 e 54, resecivamente,
para o mbito nacional). A regio Norte apresentou baixos ndices de acesso
(falta de esradas), de eletricidade, de servios de sade, demonsrando
a falta de invesimentos em aes complementares reforma agrria.
Fundamentalmente, os dados revelam uma lgica perversa de con-
centrar as aes em desapropriaes de reas na regio que tem terras
baratas, mas que mais necessita invesimentos complementares. Essa
lgica d visibilidade s aes governamentais (aes que benefciam
muitas famlias), mas penaliza as famlias e impede avanos importantes
no processo geral de democratizao do acesso terra, esecialmente
porque mantm intocada a concentrao fundiria do Sul e Sudese.
Outro aseco importante da concentrao de projetos na regio Norte
es relacionado com os impacos da ao humana sobre o meio ambiente.
A pesquisa no levantou esse dado, mas muitos projetos tm sido insa-
lados em terras j exauridas, ou seja, terras abandonadas aps a extrao
da madeira nobre (com valor comercial). Mesmo assim, a maioria dos
projetos acaba sendo implantada em reas que a produo agropecuria
depende de desmatamento,
9
esabelecendo uma relao enganosa entre
democratizao do acesso terra e preservao ambiental.
Apesar da complexidade e das difculdades muitas inerentes pr-
pria lgica produtiva da agricultura familiar e camponesa para aferir
renda, esse um dado importante sobre a susentabilidade dos projetos.
Infelizmente, a metodologia da pesquisa no permitiu obter dados con-
fveis sobre os nveis de renda das famlias assentadas. Sem esquecer
9 Diante da falta de invesimentos polticos para promover o desenvolvimento dos projetos, a so-
brevivncia das famlias es diretamente relacionada com o desmatamento, simplesmente porque
reas j desmatadas no possuem a fertilidade natural que garante a produo agrcola. Iso sem
falar na renda gerada pelo comrcio de madeira, outro elemento fundamental de sobrevivncia.
68 NEAD Debate 8
as necessrias relativizaes, j problematizadas anteriormente, esse
um componente bsico do processo de sobrevivncia das famlias e sua
contribuio para a economia local e regional.
Por outro lado, os nveis de organizao interna dos projetos, mesmo
que centrados na busca de benefcios sociais, outro dado importante da
pesquisa. Diante da falta de invesimentos pblicos em assisncia tcni-
ca e crdito para produo, jusifcvel que no h grandes processos
organizativos coletivos voltados para a produo. A tendncia, reforada
por aseco cultural, privilegiar o trabalho e a produo individualizada,
inclusive porque exige um nvel mais baixo de invesimento.
Outro dado signifcativo desa pesquisa a consatao de que, dife-
rente das esimativas afrmando altos ndices de abandono de lotes, os
projetos possuem timo grau de ocupao. A pesquisa no mensurou o
percentual de famlias que foram originalmente assentadas, mas consatou
um alto ndice de aproveitamento das reas desapropriadas com poucos
lotes abandonados e pouca rea til no explorada.
Apesar das difculdades encontradas e dos baixos nveis de qualidade
de vida em vrios projetos, a pesquisa consatou um grau elevado de
ocupao das reas. Infelizmente, no h dados no levantamento rela-
cionados s motivaes para a permanncia ou mesmo para a atrao
de novas famlias para os projetos. A equipe acabou concluindo que as
aes complementares (crditos para alimentao, habitao e fomento)
no so os principais fatores de atrao.
O simples acesso terra e seu signifcado real e simblico o
grande diferencial, esecialmente porque abre novas persecivas de vida
para as famlias sem-terra. Esa consatao deve ser um fator fundante
para relativizar as aes governamentais na avaliao da efetividade (no
s invesimentos e retorno, mas mudanas signifcativas e duradouras na
qualidade de vida ou desenvolvimento do pblico benefcirio) dos projetos
de assentamento, equilibrando com a incluso de outros fatores, inclusive
as mudanas na correlao de foras polticas locais e regionais.
Assentamentos em debate 69
Di menses e perspecti vas da luta pela terra
10
O acesso terra representa um novo momento e um novo lugar na expe-
rincia de vida das pessoas acampadas e assentadas. Esse acesso uma di-
menso fundamental da consruo da identidade social, sendo que a terra
se consitui em importante categoria mediadora do processo (Porto, 1989,
p. 249) desa consruo porque representa um lugar de trabalho, de vida
e de produo. O sonho ou realidade da terra prometida a perseciva
fundamental, capaz de garantir, por intermdio do trabalho e da produo,
a liberdade, sobrevivncia e continuidade da vida (reproduo social).
O trabalho o valor, real e simblico, mais importante no processo
de luta e conquisa da terra. O direito ao trabalho parte fundante do
processo de luta e da consruo de representaes que explicam e jus-
tifcam a realidade e as aes das pessoas sem terra.
O acesso terra , portanto, a concretizao do direito ao trabalho,
mas no qualquer tipo de ocupao (trabalho assalariado, por exemplo).
A terra signifca mais do que um emprego ou ocupao porque possibilita
o trabalhar para si, portanto, uma condio de liberdade e fartura (pro-
duo para garantir o susento da famlia), ou seja, um trabalho sem os
mandos de um patro e uma realidade ausente de privaes materiais.
A busca por trabalho resultado direto das experincias e da realidade
(inclusive urbanas) de desemprego, subemprego e baixa remunerao.
As pessoas buscam formas para superar a condio de desempregadas
ou de explorao (empregados, meeiros, etc.), consruindo alternativas,
inclusive do ponto de visa simblico.
Conseqentemente, na perseciva das pessoas envolvidas, a conquisa
da terra uma graa alcanada, mediada pelo trabalho, pela atividade
humana que, junto com a fertilidade da terra, faz ela produzir, gerando
fartura e liberdade. A terra, no entanto, no representada apenas como
um meio ou insrumento de trabalho ou de produo. O processo de luta
e a consruo simblica colocam a terra tambm como um lugar de vida,
uma moradia, capaz de acolher e dar sentido exisncia. Ela representa
10 Esas refexes so fruto da pesquisa, entrevisas e contatos com famlias acampadas e assentadas
em Gois, realizada para a elaborao da tese de doutoramento, defendida em 2002 no Departa-
mento de Sociologia da Universidade de Braslia (UnB).
70 NEAD Debate 8
um local de pertencimento, de consruo real e simblica do ser, um
vir-a-ser que esar em um lugar.
Segundo Milton Santos, o esao de exerccio da exisncia plena
(2001, p. 114). O lugar no se consitui apenas na base geogrfca para
aes programticas, mas consitudo por uma identidade, ou seja, um
sentimento de pertencer quilo que nos pertence (idem, p. 96), gerando
lugares de pertencimento, identitrios e exisenciais.
A busca de um lugar fruto de situaes marcadas pela falta de um
canto para viver e morar. As pessoas so foradas, pela falta de trabalho,
pela insabilidade do trabalho sazonal, pela vontade dos proprietrios
de terras (casos de meeiros, parceiros, arrendatrios) a consantes des-
locamentos.
11
As hisrias de vida das pessoas sem terra so verdadeiros
itinerrios biogrfcos, gerando desejos e reforando representaes em
que a casa e o lugar de moradia so um porto seguro.
As pessoas se des-locam em busca de trabalho e a possibilidade de
enraizamento materializa segurana, porque esabelece um ponto de
referncia (um endereo) e uma localizao geogrfca, dando perseciva
para o pertencimento. Possuir um lugar se transforma (em um lugar exis-
tencial, consitutivo do ser) na referncia que contrasa com a ausncia de
um local para morar ou mesmo com as incertezas de um acampamento.
A luta social pela terra e o seu resultado a criao dos assentamentos,
inclusive como lugares exisenciais geram uma nova organizao social,
econmica e poltica. Segundo Martins, os projetos de assentamentos
so uma verdadeira reinveno da sociedade como uma clara reao
aos efeitos perversos do desenvolvimento excludente e da prpria mo-
dernidade (2000, pp. 46s).
12
11 Os processos de expropriao e explorao tm forado migraes consantes em uma perma-
nente luta pela sobrevivncia, realidade que levou Turatti a defnir as pessoas acampadas como
migrantes inveterados (2001, p. 24). Segundo Carvalho, esse nomalismo geogrfco e social
(1999, p. 9), consituindo identidades multifacetadas porque as pessoas se deslocam em busca de
trabalho, exercendo diferentes atividades e profsses como esratgia de sobrevivncia.
12 Martins defne o acampamento como um esao de sociabilidade insvel, onde na fase da luta
pela terra, [as pessoas] acabam se ressocializando por fora do convvio e dos enfrentamentos
conjuntos com esranhos. H a, pois, um alargamento de horizontes e de convivncia (2000, p.
4). Isso permite a recriao de relaes e valores, de prticas sociais, de formas de organizao
e convvio nos projetos de assentamento.
Assentamentos em debate 71
Ainda segundo Martins, o processo de ressocializao moderniza-
dora nos acampamentos resulta que, nos assentamentos a sociedade
literalmente reinventada, abrindo-se para concepes mais largas de
sociabilidade e, ao mesmo tempo, fortalecendo as concepes ordenadoras
da vida social provenientes do familismo antigo (Martins, 2000, p. 47).
Nessa mesma perseciva, Carvalho trata os assentamentos como um
processo social inteiramente novo (1999, p. 13). Segundo ele:
Nesse esao fsico, uma parcela do territrio rural, plasmar-se- uma nova
organizao social, um microcosmo social, quando o conjunto de famlias de
trabalhadores rurais sem terra passarem a apossarem-se formalmente dessa ter-
ra. Esse esao fsico transforma-se, mais uma vez na sua hisria, num esao
econmico, poltico e social (Carvalho, 1999, p. 7).
Esse esao passa a ser a referncia para a reconsruo de uma repre-
sentao identitria, permitindo interiorizar a noo de ser algum, visvel
na sociedade. Essa visibilidade (alcanada no processo de conquisa da
terra) possibilita o esabelecimento de uma nova relao com o outro,
com a sociedade. As relaes mudam signifcativamente porque no
eso mais baseadas no preconceito e na discriminao (sem-terra
vagabundo). H um esabelecimento de uma relao igualitria com
o outro por meio do reconhecimento social , possibilitando a boa
vizinhana e o convvio pacfco.
13
Essa transformao no se resringe a uma mudana de comportamento
e de representaes, baseada em um processo de relacionamento face a
face com o exterior, com o entorno. Essa mudana refexo tambm dos
impacos econmicos, sociais e polticos que os projetos de assentamentos
13 Segundo Leite et alli, o acesso terra possibilita aos assentados consrurem e ocuparem novos
esaos sociais tambm fora dos assentamentos, com refexos sobre os centros urbanos dos muni-
cpios onde se localizam. nesses esaos que se exprime a nova identidade desses trabalhadores
como grupo social (2004, p. 132).
72 NEAD Debate 8
causam em nveis municipal e regional.
14
Esse impaco contraria ou desfaz
as representaes que a sociedade tem do sem-terra, abrindo esao para
outras formas de relacionamento (no mais mediado pela discriminao),
alterando a percepo das pessoas assentadas em relao a si mesmas
(superao de uma identidade negativa) e ao mundo circundante.
As pessoas assentadas explicitam plena conscincia dessa mudana
colocando a principal razo no fruto do trabalho, na produo e nas
resultantes relaes comerciais. Deixam de ser visos como ladres e
vagabundos e passam a produtores (e consumidores), esabelecendo
uma relao diferente com a sociedade. A produo (como resultado
do trabalho) passa a ser o elemento central tanto das representaes da
sociedade como das prprias pessoas assentadas, inclusive porque se
percebem como capazes de susentar a famlia (produo para o auto-
consumo que garante a reproduo social).
A centralidade da produo enfatizada porque as relaes de troca
(compra e venda) so as mais imediatas no contato com o mundo exte-
rior, no contato face a face com a sociedade. A produo tambm a
materializao de uma situao diferente da realidade de sem terra, sem
valor e sem trabalho, sendo que agora h fartura (produo farta de
alimentos) para a famlia.
Essa produo simbolicamente importante porque d visibilidade
e permite medir o sucesso do assentamento, tanto na fartura de ali-
mentos quanto na produo comercial. A produo a prova material
de que so trabalhadores e trabalhadoras e de que a reforma agrria d
certo porque produz mais que as grandes fazendas.
Esa nfase simblica na produo e na produtividade ou na fartura
, no entanto, no es alheia aos problemas reais enfrentados. As difcul-
dades dos projetos falta de invesimentos, falta de crdito, problemas de
preos dos produtos, etc. no so esquecidas e h uma consante busca
por renda, uma luta para permanecer na terra e melhorar as condies de
14 Abramovay afrma que uma das caracersicas centrais das experincias problemticas es
na sua precria capacidade de articulao com outros atores da regio e sua esrita dependncia
dos poderes pblicos federais. Ao contrrio, as experincias bem-sucedidas caracerizam-se
sisematicamente pela ampliao do crculo de relaes sociais dos assentados no plano poltico,
econmico e social (2000, p.30).
Assentamentos em debate 73
vida. Essas difculdades no eliminam os sonhos e so motivaes para as
consantes reivindicaes por invesimentos pblicos nos projetos.
Concluso
Certamente esa percepo da terra como um lugar de trabalho, de vida e
de produo no sufciente para avaliar a viabilidade dos invesimentos de
recursos pblicos nas aes de reforma agrria. So, por outro lado, compo-
nentes fundamentais para reafrmar a efetividade de tais polticas, portanto,
devem ser considerados em qualquer avaliao sobre a importncia de
polticas governamentais relacionados com os projetos de assentamento.
Os projetos devem ser avaliados tomando em considerao asecos
como seus impacos no entorno, inclusive do ponto de visa cultural, social
e poltico. Conseqentemente, pesquisas voltadas para avaliar a qualidade
devem adotar metodologias capazes de captar os processos hisricos,
confitos e contextos onde os assentamentos eso inseridos.
Bi bli ografia
Abramovay, Ricardo. Funes e medidas da ruralidade no desenvolvi-
mento contemporneo. So Paulo e Braslia: IPEA, 2000.
Bourdi eu, Pierre. A economia das trocas lingsicas: O que falar
quer dizer. So Paulo: EDUSP, 1996.
_______. O poder simblico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
Carvalho, Horcio Martins de. Interao social e as possibilidades de
coeso e de identidade sociais no cotidiano da vida social dos trabalhadores rurais
nas reas ofciais de reforma agrria no Brasil. Curitiba: NEAD, 1999. mimeo
Gi ddens, Anthony. As conseqncias da modernidade. So Paulo:
Unes, 1991.
Leite, Srgio; Heredia, Beatriz; Medeiros, Leonilde; Palmeira,
Moacir e Cintro; Rosngela. Impacos dos assentamentos: um esudo sobre o
meio rural brasileiro. Braslia e So Paulo: NEAD e Editora da Unes, 2004.
Lei te, Srgio. Impacos regionais da reforma agrria no Brasil:
Asecos polticos, econmicos e sociais. In.: Reforma agrria e desenvol-
vimento susentvel. NEAD/MDA, Braslia: 2000. p.37ss.
74 NEAD Debate 8
Martins, Jos de Souza. A Sociabilidade do homem simples: cotidiano
e hisria na modernidade anmala. So Paulo: Editora Hucitec, 2000.
Medei ros, Leonilde S. e Esterci , Neidi. Introduo. In.: Me-
dei ros, Leonilde S. et alli (orgs.) Assentamentos rurais: uma viso
multidisciplinar. So Paulo: Editora da UNESP, 1994.
Palmei ra, Moacir e Lei te, Srgio. Debates econmicos, processos
sociais e lutas polticas. In.: Costa, Luiz Flvio Carvalho e Santos,
Raimundo (orgs.) Poltica e reforma agrria. Rio de Janeiro: Editora
Mauad, 1998. p.92ss.
Porto, Maria Stela Grossi. Tiriri: a produo ideolgica como pro-
duo material. In.: Fi guei redo, Vilma (coord.) Esado, sociedade e
tecnologia agropecuria. Braslia: UnB-Finep, 1989. p.246ss.
Santos, Milton. Por uma outra globalizao: do pensamento nico
conscincia universal. Rio de Janeiro, So Paulo: Editora Record, 2001.
Sauer, Srgio. Terra e modernidade: a dimenso do esao na aventura
da luta pela terra. Braslia: UnB, jun. 2002. tese de doutorado.
Turatti , Maria Ceclia Manzoli. Uma etapa pretrita: a passagem
pelos acampamentos. Revisa Travessia, So Paulo, Centro de Esudos
Migratrios, ano 14, n. 39, p.21ss, 2001.
Wanderley, Maria de Nazareth Baudel. A emergncia de uma
nova ruralidade nas sociedades modernas avanadas o rural como
esao singular e ator coletivo. In.: Esudos sociedade e agricultura. Per-
nambuco: 2000. p.87ss.
A qualidade dos assentamentos
da reforma agrria: a polmica
que nunca saiu de cena
Debatendo o li vro A Quali dade dos
Assentamentos da Reforma Agrria Brasi lei ra
Snia Maria Pessoa Pereira Bergamasco
Engenheira Agrnoma pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/
Universidade de So Paulo (Esalq/USP); doutora em Sociologia Rural pela
Universidade Estadual Paulista Jlio de Mesquita Filho (Unesp). Atualmente,
professora titular de Sociologia e Extenso Rural da Faculdade de Engenharia
Agrcola/Universidade Estadual de Campinas (Feagri/Unicamp).
Vera Lcia Silveira Botta Ferrante
Sociloga, bacharel em Cincias Sociais e doutora em Sociologia pela Unesp.
Atualmente, coordenadora do Mestrado em Desenvolvimento Regional e
Meio Ambiente pela Uniara Centro Universitrio de Araraquara.
2.3
76 NEAD Debate 8
Respondendo s questes ou repondo di lemas
inegvel que uma obra desa envergadura traz obrigatoriamente
contribuies importantes ao debate da reforma agrria brasileira.
Assim, a sisematizao, apresentada por Ranieri (2002) no segundo cap-
tulo, sobre os impacos positivos (econmicos, sociais e polticos) de um
processo de reforma agrria e sobre as posies divergentes dos governos,
pesquisadores e trabalhadores, ainda que se tente apresentar de forma
neutra e isenta, reafrma os benefcios sociedade, advindos de um amplo
processo de reforma agrria. Reforma agrria que resulte em alterao
da hisrica esrutura fundiria do pas e no programas paliativos que
no tocam no problema da disribuio da posse da terra.
Essas e outras queses presentes no desenvolvimento dese trabalho
vm engrossar as fleiras daqueles que pesquisando por caminhos os
mais variados acabam por concluir que o processo de implantao de
assentamentos rurais no Brasil, intensifcado nos ltimos 20 anos, no
pode ser viso como crculo fechado. Se trouxe para uma populao tra-
dicionalmente excluda possibilidades de acesso terra, de ocupao, de
melhoria das condies de vida, de insero regional e municipal com
impacos/mudanas marcantes tanto dentro como fora desses esaos, no
alterou, em nada, o quadro geral de concentrao da propriedade fundiria
(Leite, 2004; Bergamasco e Norder, 2003, alm de Hofmann, 1998 e 2002).
Nas divergncias entre as diferentes categorias (governos, pesquisadores
e trabalhadores rurais), a autora ressalta a discordncia do governo que
apresenta em uma publicao do Minisrio do Desenvolvimento Agrrio
(MDA, 2001) novos valores para o ndice de Gini, o qual regisra uma queda
importante. claro que, nesse caso, houve uma diferenciao na forma
de trabalhar os dados, pois, ao governo interessava mosrar resultados
Assentamentos em debate 77
positivos de sua atuao, deixando em segundo plano a precariedade e
intermitncia da mesma. Da as armadilhas com as quais nos deparar face
interpretao dos dados voltados avaliao de polticas pblicas.
Nese sentido, a par de algumas contribuies presentes na obra em
queso, podemos apontar contradies nos resultados apresentados, que
nos parecem ir na direo de manipular dados para mosrar o sucesso
do empreendimento. Afrmar, com base nos dados apresentados, que
a reforma agrria pode ser considerada um sucesso sob o aseco da
converso do latifndio improdutivo , no mnimo, uma incoerncia,
ou uma (pr)disosio para tal. Que possa ter havido uma tendncia
crescente nos invesimentos nese campo, no se pode negar, mas que
essas aes tenham mudado o perfl fundirio do pas, no verdade. E,
mesmo que o ndice de efccia da reorganizao fundiria tenha sido
elevado e perto dos nveis timos na maioria das regies do Brasil, esse
ndice, pela sua formulao, capta a reorganizao dentro do prprio
projeto de assentamento. Torna-se importante saber como ocorrem os
processos de abandono e disribuio dos lotes dentro dos assentamentos,
mas necessrio cuidado na interpretao desse indicador.
Regisrando-se numericamente o total de famlias atualmente morando
nos lotes, houve preocupao com asecos relacionados movimentao
dos assentados. Abandono da terra, famlias residentes fora de rea do
projeto, alterao de ocupantes ou benefcirios, aglutinao de lotes,
porcentagem de ocupao com explorao agrcola foram as variveis a
compor a base de dados utilizada para o clculo do ndice de efccia da
reorganizao fundiria.
Porta de entrada de avaliao do sucesso da interveno do governo
em alterar a esrutura fundiria, esse ndice daria conta do cumprimento
do potencial de ocupao da rea, avaliada pela relao entre o nmero
de famlias morando no projeto e sua capacidade de assentamento.
Como ler o resultado de que o ndice de efccia da reorganizao
fundiria apresentou valores elevados e muitas vezes prximos ao ideal?
(Sparovek, 2003, p.89). Como discutir efccia e idealizaes em se tra-
tando de assentamentos? As hipteses levantadas pela pesquisa de que o
desenvolvimento dos assentamentos ao suscitar oportunidades de renda
desvinculadas da produo agrcola ativaria outros setores da economia,
78 NEAD Debate 8
atuando como plo de atrao de novas famlias, de que a capacidade do
projeto poderia ter sido subesimada, por equvocos do rgo executor
ou ainda de que teria havido um esmulo para sisemas de produo
mais extensivos, o que geraria a ocupao de reas maiores por parte de
familiares ou agregados, no podem ser aceitas ou rejeitadas sem o acom-
panhamento das diferenciaes que se fazem presente em tais processos.
Pesqui sando assentamentos rurai s: questes
metodolgi cas ou como escapar de armadi lhas
Os dilemas terico-metodolgicos de se pesquisar assentamentos rurais
tm ocupado continuamente nossas preocupaes. Iso porque os as-
sentamentos inserem-se em uma rede de relaes, cuja discusso exige
necessariamente a no demarcao de fronteiras rgidas em seu esudo.
Leia-se tal observao com a ressalva que, do nosso ponto de visa, a
escolha de enfoques mltiplos pode enriquecer, sem esgotar, a realidade
invesigada. Ainda mais, tomando-a como um dado j insitudo, enfrenta-
se outro problema: o de retirar seu contedo hisrico, desvinculando-a
de um processo cujo esudo exige um referencial analtico que tenha
como parmetro a consituio de categorias e no a consruo de
insrumentos de medidas (Ferrante, 2003). A metodologia adotada no
trabalho A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira
insere-se nesse contexto. H uma real preocupao com a consruo
de indicadores, convertidos em insrumentos utilizados para medir a
efccia da reforma agrria. A afrmativa, em diversos momentos do
trabalho, de que se trata de uma anlise com carter essencialmente
qualitativo perde sentido na consruo e quantifcao dos indicadores.
Em termos esatsicos poderamos concordar que eso sendo analisadas
variveis qualitativas com um atributo, uma condio, ou seja, foi dada
uma qualifcao s variveis e, a partir da, uma valorao a cada uma
delas. Nos nossos parmetros de anlise esse procedimento qualifca, mas
no se trata de uma anlise qualitativa, pois esa implicaria em um maior
aprofundamento das queses a serem pesquisadas.
No exisem, de fato, variveis ou categorias que possam ser abso-
lutizadas na anlise dos assentamentos. Insise-se em diagnsicos de
Assentamentos em debate 79
sucesso/fracasso de tais processos, pautados, com freqncia por indica-
dores, quando, na verdade, os mesmos devem ser discutidos no interior
de consrues sociais densas e mutveis. Talvez, no item renda, sejam
mais diretamente explicitados os riscos de se impor anlise dos assen-
tamentos, categorias contbeis naturalizadas, sem uma refexo sobre a
complexidade desse modo de vida. No se trata apenas de problemas
de natureza metodolgica. Comprovadamente, as informaes do nvel
renda foram e vm sendo utilizadas politicamente para atribuir fracassos
ou incompetncias aos assentados (Ferrante, 2003).
No mbito do recorte privilegiado a defnio da qualidade dos
assentamentos da reforma agrria brasileira h uma produo anterior
que deve ser referida. Trata-se do esudo da Organizao das Naes Uni-
das para Agricultura e Alimentao (FAO) (Romeiro et alii, 1994) que
representou, inegavelmente, um marco na literatura sobre assentamentos
sob a tica econmica cujos resultados publicizados, a par de provocar
impacos e discordncias, continuam a ser uma referncia no campo das
preocupaes sobre a avaliao de tais experincias. Uma pesquisa baseada
em uma amosra nacional sobre variveis como gerao e disribuio
de renda, capitalizao, caracersicas do processo produtivo, comercia-
lizao da produo apresentou como concluso que os assentamentos
podem ser considerados efcazes promotores do desenvolvimento rural
e da fxao do homem no campo.
No se pode negar que ao consruir um complicado indicador de-
corrente da combinao das diversas fontes de renda e ao concluir que
onde se implantaram os assentamentos foram geradas rendas maiores do
que as obtidas em atividades equivalentes, a pesquisa da FAO signifcou
um invesimento ousado.
Nos termos desa pesquisa, a renda no foi limitada apenas ao retorno
monetrio resultante da comercializao dos produtos agropecurios dos
assentamentos. Acrescentou-se a ese o autoconsumo, o assalariamento
e a valorizao patrimonial. A tese defendida por Guanziroli (1996),
de que o autoconsumo encerra-se em uma lgica econmica racional,
sendo o elo impulsionador da reforma agrria por permitir alternativas
de superao da marginalizao social continua sendo extremamente
controvertida. Argumentos de que a adoo do indicador autoconsumo
80 NEAD Debate 8
expresso de que o assentamento no se integra com xito na economia
capitalisa regional (Casro, 1997) se contrapem a outros que consideram
a incluso das prticas de autoconsumo como uma necessidade para a
compreenso do comportamento de exploraes agrcolas familiares
(Romeiro et alii, 1994).
Para alguns pesquisadores, incluir, dentre os indicadores, o autocon-
sumo implica em uma superesimao do contedo do lucro agrcola. Ou
ainda, que a adoo do indicador autoconsumo pode vir ao encontro da
tese, por outros defendidas, de que o assentamento no se integra com
xito na economia capitalisa vigente, o que contrariado pela pesquisa da
FAO, segundo a qual, em que pese a consatao da baixa produtividade,
foi identifcado nos assentamentos um processo crescente de integrao ao
mercado. Em contrapartida, em outra perseciva, a incluso das prticas
de autoconsumo se faz necessria na avaliao dos assentamentos, at
porque a produo da comida tem importncia indiscutvel nese novo
esao produzido. A par das difculdades e das tenses que se repro-
duzem e adquirem novas roupagens nos assentamentos rurais, h uma
dimenso a ser seriamente considerada nas anlises sobre qualidade de
vida dos assentamentos.
Referimo-nos ao retrato vivo das necessidades de homens e de
mulheres que no querem terra como ponto de partida da produo de
valores de troca. Querem e precisam da terra para no passar fome, para
ter o que dar de comer a seus flhos, para sobreviver, para no fcar ao
sabor das selvagens regras capitalisas de descarte da mo-de-obra. Nese
circuito, o autoconsumo ganha uma importncia vital, no apreendida
em anlises que, presas, a uma abordagem mecanicisa consideram os
assentamentos como unidades de produo a ser compreendidas unica-
mente pelo movimento de subordinao lgica da acumulao capitalisa.
Insise-se em diagnsicos de tais processos pautados, com freqncia,
por indicadores esruturados por categorias contbeis naturalizadas
sem uma ateno s mltiplas dimenses que se fazem presentes nese
novo modo de vida, entendido como esao de articulao de prticas,
valores e tradies e consruo de laos e cdigos de (re)conhecimento
social (Santos, 2003).
Assentamentos em debate 81
E no interior desses cdigos que o autoconsumo, como parte das esra-
tgias dos assentamentos para permanecer na terra, ganha signifcado.
Quem depende do trabalho no campo tem uma noo bem clara do
valor energtico dos alimentos. Alm da dimenso energtica, a comida
tem signifcado simblico e, no caso dos assentados, aparece associada
luta por manter prticas agrcolas que lhes permitam tirar da terra o
seu susento (Ferrante e Queda, 2003). Apesar das sofsicadas elabora-
es tericas utilizadas para descaracerizar a relao entre produo e
autoconsumo possivelmente expresso das armadilhas por meio das
quais tenta-se desqualifcar os assentamentos rurais temos clareza de
que no mbito das pesquisas empenhadas na apreenso da qualidade dos
assentamentos da reforma agrria brasileira, dimenses outras, muitas
vezes consideradas preconceituosamente como de menor importncia
ganham relevo (Peres e Ferrante, 2003).
Tais consideraes nos remetem, mais uma vez, s alternativas terico-
metodolgicas escolhidas pela equipe resonsvel pela pesquisa voltada
defnio das qualidades dos assentamentos.
Esses indicadores, se por um lado, podem apontar resultados satis-
fatrios na avaliao dos assentamentos pesquisados, por outro, podem
no apreender a diversidade e a dinamicidade dessas experincias. Da a
exigncia de se buscar captar a compreenso desse fazer-se diferenciado,
sem naturalizar unidades, sem cair em procedimentos classifcatrios ou
em raciocnios empenhados em catalogar relaes sociais consitutivas
de um processo (Bergamasco e Ferrante, 1994).
Face semeada desinformao e m utilizao dos nmeros da
reforma agrria importante resgatar metodologias, ainda que diversas,
de acompanhamento desses complexos processos sociais. O banco de
dados gerado na pesquisa que resultou na publicao A Qualidade dos
Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira levanta queses cruciais
para serem avaliadas; e repensados os rumos dos assentamentos rurais
no Brasil. No basa discutir tais expresses por atributos de sucesso
ou de fracasso. preciso dissec-las em suas diferenciaes, expresso
das enormes desigualdades que pautam a disribuio de recursos e os
modelos de produo agrcola exisentes no Brasil. H que se levar em
conta igualmente condies regionais e as relaes heterogneas que se
82 NEAD Debate 8
fazem presentes na maneira de viver e de produzir no campo. Uma rede
de diversifcaes em funo de fatores externos (como a base natural/
ambiental e a economia regional) quanto de fatores intrnsecos aos as-
sentamentos, referentes concepo do mundo dos trabalhadores, a sua
trajetria, sua experincia poltico-organizativa passa a ser consitutiva
de qualquer avaliao dessas experincias. Alm disso, o movimento das
famlias no interior dos projetos, excluses, abandono, arrendamento dos
lotes, alteraes dos ocupantes, irregularidades envolvendo vendas de
lotes expressam uma dinmica difcil de ser captada por metodologias
susentadas unicamente por indicadores quantitativos.
Uma queso de princpio se impe em qualquer anlise que se dis-
ponha a discutir assentamentos de reforma agrria.
Como avaliar tai s processos?
A pesquisa A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira
(Sparovek, 2003) prope-se a enfrentar esse desafo, com a advertncia
inicial de no se tratar de uma abordagem convencional, e de que mtodos,
procedimentos e solues novas tiveram que ser criados mentalmente,
processados e implementados centenas de vezes de forma virtual nas
mentes de um punhado de pessoas. Aps isso, as teorias tiveram que
funcionar numa nica chance, no poderiam exisir erros que levassem
ao deserdcio de tempo (op.cit., p.12). A diversidade de olhares, a con-
trovrsia e a polmica como elementos insituintes das abordagens sobre
assentamentos rurais so admitidas como pontos de partida, assim como
criticadas as indevidas generalizaes de casos isolados, com desempenho
positivo ou negativo. Ressalvas que nos levam a comear pr em balano
os asecos qualitativos dos projetos de assentamento de reforma agrria
com uma posio ou (pr)disosio de cumplicidade. Afnal, reitera-
damente, temos afrmado que captar indicadores de gerao de renda, de
desempenho econmico dos assentados pode implicar em armadilhas
e riscos, agravados se a tica de sua apreenso se prender a indicadores
quantitativos. H que se ressaltar uma diferena nada desrezvel do
ponto de visa terico-metodolgico.
Assentamentos em debate 83
Os autores, na explicao do contexto do esudo, admitem, claramente,
a relao dos levantamentos desenhados para regisrar os impacos das
aes de reorganizao fundiria na qualidade de vida dos assentados e na
gerao de renda dos projetos para a anlise das esratgias empregadas
pelo governo. A inteno expressa de aprimorar insrumentos e procedi-
mentos de monitoramento implantados pelo Minisrio do Desenvolvi-
mento Agrrio deve ser acompanhada com uma certa vigilncia. Ou seja,
esaria o banco de dados levantado pela pesquisa, comprometido com
o interesse pragmtico do retorno para ratifcar as aes do governo na
conduo dese processo? Dilemas aos quais no nos furtamos ao aceitar
o desafo de repensar o processo e os produtos da pesquisa A Qualidade
dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira.
Na gerao dos ndices consrudos, na metodologia de coleta de
dados, baseada em pesquisa de opinio dos entrevisados sobre o projeto
de assentamento e nas mltiplas opes de resosas, h um miso de
ousadia e de excessiva simplifcao na abordagem adotada para retratar
os processos invesigados. Retomemos fragmentos desse retrato.
A inteno de apreender ndices reveladores da efccia da reorgani-
zao fundiria, da qualidade de vida, da articulao e organizao social,
da preservao ambiental e da ao operacional encontra resaldo nos
caminhos trilhados pela pesquisa?
O movimento das famlias compe-se muitas vezes de arranjos fa-
miliares de que se lana mo como alternativas de reproduo social.
Trata-se de defnir mais propriamente o que se entende por reorganizao
fundiria. Se tomarmos como parmetro dimenses regionais, sem d-
vida, os assentamentos pelo conjunto de relaes consitudas provocam
reordenaes. Em um processo de ocupao de uma rea de terra, ge-
ram-se lideranas, produzem-se solidariedades e identidades, buscam-se
resosas para uma situao de tenso, o que, em seu conjunto, produz
mudanas, reconhecimento de direitos e expresso de novas relaes de
poder. A trama consitutiva desse processo revese-se de novas facetas aps
a chegada na terra. A consruo de parmetros para a vida em conjunto
nesse novo esao produzido, a busca de esratgias de sobrevivncia e
de permanncia na terra provocam muitas vezes mudanas na relao
do assentamento com o seu entorno (Leite et alii, 2004). No bojo dessas
84 NEAD Debate 8
mudanas, pode-se pensar no signifcado dos assentamentos no circuito
de iniciativas de desenvolvimento local, embora as mesmas no apaream
como prioridade nas agendas polticas municipais.
A discusso das mudanas trazidas pelos assentamentos em sua regio
expressas em queses relacionadas participao, formao de polti-
cas pblicas, queso ambiental e territorial nos leva a pensar se as
mesmas tm impaco na dinmica fundiria da regio. No caso do livro
aqui analisado, o ndice de reorganizao apreendido pelo movimento
das famlias, pelo abandono ou no dos lotes, queses importantes no es-
tudo e no acompanhamento dos assentamentos que no so, em si mesmas,
representativas de persecivas de reorganizao fundiria. Ao fazermos
tais ressalvas, esamos reforando a necessidade de se discutir assentamen-
tos nas suas relaes com o entorno e quesionando os fatores apresentados
no livro como expresso do ndice de efccia de reorganizao fundiria.
No ndice de qualidade de vida, so analisadas queses ligadas
moradia, tratamento de esgoto, acesso gua de boa qualidade, energia
eltrica, disonibilidade de escolas, servios de sade, transorte coletivo
e condies de acesso aos projetos de assentamentos. Por meio de um
sisema de pontuao e de valoraes disosas em uma escala numrica
de 0 a 100, obtm-se um determinado dado, considerado representativo
da situao dos assentados no lote. Quais opinies so consideradas em
tais equaes matemticas? Em resosa divergncia implcita na ava-
liao da qualidade dos assentamentos foram regisradas, em formulrios,
opinies do executor da poltica fundiria, das organizaes presentes
nos assentamentos e dos trabalhadores assentados.
At que ponto tais queses no exigem uma avaliao das idealizaes e
irrealizaes contidas no projeto esatal de assentamento? A concluso da
pesquisa de que pouco mais da metade dos fatores ligados ao ndice de
qualidade de vida eso plenamente satisfeitos e que, apesar do desenvol-
vimento dos projetos de assentamento levar a melhorias, elas vo ocorrer
de forma lenta e incompleta. H diferenas regionais considerveis o que
refora a necessidade analtica por ns defendida da impossibilidade de
se discutir tais ndices e mesmo a efccia dos assentamentos, sem olhar a
sua relao com o entorno, com as diretrizes da agenda poltica municipal
e regional. Em vrios desses elementos, os autores acertadamente afr-
Assentamentos em debate 85
mam a importncia de serem consideradas as diferenas regionais. Com
certeza, os elementos pesquisados na avaliao do ndice de qualidade
de vida reportam-se a queses que passam pela anlise da retrica e da
prtica das polticas pblicas voltadas a assentamentos.
Apesar das decises referentes descentralizao da reforma agrria,
o poder pblico municipal at recentemente teve pouca participao na
qualidade de vida dos assentamentos, cabendo-lhes somente a complemen-
tao de aes em infra-esrutura mediante convnios com organismos
federais e esaduais tmidas iniciativas com relao educao, s vezes
to somente relativas ao transorte esudantil e ao atendimento primrio
em sade. O reforo base local para o desenvolvimento dos projetos de
assentamento atravessado pela trama de foras sociais consitutivas do
poder local. Pouco se avana efetivamente na discusso do futuro dos
assentamentos e o poder pblico municipal no chega a priorizar tais
projetos na sua agenda de desenvolvimento. H excees, a exigir um
aprofundamento da rede de relaes dos assentamentos com o poder
local, tema que foge aos objetivos priorizados pela pesquisa em debate.
Como aprofundar a di scusso da
quali dade dos assentamentos?
De incio, um alerta. Sem a utilizao de esratgias alternativas como
metodologia de anlise, o objetivo de apreender a qualidade dos assenta-
mentos corre o risco de ser aprisionado por armadilhas que podero levar
a avaliaes moldadas por prejulgamentos. Da nossa compreenso de que
a invesigao da qualidade dos assentamentos no pode se transformar
em avaliao, diagnsico ou prognsico. Deve retratar as diferencia-
es que se fazem presentes nesse esao social e em seu modo de vida,
pensado como expresso relacional das mudanas que se processam nas
dimenses cultural, econmica e poltica dos agentes envolvidos na cons-
tituio dos assentamentos. Para isso, um olhar atento a ese movimento
exige regisros no captveis somente por ndices ou indicadores, j que
os mesmos no tm a fexibilidade necessria para a compreenso dessas
experincias. A proposa de no discutir qualidade dos assentamentos
a par das diferenciaes signifcativas que se apresentam na consruo
86 NEAD Debate 8
desse novo modo de vida que envolve um conjunto de relaes, desde as
de vizinhana e com a comunidade inclusiva at as relaes com o poder
local e com a agricultura regional. Cdigos tradicionais, racionalidades,
o vaivm de formas associativas, a reorganizao do esao produtivo/re-
produtivo, os rearranjos em busca da cooperao contam na qualidade
dos assentamentos. Do mesmo modo, fazem parte expresses de confitos,
de diferenas, muitas vezes atravessadas por mecanismos de poder, nos
quais clientelismos e expresses da cultura da ddiva se fazem presentes.
Igualmente, faz-se necessrio buscar as mediaes dos assentamen-
tos com a dinmica regional. As pesquisas voltadas qualidade dos
assentamentos precisam absorver sua diferenciao consitutiva, a des-
consruo/reconsruo de esratgias, os confitos internos, os laos de
reconhecimento social que passam pela reapropriao de cdigos nesse
novo modo de vida. Olhares internos se imbricam a olhares externos,
entendidos como a compreenso das mediaes com o poder local e com
as caracersicas regionais. Na discusso da qualidade dessas experincias
inovadoras na geso econmica do territrio entram igualmente tenses
reveladoras de contradies possveis entre a chamada agricultura familiar
e o grande capital agropecurio e agroindusrial.
Assim, a discusso da qualidade dos assentamentos exige no apenas
a valorao da sua positividade, mas implica em que sejam ressaltados
os pontos crticos, os ns grdios das relaes consrudas pelos assen-
tados e pelos diferentes mediadores, tanto das polticas pblicas, como
das possveis alternativas econmicas. A qualidade aparece discutida no
interior de pontos de tenso enfeixados nos campos econmico e poltico,
nos quais os assentados aparecem muitas vezes em posio de subalterni-
dade, o que no afasa sua presena ativa e a perseciva de desenvolver
esratgias mais ou menos coerentes com possveis projetos polticos de
fortalecimento da agricultura familiar. O confronto desses atores nos es-
paos sociais de disuta e consituio de alternativas de desenvolvimento
pode opor agentes, racionalidades e interesses diversos, sendo a quali-
dade combinada com a diferenciao de compromissos e de esratgias
levadas adiante em tais experincias. Assim, em nossa compreenso, a
discusso da qualidade dos assentamentos deve ser encarada como parte
do fazer-se de uma trama de relaes sociais, revelando tenses entre as
Assentamentos em debate 87
prticas e as racionalidades dos diferentes agentes (assentados, tcnicos,
agentes polticos e outros) e o campo do poder, campo de foras sociais
que atravessa o futuro da reforma agrria.
Bi bli ografia
Bergamasco, Snia Maria Pessoa Pereira e Norder, Luis Antonio
Cabello. A Alternativa dos assentamentos rurais: organizao social, tra-
balho e poltica. So Paulo: Terceira Margem, 2003.
Bergamasco, Snia Maria Pessoa Pereira e Ferrante, Vera Lcia
Silveira Botta. Assentamentos rurais: caminhos e desafos de pesquisa. In:
Romeiro, Ademar et al. Reforma agrria: produo, emprego e renda. O re-
latrio da FAO em debate. Rio de Janeiro: Vozes/Ibase/FAO, 1994. p.181-191.
Brasi l. Minisrio do Desenvolvimento Agrrio. O Brasil descon-
centrando as terras. ndice de Gini, 2001. 37 p.
Castro, Marcio Henrique. Reforma agrria e a pequena produo.
Campinas: I.E/Unicamp, 1997. Tese de Doutorado.
Ferrante, Vera Lcia Silveira Botta. Assentamentos rurais: a pol-
mica queso de sua avaliao. Araraquara: 2004. mimeo
_______. Assentamentos rurais: a polmica queso de sua avaliao.
Revisa Uniara, Araraquara, n.12, p.171-187, 2003.
Ferrante, Vera Lcia Silveira Botta e Peres, Isabel Santos. Da
terra nua ao prato cheio: produo para consumo familiar nos assentamentos
rurais do esado de So Paulo. Uniara/ITESP, 2003.
Ferrante, Vera Lcia Silveira Botta e Queda, Oriovaldo. Prefcio.
In: Ferrante, Vera Lcia Silveira Botta e Peres, Isabel Santos. Da terra
nua ao prato cheio: produo para consumo familiar nos assentamentos
rurais do esado de So Paulo. Uniara/ITESP, 2003.
Ferrante, Vera Lcia Silveira Botta e Barone, Luis Antonio.
Assentamentos rurais e poder local: os rumos da descentralizao da
reforma agrria. In: Dinmicas familiar, produtiva e cultural nos assen-
tamentos rurais de So Paulo. Araraquara: Ed. Campinas; So Paulo:
Feagri/Unicamp;Uniara;Incra, 2003. v.1, p.157-185.
Hoffman, Rodolfo. A Esrutura fundiria no Brasil de acordo com o ca-
dasro do Incra: 1967 a 1988. Campinas: 1998. Convnio Incra/Unicamp.
88 NEAD Debate 8
_______. Disribuio da renda e da posse da terra no Brasil. Campinas:
Insituto de Economia/Unicamp, 2002.
Guanzi rolli , Carlos. O acesso a terra e a melhoria nas condies
de vida. In: Reunio Anual da SBPC, 48, jul.1996, So Paulo, 1996.
Lei te, Srgio Pereira et al. Impacos dos assentamentos: um esudo
sobre o meio rural brasileiro. Braslia: Insituto Interamericano de Coope-
rao para a Agricultura: Ncleo de Esudos Agrrios e Desenvolvimento
Rural; So Paulo: Ed. Unes (co-editora e disribuidora), 2004.
Rani eri , Silvia Beatriz Lima. Retroseco da reforma agrria no
mundo e no Brasil. In: Sparovek, Gerd. A Qualidade dos assentamentos
de reforma agrria brasileira. So Paulo: Pginas e Letras, 2003. p.5-38.
Romei ro, Ademar et al. Reforma agrria, produo, emprego e renda.
Rio de Janeiro: Vozes/Ibas/FAO, 1994.
Santos, I. P. dos, Ferrante, V. L. S. B. (org). Da Terra Nua ao
Prato Cheio Produo para Consumo Familiar nos Assentamentos Rurais
do Esado de So Paulo. Araraquara: Fundao Ites/Uniara, 2003.
Sparovek, Gerd. A Qualidade dos assentamentos de reforma agrria
brasileira. So Paulo: Pginas e Letras, 2003.
Radiograa da reforma agrria
Notas metodolgi cas sobre o trabalho
A Quali dade dos Assentamentos da
Reforma Agrria Brasi lei ra
Antnio Mrcio Buainain
Bacharel em Economia e Direito pela Universidade do Rio de Janeiro; Doutor
em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade de Campinas
(Unicamp). Atualmente professor do Instituto de Economia da Unicamp e
pesquisador do Ncleo de Economia Agrcola (NEA), do IE/Unicamp.
Jos Maria da Silveira
Engenheiro Agrnomo pela Universidade Estadual Paulista; Doutor em
Economia pelo Instituto de Economia da Universidade de Campinas (Unicamp)
e pesquisador do Ncleo de Economia Agrcola (NEA), do IE/Unicamp.
2.4
90 NEAD Debate 8
Introduo
A
presente nota es baseada em algumas consideraes metodolgicas
sobre o trabalho A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria
Brasileira, coordenado pelo professor Gerd Sparovek, que resultou na
publicao da Universidade de So Paulo/Minisrio do Desenvolvimento
Agrrio/Organizao das Naes Unidas para Agricultura e Alimentao
(USP/MDA/FAO), em 2003, com o mesmo ttulo. O trabalho foi contra-
tado, em carter de emergncia, pelo MDA, visando resonder a uma
onda de crticas veiculadas na imprensa sobre o Programa de Reforma
Agrria. As crticas atingiam a ao poltica do governo, mas atingiam
tambm, e talvez principalmente, a prpria reforma agrria.
Um dos asecos mais interessantes e inovadores da pesquisa a
metodologia, que permitiu realizar uma tarefa gigantesca em um prazo
extremamente curto e, melhor ainda, a um cuso tambm reduzido.
interessante refetir sobre a metodologia, pois a possibilidade de utiliz-
la em outras pesquisas reduziria dois problemas recorrentes na relao
entre o setor pblico e o meio acadmico: o do tempo e o do cuso. A
refexo deve separar a anlise da aplicabilidade do mtodo em geral da
anlise da consisncia dos indicadores utilizados para desenhar a foto
da qualidade dos assentamentos de reforma agrria.
Os esudos sobre a reforma agrria vm sendo conduzidos, principal-
mente, por profssionais da rea de Cincias Sociais, e nossa tendncia
desconsiderar, ou olhar com desconfana, esudos que reduzem com-
plexos processos sociais a indicadores objetivos e frios, que transformam
o processo em foco e no so capazes de desvendar os nexos entre atores,
as resries enfrentadas, os esforos realizados, enfm, a luta cotidiana
das famlias envolvidas na consruo da realidade.
Assentamentos em debate 91
Cada um de ns gosaria de ver contemplado, no esudo, procedi-
mentos que adotamos em nossas pesquisas, e no difcil ceder tenta-
o da crtica fcil, e apontar como defcincias o fato de o esudo no
ter sido conduzido por equipe multidisciplinar que teria permitido
incorporar aos formulrios um conjunto de queses relevantes que
fcaram de fora , ou por utilizar um quesionrio fechado, que no dei-
xa margem para colher a viso dos entrevisados sobre a situao dos
assentamentos, e assim por diante.
Todavia, nosso ponto de visa que esse tipo de crtica ajuda pouco,
at porque no h nenhuma obrigao de que cada esudo esgote o tema
e ou o examine de todos os ngulos possveis. Cada matria prioriza um
aseco da realidade e utiliza mtodos prprios de anlise. Portanto, so
pretensiosas algumas tentativas de desclassifcar bons trabalhos, rotulan-
do-os de economicisas ou de discursivos, como se fosse possvel fazer
anlise econmica sria sem usar a teoria econmica e seus insrumentos,
inclusive os quantitativos, ou fazer anlise sociolgica ou antropolgica
com base apenas em modelos matemticos.
Deixando de lado a chamada crtica externa, propomo-nos a analisar
a metodologia usada, seus pontos positivos e algumas de suas limitaes.
Mais do que cobrar dos autores pelo que no foi feito, nosso objetivo
aproveitar material exisente e indicar possveis ajuses que poderiam ser
teis para trabalhos futuros.
A iniciativa da equipe de pesquisadores, de oferecer seu trabalho
crtica, de abrir de forma transarente o banco de dados (de reso pblico,
pois gerado com recursos pblicos) e de facilitar sua utilizao, elogivel
e merece ser reproduzida em outras reas. As consideraes apresentadas
tm por objetivo chamar ateno para alguns elementos da esratgia
metodolgica utilizada pela equipe, como tambm dar sugeses que
permitam aperfeioar e, se possvel, desdobrar o esudo. Fazemos esa
breve apreciao de alguns asecos da metodologia utilizada no apenas
com a inteno de mosrar pontos que consideramos importantes para
discusso da anlise da reforma agrria no Brasil, como tambm de evi-
denciar a riqueza de possibilidades que se abrem a partir do esudo.
92 NEAD Debate 8
Aspectos gerai s da metodologia e
obj eti vos do trabalho anali sado
O principal objetivo do esudo de Sparovek et alii (2003) analisar a
qualidade dos assentamentos da reforma agrria brasileira. Para tanto, a
equipe desenvolveu e aplicou uma metodologia inovadora que de certa
forma adquiriu satus prprio e em muitos asecos ganhou maior evi-
dncia do que os resultados analticos alcanados.
Os comentrios eso fundados no Captulo 3, elaborado por Sparo-
vek et alii. Da lisa apresentada na pgina 39, apenas o primeiro item
fazer a Avaliao Qualitativa dos Projetos de Assentamento em todo o
Brasil pode ser de fato considerado como objetivo de pesquisa.
Os demais so insrumentais ou procedimentais, ou seja, indicam como
ser feita a avaliao qualitativa dos assentamentos: a) gerao de ndices
que permitam comparar a qualidade dos assentamentos em todo o pas;
b) identifcar componentes isolados que expliquem as diferentes situaes;
c) regisrar separadamente as opinies do governo, assentados e das as-
sociaes que os representam; d) comparar resultados com fontes exter-
nas de informao.
O universo do esudo praticamente o conjunto dos assentamentos
criados entre 1985 e 2001 em todo o pas, atendendo demanda do
Minisrio do Desenvolvimento Agrrio/Ncleo de Esudos Agrrios e
Desenvolvimento Rural (MDA/NEAD). Os autores apontam que o esudo
tem um carter essencialmente qualitativo, que se manifesa na forma
com que os dados foram tratados (gerao de ndices), na metodologia de
coleta de dados (pesquisa de opinio do entrevisado sobre o Projeto de
Assentamento PA) e nas mltiplas opes de resosa da maioria das ques-
tes do formulrio (quantitativa, semiquantitativa e qualitativa). (p.41).
certo que o esudo no faz contagem como os censos, mas da no
se deduz carter essencialmente qualitativo no sentido de que ele se apia
na narrativa baseada em entrevisas resultantes de quesionrios semi-
esruturados. Alm diso, o insrumento de coleta de informaes cria
variveis categricas que podem ser facilmente utilizadas em mtodos
de anlise multivariada. H tambm variveis que no eso fundadas
apenas na transformao de percepes em escalas categricas (Pereira,
Assentamentos em debate 93
2000; Zackiewicz, 2001), mas que so fruto de coleta de informaes
quantitativas e descrevem de forma direta algumas caracersicas rele-
vantes dos assentamentos. (ver Sparovek et alii (2003), tabelas 7 e 8 das
pginas 42 e 43, para uma sntese dessas variveis agregadas). Alm diso,
h um amplo uso de dados secundrios, contextualizando de maneira
extremamente til a relao entre esao rural e assentamentos (ver em
Sparovek et alii, 2003, o mapa da pgina 159, por exemplo).
Portanto, um dos pontos fortes do trabalho es em condensar, por
meio de indicadores simplifcados e sintticos de mensurao objeti-
va e grfcos e mapas, um conjunto de variveis de natureza diversif-
cada, que refetem muitos asecos das condies materiais de vida dos
assentados, desde habitao at acesso a servios pblicos, e muitas das
resries esruturais que condicionam a vida e o porvir do assentamen-
to e dos assentados, entre as quais o acesso aos mercados, disonibilida-
de de energia eltrica e qualidade do meio ambiente.
O mtodo de coleta da informao necessria para se consruir os
ndices, baseado fundamentalmente em pesquisa de opinio de vrios
atores que participam da reforma agrria, um dos asecos mais interes-
santes e inovadores do esudo. A transformao de opinies em ndices
objetivos um pulo do gato, e uma vez confrmada a consisncia do
procedimento, poderia alargar as possibilidades de pesquisa na rea.
A queso central da validade da metodologia diz reseito precisamente
aos procedimentos adotados para fazer essa transformao fundamental
de opinies de carter subjetivo em indicadores objetivos que formam a
radiografa da situao dos assentamentos.
Quali fi cando a i nformao coletada
O trabalho de Sparovek et alii (2003), alm de amplo, tem a preocupao
com a qualidade da informao. Trata-se de uma precauo baseada no
conhecimento prvio das difculdades em coletar informao de um p-
blico no necessariamente acosumado com esse tipo de procedimento.
Vejamos um pouco mais de perto esse procedimento. O primeiro
ponto refere-se s trs opes de resosa: quantitativa, semiquantitativa
e qualitativa. A idia boa e tem como objetivo principal no forar uma
94 NEAD Debate 8
preciso quando o prprio entrevisado no es seguro para resonder o
quesito. Nesses casos, no lugar de forar uma resosa com um nmero
preciso sobre o nmero de famlias do assentamento que ocupam casas
defnitivas de alvenaria, o entrevisado tem a opo de dar apenas uma
idia do percentual de famlias nessa situao (resosa semiquantivativa)
ou, de maneira ainda mais vaga, se so poucas, a maioria, mais ou menos
a metade ou a totalidade que tem casa defnitiva (resosa qualitativa).
Os autores parecem atribuir maior preciso s resosas quantitativas,
pois afrmam que o risco de permitir resosas qualitativas aumentar
a impreciso dos dados coletados. No entanto, a opo por resosas
semiquantitativas e qualitativas foi pequena na maioria das queses, no
comprometendo a exatido na avaliao dos resultados (p.56). Na verdade,
tratando-se de opinies, a incerteza paira sobre todas as resosas na
medida em que no se levantou um parmetro que permita avaliar nem a
direo nem a magnitude dos erros. O fato de obter uma opinio precisa
sobre o nmero de famlias com casas defnitivas no signifca que essa
opinio corresonda, de forma precisa, realidade. Minha opinio pode
esar equivocada, assim como a dos outros dois entrevisados.
claro que, tratando-se de casas defnitivas, possvel assumir que
muitos dos entrevisados conheam essa informao e a utilizem para
resonder pergunta. A opinio, nese caso, esaria prxima realidade.
Mas para muitas das perguntas, talvez a maioria, a resosa, mesmo
quantitativa, implica um processamento da informao pelo entrevisa-
do, uma avaliao do entrevisado sobre a situao. E, nesse processo, a
informao objetiva transforma-se em opinio. Como no conhecemos
a realidade, no temos como saber em que medida as opinies a refetem
e em que medida dela se disanciam.
Esse , em nossa opinio, o principal problema metodolgico do es-
tudo: no apresentar nenhum parmetro para avaliar o erro das opinies.
Isso poderia ser feito por meio de uma pesquisa amosral menor, que
colheria de forma mais objetiva um subconjunto de informaes contidas
no quesionrio, e as compararia com as opinies qualifcadas obtidas
pelo mtodo utilizado. Medir o erro signifca avaliar a qualifcao dos
entrevisados para resonder o quesionrio, a preciso das resosas. Sem
conhecer a medida do erro, pode-se at argumentar que em muitos casos
Assentamentos em debate 95
as resosas semiquantitativas ou qualitativas so menos incertas do que
as quantitativas, pois a impreciso que as caracerizam (faixas percentuais
ou intensidade) reduz a incerteza ou probabilidade que no corresondam
realidade. Ou seja, mais confvel uma resosa que afrme que poucas
famlias tm casa defnitiva, mesmo no sendo possvel mensurar o tama-
nho de poucas, do que uma resosa que afrme que em minha opinio
x famlias tm casa defnitiva sem saber a preciso da minha resosa.
O segundo ponto refere-se s fontes de opinio. Mais uma vez a idia
muito boa e refete o reconhecimento da importncia de analisar o
tema reforma agrria sob vrias persecivas, refetindo as opinies do
executor direto, dos trabalhadores rurais assentados e das organizaes
sociais que os representam nos assentamentos (p.51). As divergncias de
opinio podem refetir tanto a maneira como cada segmento percebe e
analisa a mesma realidade (p.52), mas podem tambm refetir problemas
de informao que reduzem a prpria validade ou confabilidade dos da-
dos. A presena de resosas diferenciadas entre as trs fontes de opinio
sobre situaes que podem ser retratadas com certa objetividade, como
o nmero de famlias ocupando casas defnitivas, formas de acesso aos
projetos de assentamento, rea ocupada, e assim por diante, no pode ser
tomada como refexo de percepo particular do segmento social, mas
sim como indicador de impreciso. Qual resosa es mais perto da rea-
lidade? Mais uma vez, como no temos um levantamento amosral mais
detalhado da realidade, no possvel resonder pergunta. Tampouco
podemos dizer com segurana que a realidade es entre os extremos, e
voltamos, assim, incerteza quanto validade das resosas.
Tambm a ttulo de exemplifcao, a Figura 1 apresenta um esque-
ma para ilusrar exatamente o argumento acima, tirado do trabalho de
Furtado et alii (2003). Apesar de apresentada de forma sutil, a Figura 1
mosra como o dado quantitativo exige uma interpretao do signifcado
de sua escala, quando se procura avaliar impacos de inovaes. Se h
um aumento de 10% causado por uma inovao, iso pouco ou muito?
A pretenso de que haja objetividade no dado quantitativo cai quando se
mosra necessrio consultar esecialisas para dizer aquilo que poderiam
96 NEAD Debate 8
ter dito diretamente: que a inovao causou um impaco de pequena
monta, de grande monta, ou mesmo que no causou impaco.
Figura 1 Esquema de avaliaes utilizando
dados quantitativos e qualitativos
Fonte: Apud Furtado et alii (2003)
A convergncia de opinies revelaria uma maior confabilidade da
informao na medida em que se reduz probabilidade de trs pessoas,
com posies diferentes, cometerem o mesmo erro. Para que iso seja
verdadeiro, seria preciso assegurar independncia entre os entrevisa-
dos. Aqui se deve chamar ateno para a possibilidade de dois tipos de
contaminao das resosas. O primeiro refere-se a um vis determi-
nado pela prpria posio do ator, problema a que se refere a Figura 1.
O erro, no caso, determinado pelo interesse particular do ator, e, para
ser importante, no precisa necessariamente incorrer em desonesidade
ou disoro explcita dos dados. Usando a prpria incerteza sobre o valor
1 Ver tambm Zackiewicz (2002) para uma discusso metodolgica sobre critrios de ponderao
de dados qualitativos a partir do critrio de consisncia.
Especialistas
Atores
estruturas
de impactos
medidas
de impacto
escalas
qualitativas
Modo 1
Modo 2
medidas
de impacto
escalas
qualitativas
interpretao
das escalas
contexto
de avaliao
Assentamentos em debate 97
da verdadeira informao, o agente apresenta o nmero que mais lhe
convm. O segundo tipo de erro refere-se seleo dos entrevisados.
O funcionrio do Esado, resonsvel pelo projeto de assentamento,
poderia esar interessado em esconder problemas que poderiam revelar
debilidade da sua geso, ou da geso de seu colega de escritrio; poderia
tambm esar interessado em pintar um quadro mais negativo do que de
fato o se iso pode ajud-lo a captar mais recursos para os projetos sobre
sua adminisrao; ou ainda para jusifcar, no futuro, um possvel mau
desempenho, ou para valorizar o desempenho. Nos ltimos anos reali-
zamos vrios trabalhos de avaliao de polticas pblicas, entre as quais
aes de reforma agrria em vrios esados, e enfrentamos esse tipo de
problema de forma recorrente: os funcionrios tendem a dourar a plula
em relao s situaes sobre as quais se sentem diretamente resonsveis
e a carregar nas tintas sempre que a resonsabilidade pode ser atribuda
a outros, seja genericamente o governo, do qual no parecem participar,
seja insituio diretamente resonsvel pela poltica.
No caso do assentado, o vis tambm pode variar, pelo menos teo-
ricamente, para os dois lados. possvel imaginar que melhor pintar
uma situao mais feia para pressionar por mais assisncia, ou que doure
a plula para no dar uma impresso to negativa, com certo receio de
comprometer a prpria poltica. Tambm temos vivenciado essa situao.
Em entrevisas realizadas em 1999 com participantes do Cdula da Terra,
na sua fase inicial, quando o programa esava sob forte bombardeio dos
grupos que se opunham a essa nova poltica, percebemos uma enorme
preocupao, medo mesmo, de muitos entrevisados em resonder temas
que poderiam comprometer o futuro do Programa. Tambm percebemos,
em esudo feito em 2001, que muitos assentados em projetos vinculados
ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), no gosa-
vam de resonder certas perguntas sobre a utilizao das terras e geso
dos recursos dos projetos, indicando que deveramos conversar com a
liderana. Tambm, fcava claro, receio em desafnar e em prejudicar
o projeto. Mas tambm encontramos muitos entrevisados interessados
em detonar os projetos, pois esavam abandonados.
Por ltimo, as opinies dos representantes das associaes tambm
podem ser contaminadas pelo posicionamento poltico-partidrio, que
98 NEAD Debate 8
muito presente no ambiente da reforma agrria. De fato, nas entrevisas
que realizamos em 1999 com 116 presidentes de associaes benefcirias
do Cdula da Terra, e em 2001 com mais de 300 associaes do Cdula
e de projetos de assentamentos do Insituto Nacional de Colonizao e
Reforma Agrria (Incra), o discurso e avaliao sobre a situao do pro-
jeto variava segundo o posicionamento poltico-partidrio da associao:
umas, muito mais crticas, faziam o discurso do abandono; outras, mais
compreensivas, reclamavam da falta de apoio do Incra, mas procuravam
mosrar os progressos que as famlias tinham realizado aps o assentamento.
Em uma pesquisa com desenho amosral adequado possvel que
esses vieses de opinio fossem anulados, e que todos os matizes esivessem
representados entre os selecionados para a entrevisa. Esse no o caso
na pesquisa dirigida, e exise possibilidade da exisncia de pontos focais
e de comportamentos convencionais entre as trs fontes de informao,
fato que debilitaria as vantagens metodolgicas j apontadas (Zackiewicz,
2002). Qualquer um que acompanha os assentamentos sabe que em geral
exise um esreito vnculo entre os funcionrios do Incra resonsveis
pelos projetos e os representantes das associaes. Alm disso, ao solicitar
associao que indicasse um assentado para participar da entrevisa,
tambm provvel que a indicao tenha sido de pessoa ativa na vida
associativa, prxima, portanto, aos prprios representantes da associao.
At que ponto essa proximidade entre tcnicos e representantes das
associaes, e entre esses ltimos e os assentados por eles indicados para
a entrevisa, no implica tambm uma proximidade de opinies? Ou
seja, embora a idia de buscar trs fontes disintas de opinio seja muito
boa, sua aplicao deve ser cercada de alguns cuidados para evitar os
problemas j mencionados. No caso do esudo em foco, no eso claros
os procedimentos operacionais de campo e os critrios de seleo dos
entrevisados, o que, infelizmente, reduz, mas no invalida, a importncia
de explorar as diferenas entre as trs fontes de opinio para o entendi-
mento da qualidade dos assentamentos.
Chama ateno que nas regies Norte, Nordese e Centro-Oese as
opinies do governo, associao e trabalhadores tenham sido muito
prximas em quase todos os ndices, e que no Sul e no Sudese as diver-
gncias tenham sido maiores em vrios ndices. Por exemplo, no ndice
Assentamentos em debate 99
de qualidade de vida, as trs fontes foram muito prximas na regio
Norte (gov. 42; assoc. 42; trab. 41) e no Nordese (gov. 55; assoc. 53; trab.
53), e apresentaram divergncia no Sudese (gov. 64; assoc. 57; trab. 65)
e no Sul (gov. 68; assoc. 71; trab. 65). Esse mesmo comportamento es
presente em outros indicadores.
Qual o signifcado dessas diferenas? A maior convergncia observada
no Norte e no Nordese signifca que a informao mais confvel que no
Sul e no Sudese e que o erro menor? Ou signifca que o mencionado ponto
focal (ou comportamento convencional) mais forte, talvez at mesmo
devido ao maior isolamento dos projetos de assentamento? De qualquer
maneira, a anlise das diferenas de opinio em cada esado poderia, sem
dvida, enriquecer muito a fotografa sobre a situao dos assentamentos
e contribuir para apurar o procedimento metodolgico adotado no esudo.
Anali sando apenas doi s i ndi cadores:
o de efi ccia e o de quali dade
Passemos anlise de dois dos quatro ndices adotados para sintetizar a
qualidade dos assentamentos e para caracerizar o efeito da interveno
do governo na atual situao dos projetos de assentamento no que diz
reseito : a) efccia da reorganizao fundiria; b) qualidade de vida;
c) articulao e organizao social; d) qualidade ambiental e e) ao
operacional (p.47). A Tabela 1 apresenta os componentes dos dois in-
dicadores que sero analisados.
2 Cabe lembrar que os indicadores de ao operacional, articulao e organizao social e qualidade
do meio ambiente, apresentados por Sparovek et alii (2003) na pgina 49, foram utilizados nos
esudos da equipe da Universidade Esadual de Campinas (Unicamp) para avaliao do programa
Cdula da Terra. Ver Buainain et alii (1998).
100 NEAD Debate 8
Tabela 1 Componentes dos indicadores de
eficcia e de qualidade dos assentamentos
Eccia de Reorganizao Fundiria
Numerador Denominador Peso
Nmero de famlias morando no PA Capacidade de assentamento 1,00
Parcelas abandonadas Capacidade de assentamento 0,33
Aglutinao de parcelas Capacidade de assentamento 0,20
rea remanescente rea til 0,07
Porcentagem da rea til ocupada 100 0,07
Qualidade de Vida
Numerador Denominador Peso
Condies de acesso ao PA Percenti 199 dos dados 0,67
Famlias em casas denitivas Famlias morando no PA 1,00
Famlias com abastecimento de gua Famlias morando no PA 0,67
Famlias com tratamento de esgoto Famlias morando no PA 0,33
Famlias com energia eltrica Famlias morando no PA 0,67
Acesso a transporte coletivo Famlias morando no PA 0,33
Acesso por estradas internas Famlias morando no PA 0,33
Acesso escola fundamental Famlias morando no PA 1,00
Acesso escola mdia Famlias morando no PA 0,83
Acesso a servio de sade regular Famlias morando no PA 1,00
Acesso a servio de sade emergencial Famlias morando no PA 0,83
Fonte: Apud Sparovek et alii (2003)
Desaque-se, uma vez mais, que do nosso ponto de visa, a utilizao
dos ndices a maior contribuio do esudo. Em um debate marcado
por fortes posies poltico-ideolgico-partidrias, e alimentado por
elevadas doses de wishiful thinking, em que evidncias objetivas e at
mesmo os fundamentos da lgica, s vezes, tm escasso valor, a gerao
dos ndices tem, pelo menos, o mrito, enorme, diga-se de passagem, de
organizar o debate e a refexo em torno de algo mais objetivo. Como
esamos fazendo a partir da iniciativa do NEAD.
Assentamentos em debate 101
Pode-se at discordar de como os ndices foram consrudos, mas sua
publicao chama ateno para asecos cruciais da vida dos assentamen-
tos como situao da habitao, esradas, qualidade dos solos e es
produzindo uma reao salutar para, de um lado, melhorar a metodologia
e, de outro, identifcar como possvel superar as situaes mais difceis
que os ndices revelam.
Deve-se, desde j, aceitar que os ndices no tm qualquer pretenso
de poder explicar tudo, ou de representar, com preciso milimtrica, a
situao de cada assentamento. Ainda levando em conta os possveis
vieses e ou erros de informao apontados, os ndices so vlidos para
dar uma idia geral da situao dos assentamentos nos asecos mencio-
nados e para orientar, sejam pesquisas mais aprofundadas sobre alguns
asecos mais importantes, sejam aes da poltica pblica. Mais adiante,
comentaremos algo sobre os resultados. Pelo momento, vamos nos ater
a alguns asecos metodolgicos.
Cada ndice composo por um conjunto de variveis relevantes
para explicar a situao. Cada varivel recebe um peso na composio
do ndice, o qual defnido de forma arbitrria. A esratgia utilizada
para consruo dos indicadores engenhosa. Tomemos o caso do ndice
de efccia da reorganizao fundiria (IF) (p.66): a) cria-se um ndice
de depleo, em que 100% corresonde a atingir a plena capacidade do
assentamento na varivel em queso, por exemplo, o nmero atual de
famlias; b) a importncia de cada assentamento , portanto, igual: no
h porque considerar um assentamento mais importante que o outro;
c) agrega-se, utilizando-se pesos, os diferentes componentes do ndice.
Exise, portanto, a relao entre o que poderia ser obtido e a realidade
exisente. Em essncia, essa a lgica que funda o processo de agregao
dos asssentamentos.
Naturalmente, a defnio do peso das variveis refete a percepo
dos autores sobre a importncia da varivel e, certamente, incorpora as
discusses com outros atores que participaram da etapa de planejamento
do esudo.
O exemplo mais difundido o do ndice de Desenvolvimento Humano
(IDH), que agrega em um s ndice variveis referentes educao, renda
e sade. O resultado extremamente sensvel aos fatores de ponderao
102 NEAD Debate 8
utilizados, e, para evitar erros, ou at mesmo manipulaes, cosuma-se
reunir diferentes esecialisas para defnir o fator de ponderao. Por
exemplo, qual seria o IDH caso se atribusse maior peso renda e sade
do que educao? Pode-se argumentar que a educao importante
indicador de desenvolvimento humano na medida em que es na base
da possibilidade de insero na sociedade contempornea e que es for-
temente associada a outros indicadores de bem-esar social. Mas tambm
possvel argumentar que seu peso menor do que o da sade e o da
renda, que afetam a qualidade de vida no momento, enquanto a educao,
principalmente a dos jovens, s se transformar em desenvolvimento
efetivo no futuro. Esse tipo de argumento levaria a atribuir maior peso
sade e renda do que educao.
Tal discusso tem impulsionado a difuso da metodologia denominada
multicritrio, que no apenas recolhe as opinies de esecialisas como
tambm permite esimar o mesmo indicador sob critrios diferentes. Em
uma abordagem de multicritrio, os fatores que determinam a ponderao
so explicitados e os resultados apresentados sob os diferentes critrios
relevantes. Fica ao leitor/usurio defnir aquele que melhor se aplica a
seus objetivos e anlise. (Furtado et alii, 2003).
Sparovek et alii (2003) so absolutamente transarentes em relao
aos fatores de ponderao adotados e apresentam, para cada ndice,
o fator de multiplicao utilizado, como fcou evidente na Tabela 1.
A apresentao de uma breve jusifcativa dos pesos atribudos ajudaria
os leitores a melhor compreender os resultados, e em particular os efei-
tos de cada varivel sobre o resultado (tratados como depleo), mas,
em linhas gerais, os fatores de ponderao eso alinhados com o senso
comum e, pelo menos a ordenao, no parece ser objeto de polmicas
(salvo, em nossa opinio, o sinal atribudo aglutinao de parcelas no
ndice de efccia da reorganizao fundiria). Passemos refexo sobre
dois dos ndices reorganizao fundiria e qualidade de vida , apenas
para ilusrar as possibilidades analticas que se abrem e os cuidados que
se deve ter na utilizao dos indicadores.
Assentamentos em debate 103
ndi ce de efi ccia da reorgani zao fundiria
O ndice de efccia da reorganizao fundiria tem como objetivo avaliar
o impaco que a criao do projeto de assentamento teve na converso
do latifndio improdutivo, considerando a sua reorganizao para uma
situao caracersica de produo familiar (p.48). Tomando como base
a meta de assentamento (capacidade de assentamento), o ndice leva em
conta o nmero de famlias morando no PA, as parcelas abandonadas,
a aglutinao de parcelas, a rea remanescente e a porcentagem da rea
til ocupada.
Um primeiro ponto sobre o qual vale refetir se a efccia da reor-
ganizao fundiria pode ser avaliada apenas a partir da consatao de
que o latifndio improdutivo foi redisribudo em um nmero maior de
parcelas. Do ponto de visa do debate terico, susenta-se que a diviso
da terra produziria uma utilizao mais intensiva e efciente dos recursos
disonveis. Essa hiptese baseada em evidncias empricas slidas, mas
no pode ser assumida como verdadeira ex-ante, at porque em muitas
situaes os recursos so melhor utilizados em regime de grandes pro-
priedades do que sob parcelamento.
No Brasil, o trabalho de Guanziroli et alii (2001) sobre a agricultura
familiar evidencia que, na mdia, os recursos terra, capital e trabalho,
alocados nesse regime, so utilizados de maneira mais intensiva que
aqueles alocados s grandes propriedades patronais. Da no se deriva,
no entanto, que a diviso da grande propriedade produza, por si s, uma
utilizao mais intensiva e efciente da terra. Em Portugal, a reforma agrria
realizada aps a Revoluo dos Cravos produziu uma desorganizao da
produo, e os recursos parcelados passaram a render muito menos do
que no regime anterior. A reintegrao da posse aos antigos proprietrios
marca o incio de um uso mais intensivo dos recursos que recolocou
Portugal no mapa de produtor agropecurio na Unio Europia.
Ou seja, do nosso ponto de visa, um ndice de efccia da reorga-
nizao fundiria deveria incorporar, em alguma medida, variveis
que refetissem a utilizao dos recursos no novo regime, os resultados
alcanados em termos de gerao de riqueza e renda, e que pudessem
ser comparados com uma esimativa dos rendimentos produzidos antes
104 NEAD Debate 8
da desapropriao. A disribuio no pode ser tratada como um fm
em si mesmo, mas apenas como um meio para melhor ocupar as terras
e para que as famlias benefcirias alcancem melhor nvel de vida. Pelo
menos esse o argumento para jusifcar a desapropriao das terras
consideradas improdutivas.
Esse ponto es no cerne do prprio debate sobre a reforma agrria, e
o ndice de reorganizao, tal como es concebido, refete a viso de que
o objetivo da reforma disribuir as terras, e que a efccia da reorganiza-
o pode ser avaliada apenas pela performance redisributiva e no pelo
resultado da redisribuio. Claro que possvel argumentar que, aps a
redisribuio, a situao ser sempre melhor que a anterior na medida
que melhor que a terra seja mal utilizada por vrias famlias que por
um nico proprietrio. Do nosso ponto de visa, a jusifcativa econmica
da reforma agrria produzir um uso mais efciente e susentvel dos
recursos, e sua fnalidade permitir s famlias benefcirias elevarem
seu nvel de vida. Dessa forma, a efccia da reorganizao no poderia
ser avaliada a partir apenas de variveis que do conta da redisribuio,
mas que nada revelam sobre a utilizao dos recursos redisribudos.
Um segundo ponto sobre a composio do ndice de efccia da re-
organizao fundiria diz reseito ao tratamento dado a algumas das
variveis. Por exemplo, a aglutinao de parcelas parece entrar como fator
negativo no ndice, quando em muitos casos , jusamente, um sinal de
que a reorganizao fundiria es sendo bem-sucedida. No trabalho de
avaliao do Programa Esecial de Crdito para a Reforma Agrria (Pro-
cera), realizado em 1998, Buainain e Souza Filho (1999) confrmaram que,
em muitos casos, a aglutinao, feita sempre por baixo do pano, corrigia
problemas de seleo de benefcirios, de diviso artifcial de lotes e per-
mitia aos assentados mais empreendedores, e com melhores condies,
expandir sua produo. Da mesma forma, uma maior concentrao de
famlias, ainda que possa revelar uma maior presso sobre a terra, com
risco de reproduzir ou acentuar o grave problema do minifndio, pode
tambm indicar que, pelo menos no curto prazo, os recursos eso sendo
mais bem utilizados. A interpretao dada ao nmero de famlias morando
no lote tambm controvertida. Em assentamentos nas regies Norte e
Centro-Oese, que so em geral afasados das cidades e povoados rurais,
Assentamentos em debate 105
no morar no assentamento pode, sem dvida, ser interpretado como sinal
negativo, de abandono, falta de condies e, at mesmo, de perseciva.
Isso no verdadeiro no Nordese, e menos ainda no Sul e Sudese, onde
muitos projetos de assentamento eso prximos s cidades, ou povoados
rurais. Nesses casos, a deciso de morar fora do assentamento tem um outro
signifcado, e no compromete em nada a boa geso da unidade produtiva.
Em pesquisa realizada em 2001 em cinco esados do Nordese, Buainain
et alii (2002) confrmaram que quase 50% das famlias benefcirias de
assentamentos do Cdula da Terra e do Incra j tinham casa prpria, em
povoados rurais ou centros urbanos, antes de receber os lotes. As famlias
esavam insaladas, com os flhos freqentando escolas locais, alguns com
ocupao e por isso no tinham e nem pensavam em se mudar para o
assentamento. Em muitos casos, a consruo compulsria de casa no
PA era um verdadeiro deserdcio de recursos, e muitos reclamavam
de forma bem explcita de no poder utilizar os recursos de ajuda para
habitao ou para melhorar a casa j exisente, ainda que fora do projeto
de assentamento, ou para fnalidade produtiva.
A ltima considerao sobre o percentual da rea til ocupada,
nica varivel que tem alguma relao com o uso do recurso disribudo.
A ocupao, no caso, no pode ser traduzida em utilizao de forma au-
tomtica. A falha nese caso no incorporar nenhuma medida de tempo
ao considerar o peso desa varivel. Temos argumentado que a reforma
agrria um processo de reesruturao de longo prazo, e que as avalia-
es so necessrias, mas devem ser cuidadosas e no exigir resultados
imediatos de uma populao que chega aos projetos de assentamento
sem recursos e sem condies de colocar invesimentos em marcha. No
caso da rea til ocupada, o tempo crucial para a ponderao. Uma
baixa rea til ocupada em um projeto de assentamento criado h poucos
anos no pode ser tomada como sinal negativo de efccia de reorgani-
zao fundiria. Alm disso, o tempo para a ocupao da rea til no
depende apenas de crdito, mas de outros fatores, tais como a situao da
propriedade antes da desapropriao, regio, condies meio ambientais,
nmero de famlias do assentamento, entre outras. Por exemplo, a anlise
dos projetos do Cdula da Terra revelou que muitas fazendas adquiridas
esavam esruturadas para um tipo de explorao que no era vivel
106 NEAD Debate 8
para os novos proprietrios, em regime individual, e sua reconverso
exigia invesimentos adicionais, enquanto outras podiam ser adaptadas
mais facilmente aos objetivos e necessidades das famlias assentadas.
A diferena de tempo para incorporar as reas teis no pode ser avaliada
como maior ou menor efccia sem levar em conta esse tipo de fator.
Esses comentrios revelam a difculdade de se criar um ndice nico
para avaliar e medir algo to complexo como a reorganizao fundiria.
No entanto, independente dos comentrios, que tem o sentido de qua-
lifcar a anlise e no de invalid-la, o fato que o esudo gerou indica-
dores sobre cada uma das variveis, e nos permite utiliz-los segundo
as diferentes concepes e objetivos. A disonibilizao dos dados para
uso geral permitir um conjunto de cruzamentos de informaes para
tesar, validar ou refutar hipteses e teses importantes sobre o compor-
tamento dos projetos de assentamento. Por exemplo, ser de fato que a
evidncia colhida por Buainain et alii (2002) sobre morar ou no nos
assentamentos vlida? Iso poderia ser tesado cruzando esa varivel
com a varivel de localizao do PA em uma anlise multivariada. Ser
que a ocupao da rea es relacionada a fatores locacionais, ou ao tempo
de assentamento?
Os trabalhos de Buainain et alii (2003) tesaram e refutaram a hiptese
de que o tempo era uma varivel importante na determinao da renda.
A confrmao desse resultado seria basante negativa para a reforma
agrria na medida que esaria indicando que as famlias no elevam seu
nvel de renda com o passar do tempo, e que no esariam em curso pro-
cessos de consolidao das unidades produtivas. Como os resultados da
esimativa eram pouco robusos do ponto de visa esatsico, a queso
fcou em aberto e sem resosa. Um cruzamento da utilizao da terra
com o tempo de assentamento e alguns dos fatores locacionais poderia
ajudar a separar os projetos de assentamento segundo o tempo exigido
para sua maturao, e esa informao poderia ser til para fxar metas
para avaliaes futuras de desempenho (que mais dia ou menos dia ter
que ser introduzida e exigida).
Assentamentos em debate 107
ndi ce de quali dade de vi da
O ndice de qualidade de vida es assentado fundamentalmente em
acesso a servios e condies de moradia no PA. O fator de ponderao,
nesse caso, foi sempre o nmero de moradores no PA, conforme Spa-
rovek et alii (2003, p. 50). Os prprios autores chamam a ateno que o
ndice es desvinculado das metas proposas na criao do projeto de
assentamento, e que se em um assentamento criado para 200 famlias
s viverem 50 famlias em boas condies, o ndice vai ser elevado,
mesmo que isso, comparado capacidade de assentamento represente
que a meta inicial eseja longe de ser atingida (p.50). Aqui fca evidente
um ponto que de uma maneira sutil es presente em todo o trabalho.
De um lado, o objetivo avaliar a qualidade dos assentamentos, mas de
outro esse objetivo acaba sendo confundido com o de avaliar a poltica
de reforma agrria e seus insrumentos. No caso do ndice de qualidade
de vida, desvincula-se o resultado da poltica, e a se gera o paradoxo de
um resultado timo (50 famlias vivendo bem) que refete um fracasso
da poltica (apenas 50 e no 200 famlias vivendo bem). A queso :
jusifcar-se-ia o invesimento nese projeto de assentamento hipottico
para benefciar apenas 50 famlias?
Note-se a presena de dois pesos e duas medidas na consruo dos
ndices: no caso anterior do ndice de efccia da reorganizao fundiria,
o foco parece ser avaliar a poltica desde o ponto de visa do planeja-
mento, pois os resultados mesmo positivos que no se enquadram
na previso foram penalizados apenas por divergirem do plano original.
Com o perdo da obviedade, claro que um ndice de qualidade de
vida deve refetir a qualidade de vida das famlias, mas seria basante
interessante cruzar a informao gerada por esse ndice com a referente
capacidade de assentamento, e avaliar se h alguma correlao entre o
comportamento das duas.
Uma das hipteses levantadas por Buainain et alii (2002) na an-
lise do modelo de reforma agrria por confito que as presses para
assentar o maior nmero possvel de famlias levou deteriorao dos
projetos de assentamento, comprometendo, em muitos casos, a prpria
susentabilidade e viabilidade de muitos projetos. O resultado do esudo
108 NEAD Debate 8
parece confrmar essa hiptese, j que a comparao entre os projetos
de assentamento implantados no perodo 1985-1994 com os do perodo
1995-2001 revelam que a situao dos primeiros melhor. No entanto, esse
resultado no pode ser tomado ao p da letra pela desconsiderao do
fator tempo em vrios ndices, j comentado antes. Por isso seria til cruzar
as informaes sobre qualidade de vida e capacidade de assentamento
no mesmo perodo, e avaliar como o comportamento da qualidade de
vida em diferentes situaes.
Essa avaliao poderia tambm alimentar o debate sobre a importncia
da escala para a viabilidade dos projetos de assentamento. Uma hiptese
que o modelo vigente produz assentamentos cada vez menores, disersos
esacialmente, difcultando, portanto, as aes do setor pblico, a proviso
de servios, a criao e aproveitamento das vantagens que poderiam ser
geradas pela aglomerao. Pode-se inferir que a hiptese tem funda-
mento a partir do trabalho de Leite et alii (2004), que evidencia que, em
municpios com maior nmero de assentamentos, os efeitos da reforma
agrria so relevantes. No entanto, o trabalho no foca no tamanho dos
assentamentos, mas no efeito da aglomerao. Qual o comportamento
da qualidade de vida segundo o tamanho do projeto de assentamento?
Exise alguma correlao entre tamanho e qualidade? Qual?
Podem-se levantar dois tipos de problemas em relao ao ndice
de qualidade de vida. O primeiro, mais srio, no levar em conta duas
variveis absolutamente fundamentais na determinao da qualidade de
vida: renda e segurana alimentar. A qualidade de vida de uma famlia
que tem casa defnitiva no PA , sem dvida, superior de um vizinho
que ainda vive no barraco de taipa, em cho batido e teto de palha. Ainda
assim, ambos podem ter uma pssima qualidade de vida se no tiverem um
nvel mnimo de renda, e viverem em situao de insegurana alimentar.
Foi precisamente essa combinao que presenciamos na pesquisa realizada
em 2001, com mais de 600 famlias, que viviam em reas afetadas pela
seca: sem renda, ocupao e alimentos, dependiam quase inteiramente
dos programas de auxlio do governo federal.
A importncia da incluso da renda em um ndice de qualidade de vida
tambm se jusifca pelo formato da prpria interveno. A transferncia
de recursos pblicos para populaes pobres tende a produzir efeitos
Assentamentos em debate 109
positivos imediatos no bem-esar, mas no asseguram a susentabilidade
desses efeitos. A ajuda para habitao melhora as condies de moradia,
cuja importncia no pode ser minimizada, mas se no for acompanhada
da elevao da renda o efeito sobre a prpria qualidade de vida tende
a ser diminudo. Em trabalho recente sobre o Programa de Combate
Pobreza Rural no Nordese (Buainain et aliii, 2004), ao analisar os efeitos
de subprojetos de habitao e eletrifcao, consatamos que os efeitos
positivos so muito mais signifcativos para as famlias com um nvel de
renda um pouco melhor, que tm condies de utilizar melhor a nova
habitao e a disonibilidade de energia. Para as mais pobres, por exemplo,
a energia signifca apenas um ponto de iluminao na casa; para as que
tm alguma renda, a energia traz a televiso, aparelho de som, geladeira
e assim por diante. O mesmo vale para a casa.
O segundo tipo de problema refere-se a uma certa confuso entre
acesso a servios pblicos e qualidade de vida, que refete um vis ur-
bano. Por exemplo, o cidado pode ter acesso a servio de sade regular
(um tanto indefnido o signifcado desse acesso) e ter uma pssima
sade. Pode tambm ter acesso a servio emergencial de sade (outra
varivel de signifcado complicado) e isso no se refetir diretamente
em sua qualidade de vida cotidiana. Esecialmente no meio rural, em
assentamentos disantes dos centros urbanos, com esradas que funcio-
nam s parte do ano, qual o signifcado de acesso a servio emergencial
de sade? E o transorte coletivo? Em muitas reas de baixa densidade
populacional, o relevante no ter acesso a transorte coletivo, e sim a
transorte. provvel que uma pesquisa desse tipo, realizada no meio-
oese americano, regio rica em produo de cereais, revelaria um ndice
baixo de famlias com acesso a transorte coletivo: os fazendeiros usam
transorte prprio. No caso dos assentados, o transorte no prprio
(embora seja crescente o uso de motocicletas como meio de locomoo),
e a queso-chave seria saber se contam com algum tipo de transorte
regular, e no com transorte coletivo. O tratamento de esgoto , sem
dvida, relevante para a qualidade de vida, mas o risco aqui de no se
levar em conta realidade do meio rural. Uma famlia que tenha fossa
sanitria no tem esgoto tratado, e os programas da Fundao Nacional
de Sade de consruir banheiros no meio rural no signifcam tratamento
110 NEAD Debate 8
de esgoto. Tm um enorme impaco na qualidade de vida, em particular
na sade e mortalidade infantil, e teriam fcado rigorosamente de fora
do ndice de qualidade de vida.
O mesmo tipo de raciocnio pode ser feito para abasecimento de
gua. Uma famlia que tenha uma ciserna no pode ser considerada
como tendo abasecimento de gua e, ainda assim, a insalao de uma
ciserna no semi-rido traz um benefcio enorme e tm um forte im-
paco positivo sobre a qualidade de vida das famlias, como consatado
por Buainain et alii (2004) em pesquisa em 160 comunidades pobres do
interior nordesino. Isso sugere a necessidade de introduzir algum tipo de
ponderao por regio: no possvel atribuir o mesmo peso presena
de abasecimento de gua na regio Norte e no semi-rido nordesino. Em
um caso, provvel que a falta do abasecimento de gua no tenha tanto
efeito negativo sobre a qualidade de vida de uma famlia que vive entre
rios e igaraps, mas no semi-rido uma ciserna pode fazer a diferena
entre vida e morte, pelo menos no sentido fgurado.
Em nossa opinio, o melhor teria sido a consruo de um ndice
mais reduzido de qualidade de vida, focando algumas poucas variveis
relevantes e com comparabilidade com as bases de dados mais gerais,
como a Pesquisa Nacional por Amosra de Domiclios (PNAD) e o Censo
Demogrfco. Isso permitiria situar a qualidade de vida dos assentados
no conjunto da populao rural do pas. Ningum parece duvidar que a
qualidade de vida inferior desejvel, mas, do ponto de visa da poltica
pblica, uma queso relevante comparar a situao dos assentados com
a dos vizinhos no assentados. Um resultado positivo poderia indicar
que, em que pese todos os problemas, es valendo a pena realizar a re-
forma agrria. Assim como es, isolado, o ndice serve para alimentar a
crtica oposa, de que apesar dos gasos com reforma agrria, a situao
continua muito mal e de que os projetos de assentamento so, em sua
maioria, favelas rurais.
Consi deraes fi nai s
A elaborao do esudo e a abertura do banco de dados para uso pblico
criam grandes oportunidades para anlises futuras sobre queses rele-
Assentamentos em debate 111
vantes para a compreenso da reforma agrria no Brasil. Uma primeira
linha de trabalho, que deveria ser assumida pelo prprio Esado, a
realizao de esudos amosrais para gerar parmetros de validao da
metodologia. Isso permitiria a reproduo do esudo no futuro, seja na
totalidade ou parte dele, com maior confabilidade e segurana.
Uma segunda linha de trabalho, imediata, que depende apenas da
abertura dos dados, realizar cruzamentos das informaes disonveis.
O esudo apresenta os ndices de forma esanque, e no procura porque
no era o objetivo do trabalho contratado explorar as ricas relaes
entre as variveis. Ao longo do texto, j demos alguns exemplos, mas vale
a pena indicar outros. Qual a relao entre qualidade de vida nos assen-
tamentos e a sua localizao? Qual a importncia da qualidade do meio
ambiente para explicar outros asecos, como a renda, no assentamento?
Assentamentos com maior porcentagem de preservao ambiental tm
maior ou menor nvel de renda?
Outra linha de invesigao possvel o aprofundamento dos asecos
regionais e locais, atribuindo pesos diferenciados segundo as condies
de cada regio.
Finalmente, sugere-se uma refexo sobre os ndices, separando cla-
ramente ndices que refetem a ao da poltica (como o ndice de ao
operacional) dos ndices situacionais, como o de qualidade de vida e de
articulao e organizao social.
Bi bli ografia
Buai nai n, A. M.; Si lvei ra, J. M. F.; Magalhes, M. M; Artes,
R.; Souza Fi lho, H. M.; Neder, H. D.; Leon, F.; Plata, L. A. Perfl
dos benefcirios PCT e Incra-2001 Relatrio de Pesquisa. 2002. 393p.
mimeo (Convnio Fecamp/NEAD-MDA).
Buai nai n, A. M; Fonseca, R. B.; Pedrosa, D.; Bazi n, F.; Ne-
der, H.; Souza Fi lho, H. M; Si lvei ra, J. M.; Melo, M.; Maga-
lhes, M.; Vi tal, M.; Rocha De Sousa, M.; Buai nai n, V. Esudo
de avaliao de impacos do programa Cdula da Terra. Relatrio Final.
2003. 213p. mimeo (Convnio Fecamp/NEAD-MDA World Bank)
112 NEAD Debate 8
Buai nai n, A. M e Souza-filho, H. M. Procera: impacos produtivos
e capacidade de pagamento. Braslia: 1998. mimeo (Convnio FAO/Incra)
Buai nai n, A. M. et alii Projeto de combate pobreza rural (Renas-
cer): funcionamento e resultados imediatos. Relatrio de Pesquisa. 2004.
235p. mimeo (Convnio IICA/Seplandes/PE)
Buai nai n, A. M.; Si lvei ra, Maletta, H.; Si lvei ra, J. M. F.
J. da, Perei ra, P. L. V.; Artes, R.; Zaroni , M.; Magalhes, M.
M. Metodologia de avaliao de impacos scio-econmicos. Campinas:
IE/Unicamp, NEAD-MDA, Banco Mundial, 1998. 210p. mimeo
Furtado, A. T. (coord.) Polticas pblicas para a inovao tecno-
lgica na agricultura do esado de So Paulo: mtodos para avaliao de
impacos de pesquisa. Relatrio fnal de pesquisa apresentado Fapes.
Campinas: DPCT/Unicamp, 2003.
Guanzi roli et al. Agricultura familiar e reforma agrria no sculo
XXI. Rio de Janeiro: Garamond, 2001.
Lei te, Srgio Pereira et al. Impacos dos assentamentos: um esudo
sobre o meio rural brasileiro. Braslia: Insituto Interamericano de Coope-
rao para a Agricultura: Ncleo de Esudos Agrrios e Desenvolvimento
Rural; So Paulo: Ed. Unes (co-editora e disribuidora), 2004.
Pereira, J. C. Anlise de dados qualitativos: esratgia metodolgicas
para as cincias da sade, humanas e sociais. So Paulo: Edus, 1999. 156 p.
Sparovek, G. (org.) A Qualidade dos assentamentos de reforma
agrria brasileira. USP/MDA/FAO, 2003. 204p.
Zaci ewi cz, M et alii. Uma proposa metodolgica para avaliao de
impacos econmicos de programas de inovao tecnolgica. Geopi/DPCT-
Unicamp, 2002. 30p. mimeo
Impactos socioterritoriais da luta pela
terra e a questo da reforma agrria
Uma contri bui o cr ti ca publi cao
A Quali dade dos Assentamentos da
Reforma Agrria Brasi lei ra
Bernardo Manano Fernandes
Gegrafo. Departamento de Geografa da Universidade Estadual Paulista
Jlio de Mesquita Filho (Unesp), campus de Presidente Prudente (SP).
2.5
114 NEAD Debate 8
Introduo
E
se artigo, solicitado pelo Ncleo de Esudos Agrrios e Desenvol-
vimento Rural do Minisrio do Desenvolvimento Agrrio (NEAD/
MDA) uma anlise crtica da publicao A Qualidade dos Assentamentos
da Reforma Agrria Brasileira (Sparovek, 2003). uma colaborao com a
discusso metodolgica da pesquisa em assentamentos rurais. Na primeira
parte, procuramos resonder s queses referentes s contribuies da
pesquisa para os esudos geogrfcos, a adequao da metodologia, suas
vantagens e resries, e algumas consideraes a reseito das queses
formuladas para os sujeitos pesquisados.
Na segunda parte, discutimos o conceito de reforma agrria a partir
do debate entre disintos projetos polticos e analisamos os impacos das
polticas de assentamentos na esrutura fundiria brasileira, procurando
compreender as diferencialidades territoriais e os diferenciais de territo-
rializao e de deserritorializao.
Analisamos a queso agrria e a reforma agrria a partir do conceito
de territrio. O territrio uma unidade esacial onde se desenvolvem
diferentes relaes sociais, por exemplo: capitalisas e familiares, que
confitam permanentemente, aumentando ou diminuindo suas extenses.
Essas unidades esaciais so fraes territoriais. O aumento do nmero
de unidades esaciais ou fraes territoriais onde se desenvolvem rela-
es capitalisas amplia o territrio capitalisa. O aumento do nmero de
unidades esaciais ou fraes territoriais onde se desenvolvem relaes
camponesas (familiares) amplia o territrio campons.
Esse aumento acontece pelo processo geogrfco de territorializao
e a sua diminuio acontece pelo processo geogrfco de deserritoriali-
zao. Nesse sentido, diferencialidade territorial a participao relativa
Assentamentos em debate 115
dos esabelecimentos por grupo de rea. Diferencial de territorializao
participao absoluta das reas por grupos. A partir da diferencialidade
territorial conhecemos a participao percentual dos esabelecimentos
pequenos, mdios e grandes em um determinado territrio. Por meio do
diferencial de territorializao conhecemos a participao absoluta dos
esabelecimentos de diferentes tamanhos. Esses conceitos contribuem
para acompanharmos as mudanas na esrutura fundiria.
Na terceira parte, discutimos o ndice de efccia da reorganizao
fundiria relacionado com os dados referentes implantao de assen-
tamentos e ocupaes de terra. Tambm associamos os valores mdios
do ndice de qualidade de vida com os valores mdios do ndice de ao
operacional e com os valores mdios do ndice de articulao de orga-
nizao social, para analisar o refuxo dos movimentos camponeses e a
precarizao dos assentamentos rurais.
Procuramos, ao mesmo tempo, fazer nossas consideraes a reseito
da metodologia desa pesquisa e apresentar relaes com as pesquisas
que realizamos.
Consi deraes a respei to das contri bui es
e condi ci onantes da pesqui sa
Os dados apresentados na publicao A Qualidade dos Assentamentos
da Reforma Agrria Brasileira so uma importante contribuio para
o esudo do processo de territorializao da luta pela terra em todas as
regies do pas. Igualmente, uma referncia que ajuda na compreenso
de parte das condies socioeconmicas das famlias assentadas a partir
de trs pontos de visas: a) do tcnico profssional ou empreendedor
social, como foi denominado; b) do presidente ou membro da diretoria
da organizao associativa dos assentados e; c) de um lder comunitrio
identifcado pelo empreendedor social.
Para uma anlise geogrfca, a sisematizao dos dados nas escalas
nacional, macrorregional e esadual possibilita uma leitura da diferen-
ciao esacial dos resultados da pesquisa, permitindo a realizao de
novas pesquisas para comparao de esaos geogrfcos disintos e/ou
que possuam similitudes.
116 NEAD Debate 8
A metodologia adotada na realizao da pesquisa inova ao traba-
lhar com as opinies de trs sujeitos que realizam atividades polticas
disintas nos assentamentos rurais. Essas atividades tm em comum o
desenvolvimento territorial, embora tenham como referncias diferentes
projetos polticos. Talvez, por essa razo, os resultados das resosas dos
diversos sujeitos foram muito prximos na maior parte das vezes. Por ser
uma pesquisa predominantemente quantitativa, no aparecem as dife-
renas dos projetos polticos em desenvolvimento. Essa uma resrio
da metodologia. Outro limite com relao escala geogrfca, pois a
metodologia no possibilita resultados confveis em escala municipal
ou mesmo em escala local (assentamento). A principal vantagem dessa
metodologia es na possibilidade de realizao de uma pesquisa que
conjuga amplitude e rapidez, ou seja, pesquisar em escala nacional em
um tempo breve.
Se considerarmos que os resultados das pesquisas aplicadas devem
servir tambm para a implementao de polticas pblicas de desenvol-
vimento territorial dos assentamentos, mesmo que em escala esadual,
algumas queses deveriam ter sido contempladas na realizao da
pesquisa. Um exemplo a composio dos membros das famlias, sexo,
esado civil, faixa etria, escolaridade, analfabetismo, etc.
Com relao educao, para os movimentos socioterritoriais como,
por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST)
ou a Confederao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag),
o acesso educao bsica no signifca apenas o acesso escola, mas
principalmente escola no assentamento e com projeto pedaggico da
educao do campo. Nesse sentido, as queses referentes s famlias com
flhos em idade escolar que freqentam os nveis de ensino fundamental
e ensino mdio so insufcientes, porque no localizam a escola, nem
a sua poltica educacional. Falta, tambm, uma queso a reseito da
participao no ensino superior.
Com relao produo, foi levantada somente a rea desinada
produo coletiva, que nfma, como a maior parte dos pesquisadores
da queso agrria j sabe. No foi pesquisada a produo familiar em
sua diversidade social e geogrfca. Para uma pesquisa em escala nacional,
a queso essencial.
Assentamentos em debate 117
As observaes tm sentido se a metodologia puder comportar esses
nveis de detalhamento, considerando sua principal caracersica que
conjuga amplitude e rapidez as fzemos a partir do pretensioso ttulo da
publicao A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira.
Os terri tri os do debate teri co
pol ti co sobre a reforma agrria
Nesa parte, discutiremos a queso da reforma agrria na ltima dcada
a partir das leituras que esamos consruindo no Ncleo de Esudos, Pes-
quisas e Projetos de Reforma agrria (Nera), vinculado ao Departamento
de Geografa da Unes, campus de Presidente Prudente. Na discusso, nos
remeteremos sempre publicao em queso, de modo a dimensionar o
debate, tentando aprofund-lo e apresentando nosso ponto de visa.
Iniciamos a discusso a partir da queso conceitual de reforma agr-
ria. Em Sparovek (2003, cap. 2, p. 5-38), h uma importante discusso
a reseito do debate conceitual e das experincias de reforma agrria.
Foram apresentadas diferentes acepes do termo reforma agrria, que
variam desde a realizao de polticas pblicas como crditos agrcolas,
assisncia tcnica, garantia de preos, etc., ao processo de redisribuio
da propriedade da terra, fundamental para mudanas polticas, econ-
micas e sociais, portanto, territoriais. Esse conjunto de polticas faz parte
do contedo do conceito de reforma agrria.
O conceito de reforma agrria expressa processos composos de dife-
rentes dimenses. Os modos de realizao desses processos transformam
o conceito em territrios tericos e polticos apropriados por diferentes
insituies. Essas apropriaes aplicam disintas esecifcidades ao
conceito, que tem sido defnido como poltica compensatria, apenas
para minimizar os confitos por terra, ou como revoluo, como uma
possibilidade de transformao da sociedade.
Essas defnies eso em debate hoje nas polticas de assentamentos
rurais implantadas por diversos governos desde a dcada de 1960. En-
quanto se faz o debate, milhares de assentamentos so criados por causa
da intensa luta popular realizada pelos movimentos camponeses por
118 NEAD Debate 8
meio da ocupao de terra. Nesse tempo, o conceito de reforma agrria
foi transformado em territrios em disuta.
A defnio de reforma agrria como poltica compensatria expressa
um processo de controle social dos movimentos camponeses pelo Esado,
sob infuncia direta do capital. A poltica compensatria uma forma
de tratamento terminal do campesinato. A aposa no fm do campesinato
no se efetua como se tem eserado, de modo que a poltica compensa-
tria mantm os movimentos na UTI. Alguns movimentos camponeses,
que tm como prtica as polticas de resultados e de consensos imposos,
aceitam as polticas compensatrias.
A defnio de reforma agrria como revoluo poltica de transfor-
mao socioeconmica expressa um processo de enfrentamentos per-
manentes. Essa compreenso defendida por movimentos camponeses,
esecialmente os vinculados Via Campesina. A posio es fundada
na diferenciao do campesinato pela renda capitalizada da terra. Essa
a essncia da queso agrria e sua soluo s possvel com a superao
do modo capitalisa de produo.
Essas defnies so territrios em disuta no cotidiano da sociedade
e so percebidas tanto nos peridicos de circulao nacional como nos
trabalhos cientfcos de diferentes correntes tericas. Esses territrios so
projetos polticos de insituies diversas e se materializam simultanea-
mente nos campos e nas cidades, territorializando-se, sendo deserrito-
rializados e reterritorializando-se. Compreender esses movimentos no
dia-a-dia um desafo enorme para a cincia e para a poltica.
Os resultados, os consensos e os enfrentamentos so utilizados por
oportunisas para negar as condies de desenvolvimento da agricultura
camponesa, procurando desqualifcar as experincias em andamento, ocul-
tando a complexidade desse processo por meio de uma literatura banal.
Os territrios dos projetos de polticas compensatrias e dos projetos
de persecivas revolucionrias eso inseridos no esao de realizao das
lutas pela terra e pela reforma agrria. Nas disutas pelos projetos e terri-
trios acontecem um processo combinado de ressocializao e excluso.
exatamente essa frao de realidade que a publicao A Qualidade dos
Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira captou. Como so territrios
em disuta, podemos ter diferentes interpretaes dessa parte da realidade,
Assentamentos em debate 119
porque ela contm o sucesso e o fracasso, o avano e o retrocesso, que
so resultados dos projetos polticos em desenvolvimento.
Essas diferentes leituras eso contidas nos projetos polticos e ter-
ritoriais que acreditam na agricultura camponesa como modelo de
desenvolvimento ou que a vem como uma poltica de controle social
do capital. Nesse sentido, o trabalho de Sparovek et alii (2003) uma
importante referncia para compreender os assentamentos como uma
forma de desenvolvimento da agricultura camponesa, portanto de rea-
lizao da reforma agrria.
No debate sobre as diferentes leituras, uma grande difculdade en-
contrada conhecer quais os impacos que as polticas de assentamentos
causaram na esrutura fundiria brasileira. Sparovek et alii (2003, p. 14-21)
apresentam diversas fontes a reseito da queso, bem como as mudan-
as relativas s metodologias de pesquisa, o que tem difcultado anlises
comparativas. Embora a anlise presente no livro demonsre a persisncia
da concentrao da terra, apesar do conjunto das denominadas polticas
de reforma agrrias j realizadas, no apresenta os impacos das polticas
de assentamentos na esrutura fundiria.
No Brasil, um desafo enorme trabalhar com os dados referentes
queso da propriedade da terra. Procurando enfrentar esse desafo e
para contribuir com o debate, apresentamos uma anlise na tentativa
de compreender se as polticas de assentamentos modifcaram ou no a
esrutura fundiria brasileira.
Jos Gomes da Silva, citado por Sparovek et alii (2003, p. 8), afrmou
que um projeto de reforma agrria deve desconcentrar a esrutura fundi-
ria e ser realizado em um perodo de uma gerao. Em nossas pesquisas
(Fernandes, 1996), observamos que flhos de assentados consituram
famlias, ocuparam a terra e foram assentados. Es em formao uma
segunda gerao de flhos de assentados sem que a queso da terra tenha
sido resolvida. Portanto, essa premissa caiu por terra. Resa-nos saber se
es acontecendo a desconcentrao fundiria.
Outra queso importante que desde a segunda metade da dcada
de 1990, a reforma agrria deixou de ser somente uma poltica de desa-
propriao de terras pelo Esado. Passou a ser, tambm, uma poltica de
120 NEAD Debate 8
mercado com a compra de terras, por meio da criao do Banco da Terra
e, recentemente, com a insituio da poltica de crdito fundirio.
Mesmo considerando conjuntamente a expropriao e a compra de
terras para a formao de milhares de assentamentos, a esrutura fun-
diria brasileira continua concentrada, porque a ocupao do territrio
brasileiro ainda es em movimento, como demonsramos a seguir.
Uma anlise apurada das tabelas 1, 2 e 3 possibilita uma compreen-
so mais ampla, porm ainda incompleta desse processo complexo de
reesruturao fundiria, que ocorreu entre 1995-2002. Nesse perodo,
ocorreu a transferncia (por meio de desapropriao e compra) de mais
de vinte milhes de hecares dos imveis com mais de cem hecares para
os esratos de imveis com menos de cem hecares. De 1992 a 2003, foram
incorporados quase noventa milhes de hecares, ou uma rea equivalente
a trs esados de So Paulo e um esado do Rio de Janeiro, em que quase
todos os esratos tiveram suas reas ampliadas.
Conforme a Tabela 1, a rea mdia dos lotes dos assentamentos na
regio Norte de 74 ha. No Nordese no passa dos nfmos 29 ha, quase
igual ao Sudese com 31 ha. No Centro-Oese so 57 ha e, na regio Sul,
a rea mdia corresonde a 48 ha.
Tomando esses nmeros como parmetros e comparando as mudanas
ocorridas nos esratos de rea da esrutura fundiria brasileira para os anos
1992 e 2003, observa-se diferencialidades territoriais positivas e negativas
(aumento ou diminuio relativa dos nmeros de imveis e ou de reas),
um diferencial de territorializao (aumento da rea por esrato) e um
diferencial de deserritorializao (diminuio da rea por esrato).
Assentamentos em debate 121
Tabela 1 Brasil Nmero de Assentamentos Rurais 1995-2002
Nde
Assentamentos
% N
o
de
Famiias
% rea
Total (ha)
%
AC 59 1,2 9487 2.1 558.198 2,5
AP 27 0,6 6.749 1.5 1.226.560 5,4
AM 18 0,4 3.295 0.7 2.011.698 8,8
PA 383 7,9 72.932 16.2 3.853.827 16,9
R0 93 1,9 18.726 4.1 1.139.574 5,0
RR 28 0,6 8.899 2.0 524.331 2,3
TO 181 3,7 14.720 3.2 644.390 2,8
Norte 789 16,3 134.808 29.8 9.958.978 44,0
AL 50 1,0 5.782 1.2 41.537 0,2
BA 395 8,1 28.802 6.4 885.968 3,9
CE 467 9,6 18.627 4.1 670.714 2,9
MA 530 10,9 64.378 14.2 2.335.219 10,3
PB 154 3,2 10.324 2.3 177.558 0,8
PE 256 5,3 15.183 3.4 191.703 0,8
PI 201 4,1 18445 4.1 657.796 2,9
RN 179 3,7 12.603 2.8 308.511 1,4
SE 81 1,7 5.257 1.2 84.056 0,4
Nordeste 2.313 47,7 179.401 39.7 5.353.062 23,0
DF 5 0,1 425 0.1 5.234 0,0
GO 217 4,5 14.047 3.1 563.430 2,5
MT 334 6,9 61.246 13.6 4.115.399 18,1
MS 91 1,9 12.160 2.7 351.054 1,5
Centro-Oeste 647 13,3 87.878 19.5 5.035.117 22,0
ES 33 0,7 2.225 0.5 21.529 0,1
MG 221 4,6 12.842 2.8 534.921 1,3
RJ 16 0,3 2.145 0.5 28.708 0,1
SP 157 3,2 9.145 2.0 224.264 1,0
Sudeste 427 8,8 26.357 5.8 809.422 4,0
PR 229 4,7 12.844 2.8 485.983 2,1
RS 187 3,9 7.596 1.7 173.428 0,8
SC 256 5,3 3.160 0.7 506.356 2,2
Sul 672 13,9 23.600 5.2 1.165.767 5,0
Brasil 4.848 100 452.044 100 22.779.338 100
Fonte: Dataluta - Banco de Dados da Luta pela Terra, 2003 - Unesp/MST
122 NEAD Debate 8
Conforme as tabelas 2 e 3, o nmero de imveis com menos de 100 ha
teve uma diferencialidade territorial negativa de 0,8%, passando de 86% do
nmero total de imveis para 85,2%, mesmo com um aumento de 934.102
imveis no perodo 1992-2003. Por outro lado, o nmero de imveis com
mais de 100 ha teve uma diferencialidade territorial positiva de 0,9%, pas-
sando de 14% para 14,9%, com um aumento de 189.387 imveis.
O diferencial de territorializao dos imveis com menos de 100 ha
foi de 25.090.211 ha, passando de 17,8% para 20% da rea total, tendo uma
diferencialidade territorial positiva de 2,2%. O diferencial de territorializao
dos imveis com mais de 100 ha foi de 63.981.092 ha, passando de 82,2%
para 79,9%, apresentando uma diferencialidade territorial negativa de 2,3%.
Com exceo do esrato de mais de 2.000 ha, que teve um diferencial
de deserritorializao de 651.951 ha, representando, portanto, uma dife-
rencialidade territorial negativa de 8,6% e uma diferencialidade territorial
positiva de 0,2%, (com um aumento de 11.952 imveis), os outros esratos
tiveram um diferencial de territorializao de 88.981.303 ha.
Com essa anlise, observa-se o aumento das reas em quase todos os
esratos com a incorporao de quase noventa milhes de hecares em
uma dcada. Esse montante mascara a movimentao entre os esratos
de reas, que somente pode ser feito com anlises mais detalhadas.
O diferencial de territorializao dos imveis com menos de 100
hecares contou predominantemente com as polticas de assentamentos
que tiveram como fator determinante as ocupaes de terra. Conforme
Fernandes (2000), em torno de 90% dos assentamentos implantados
foram resultados de ocupaes de terra. Entre esses esratos tambm
podem ter sido incorporadas terras devolutas que esavam sob controle
de grileiros e terras pblicas.
A incorporao de quase sessenta e quatro milhes de hecares aos
imveis de mais de 100 hecares pode esar associada a pelo menos
trs processos: a) por causa das ocupaes, os latifundirios passaram
a declarar com preciso as reas dos imveis (para no correr o risco
de serem surpreendidos com os pedidos de liminares de reintegrao
de posse, requerendo reas maiores do que as declaradas); b) a incor-
porao de novas reas em faixas de fronteira e ou de terras devolutas;
c) a incorporao de reas de menos de 100 hecares, o que signifcaria
deserritorializao das pequenas propriedades.
Assentamentos em debate 123
Tabela 2 Estrutura Fundiria Brasileira 1992
Estratos de rea
total em ha
N de
imveis
% dos
imveis
rea total
em ha
% de
rea
rea
mdia
At 10 995.916 32,0 4.615.909 1,4 4,6
De 10 a 25 841.963 27,0 13.697.633 4,1 16,3
De 25 a 50 503.080 16,2 17.578.660 5,3 34,9
De 50 a 100 336.368 10,8 23.391.447 7,0 69,6
De 100 a 500 342.173 11,0 70.749.965 21,4 206,9
De 500 a 1.000 51.442 1,6 35.573.732 10,8 697,5
De 1.000 a 2.000 23.644 0,8 32.523.253 9,8 1.414,0
Mais de 2.000 20.312 0,6 133.233.460 40,2 6.559,3
Total 3.114.898 100 331.364.059 100 106,4
Fonte: Atlas Fundirio Brasileiro, 1996
Tabela 3 Estrutura Fundiria Brasileira 2003
Estratos de rea
total em ha
N de
imveis
% dos
imveis
rea total
em ha
% de
rea
rea
mdia
At 10 1.338.711 31,6 7.616.113 1,8 5,7
De 10 a 25 1.102.999 26,0 18.985.869 4,5 17,2
De 25 a 50 684.237 16,1 24.141.638 5,7 35,3
De 50 a 100 485.482 11,5 33.630.240 8,0 69,3
De 100 a 500 482.677 11,4 100.216.200 23,8 207,6
De 500 a 1.000 75.158 1,8 52.191.003 12,4 694,4
De 1.000 a 2.000 36.859 0,9 50.932.790 12,1 1.381,8
Mais de 2.000 32.264 0,8 132.631.509 31,6 4.110,8
Total 4.238.387 100 420.345.382 100 99,2
Fonte: Incra, 2003
124 NEAD Debate 8
A diminuio da rea mdia dos imveis com mais de dois mil hecares
pode signifcar a diviso de grandes latifndios para evitar a desapro-
priao. Todavia, sendo esse o caso, a pequena diminuio da rea total
ainda denuncia o alto grau de concentrao de terras, em que 32.264
proprietrios controlam a tera parte das terras agriculturveis do pas.
Esses dados possibilitam diferentes leituras. Com a movimentao entre
os esratos de rea, possvel afrmar que a concentrao da esrutura
fundiria persise, e que houve uma leve desconcentrao da esrutura
fundiria, mesmo com o aumento colossal de noventa milhes de heca-
res. A queso que ainda no temos um cadasro de imveis confvel e
acessvel para podermos acompanhar as mudanas na esrutura fundiria
brasileira. Tambm, conforme a Tabela 4, essa situao vai persisir, pois
ainda exisem 170 milhes de hecares de terras devolutas que podero
ser incorporadas parcialmente pelos diversos esratos de rea.
Tabela 4 Ocupao das terras do Brasil em milhes de hectares
Terras indgenas 128,5
Unidades de conservao ambiental 102,1
Imveis cadastrados no Incra 420,4
reas urbanas, rios, rodovias e posses 29,2
Terras devolutas 170,0
Total 850,2
Fonte: Oliveira, 2003
Esse intrincamento de dados revela problemas e possibilidades para
a realizao da reforma agrria. Se os dados referentes propriedade da
terra so imbricados, tambm so os dados referentes populao sem
terra. outro aseco em que os nmeros so diversos, pois a queso da
reforma agrria atualmente no apenas uma queso rural. tambm
urbana, pois muitas famlias de origem urbana participam de ocupaes
de terra e so assentadas. Com o aumento da pluriatividade, o desem-
pregado rural tambm desempregado urbano. A reforma agrria no
apenas uma poltica para amenizar os problemas do campo. tambm
uma forma de moderar parcialmente os problemas urbanos.
Assentamentos em debate 125
A quali dade dos assentamentos:
lei turas dos ndi ces
Nesa parte, discutiremos os ndices: efccia da reorganizao fundiria;
qualidade de vida; articulao e organizao social; ao operacional.
Esses ndices so importantes para uma anlise do desenvolvimento
socioterritorial dos assentamentos e apresentam limites que desacamos
nas leituras a seguir.
Uma novidade da pesquisa A Qualidade dos Assentamentos da Reforma
Agrria Brasileira o ndice de efccia da reorganizao fundiria (IF).
Segundo os autores o IF:
avalia o sucesso da interveno do governo em alterar a esrutura fundiria
(sic). O principal fator do ndice o cumprimento do potencial de ocupao da
rea; avaliado pela relao entre o nmero de famlias morando no PA e a sua
capacidade de assentamento. Os outros fatores que compem o ndice so lotes
abandonados, aglutinao de lotes, reas remanescentes no parceladas e rea
til para produo no explorada. (Sparovek, 2003, p. 89)
Na verdade, o IF no avalia o sucesso da interveno do governo em
alterar a esrutura fundiria, mas sim se com a formao do assentamen-
to, ocorreu a otimizao da reorganizao fundiria. Como o prprio
nome do ndice diz, trata-se da reorganizao do territrio, ou poderia
se chamar de reordenamento territorial. A alterao da esrutura fun-
diria acontece em escalas mais amplas, como demonsramos na parte
anterior dese texto.
Os resultados dos valores mdios, mximos e mnimos do ndice de
reorganizao fundiria revelam uma superocupao dos assentamentos
das regies Sudese e Sul. Essas regies tiveram ndices superiores a cem,
enquanto que a regio Norte teve ndices mais baixos, em torno de 83.
Em nossas pesquisas temos regisrado, para o perodo 1990-2002, que
a implantao de assentamentos tem acontecido predominantemente nas
regies Norte, Nordese e Centro-Oese, sendo que no primeiro governo
Fernando Henrique Cardoso, o nmero de famlias assentadas chegou a
superar o nmero de famlias em ocupaes nessas trs regies. Nas regies
126 NEAD Debate 8
Sudese e Sul, o nmero de famlias em ocupaes sempre foi superior ao
nmero de famlias assentadas, como pode ser observado no Grfco 1.
Grfico 1 Brasil: nmero de famlias em ocupaes e
assentamentos por macrorregio e perodos de Governo 1998-2002
Fonte: Dataluta Banco de Dados da Luta Pela Terra, 2003
Em nossas pesquisas de campo, temos observado que a superocupao
acontece pela formao de novas famlias com o casamento de flhos e flhas
de assentados. Embora muitos flhos de assentados participem de ocupa-
es, a demanda por terra muito maior que o nmero de assentamentos
implantados. Esses dados tambm demonsram a territorializao da luta
pela terra em todas as regies do pas. A intensifcao da luta nas regies
Nordese, Centro-Oese, Sudese e Sul, onde o agronegcio mais tem se
territorializado tambm signifca uma reao s desigualdades geradas
por esse modelo agropecurio. Por fm, os dados demonsram tambm
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
N NE CO SE S N NE CO SE S N NE CO SE S
1990-1994
Collor/Itamar
1995-1998
1 Mandato FHC
1999-2002
2 Mandato FHC
Ocupaes Assentamentos
Assentamentos em debate 127
que os governos tm implantado menos assentamentos rurais nas regies
Sul e Sudese, o que refora a superocupao das reas reformadas.
Na pesquisa, o ndice de qualidade de vida teve como elementos as
condies de acesso educao, sade, moradia e infra-esrutura social.
Esses so os elementos bsicos para uma pesquisa rpida, que identifca a
exisncia ou no dos servios. Todavia, se pensarmos a utilizao dessa
pesquisa para a realizao de polticas pblicas de desenvolvimento rural,
pode-se enfrentar problemas. Para o tema assentamentos rurais no
sufciente trabalhar somente com a exisncia dos servios, mas tambm
com a relao esaos e tempos polticos dos projetos.
Qualidade de vida implica em compreender a diversidade de interesses
dos assentados, suas hisrias e suas culturas. No h plena qualidade de
vida com projetos imposos por insituies no representativas. As famlias
assentadas compem grupos polticos ou so por eles infuenciadas. Esses
grupos tm seus projetos de desenvolvimento que so consrudos com a
participao das famlias ou que so oferecidos como modelos ideais.
Os assentamentos so territrios composos de diversos esaos polti-
cos de acordo com as presenas de diferentes movimentos camponeses na
organizao socioterritorial. Mesmo as famlias no vinculadas a nenhuma
organizao mantm algum tipo de identifcao com as suas proposas
polticas. Portanto, colocamos em queso a exisncia de uma tica mais
neutra e individualizada de um suposo morador comum (Sparovek,
p. 54). Quando so tratadas queses referentes educao, sade, moradia
e infra-esrutura, a opinio dos assentados refete os projetos em discusso.
Como enfatizamos na primeira parte dese texto, essa afrmao explicaria
a quase similitude dos valores mdios das trs opinies.
Nossa hiptese que essa semelhana ocorreu no porque os proje-
tos das diferentes insituies so iguais, o que evidente, mas porque a
pergunta se referia apenas exisncia e no origem, funcionamento,
sufcincia e qualidade dos servios, das condies, dos equipamentos
e das infra-esruturas.
Alm dos movimentos camponeses, outras insituies que trabalham
nos assentamentos e tambm infuenciam as opinies dos moradores, como
por exemplo os rgos pblicos Incra, Insituto de Terras do Esado de
So Paulo (Ites), universidades e as organizaes no-governamentais.
128 NEAD Debate 8
Todas essas insituies defendem projetos de desenvolvimento que re-
presentam diferentes modelos no que se refere localizao dos servios
(campo ou cidade) e o tempo de implantao dos recursos. Portanto, para
a realizao de polticas pblicas, os dados da pesquisa A Qualidade dos
Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira necessitam esar associados
aos resecivos projetos de desenvolvimento socioterritorial.
Associando os valores mdios do ndice de qualidade de vida com os
valores mdios do ndice de ao operacional (que indica a efcincia de
realizao dos compromissos do governo para a consolidao do assenta-
mento), e com os valores mdios do ndice de articulao de organizao
social (que indica os nveis de organizao dos assentados para defen-
derem seus interesses no que se refere produo e comercializao),
observamos a diminuio desses valores para o perodo 1995-2001.
Esses dados so reveladores. Relacionaremos esses ndices com o
conjunto de polticas dos dois governos Fernando Henrique Cardoso e
com os dados de ocupaes e assentamentos do Grfco 1.
Com a eleio do presidente FHC, em 1994, e a promessa de realizao
da reforma agrria, no ano 1995, aumentou o nmero de famlias que
ocuparam terra, tendncia que continuou at 1999. O primeiro governo
FHC foi o perodo com maior nmero de famlias assentadas da hisria
do Brasil. Trs fatos contriburam para a implantao desse nmero de
assentamentos: 1) o massacre de Corumbiara, em 1995, no esado de
Rondnia; 2) o massacre de Eldorado dos Carajs, em 1996, no Par;
3) o governo FHC acreditava que os sem-terra eram aproximadamente
quatrocentas mil famlias e com o assentamento, o nmero de famlias
tenderia a diminuir (Cardoso, 1991).
O aumento do nmero de famlias assentadas signifcava o aumento do
nmero de pessoas que ocupavam terras e vice-versa. A cada assentamento
criado, multiplicava-se o nmero de sem-terra realizando os trabalhos
de base, criando esaos de socializao poltica e esacializando a luta
pela terra. Essa realidade no se encaixava na tese do governo FHC, que
defendia no haver tantas famlias sem-terra e nem tanta terra para fazer
a reforma agrria.
De fato, o governo FHC tratou a queso da reforma agrria como
uma poltica compensatria, como uma possibilidade de atender um
Assentamentos em debate 129
determinado nmero de famlias que representaria o resduo do campe-
sinato brasileiro. Sob a presso do MST e de outros movimentos cam-
poneses, foram criadas polticas de crdito, de educao para o campo e
de assisncia tcnica, a partir de modelos proposos pelos movimentos.
Com o avano das ocupaes, as polticas de educao e de assisncia
tcnica foram extintas e a poltica de crdito foi subsituda por outra,
cujo modelo foi imposo pelo governo.
Na verdade, o governo FHC percebera que o aumento do nmero
de famlias assentadas e os invesimentos realizados por meio das linhas
de crdito fortaleciam a organizao do MST. Muitas ocupaes eram
realizadas com o apoio de cooperativas de assentados, que empresavam
caminhes e fnanciavam os cusos da ocupao de terra. O governo FHC
denominou esses fatos de aparelhamento poltico e cortou todas as fontes
de recursos para os assentados.
O segundo governo FHC foi muito diferente do primeiro. Em 2000, o
nmero de ocupaes comeou a diminuir e em maio de 2001, o governo
publicou uma medida provisria para criminalizar as ocupaes. A Me-
dida Provisria 2.109-52, de 24 de maio de 2001, criminaliza as pessoas
que ocupam terra e privilegia os latifundirios com a condio da no
desapropriao por dois anos, no caso de uma ocupao, e por quatro
anos, quando houver reincidncia.
Para reprimir os sem-terra, o governo FHC utilizou-se do Poder
Judicirio. As ocupaes de terra eram acompanhadas com rigor pelo
governo e as liminares de reintegrao de posse e desejo das famlias
ocupantes eram expedidas em menos de 24 horas, o que resultava, na
maior parte das vezes, na priso das lideranas. A esse processo poltico
denominamos de judiciarizao da luta pela reforma agrria. Ocorreram
casos em que os juzes mandavam prender lideranas como preveno
s ocupaes (Fernandes, 2003).
Com a diminuio do nmero de ocupaes, o nmero de assenta-
mentos regrediu. Para propagandear que o nmero de assentamentos
implantados no teria diminudo, o governo FHC usou uma esatsica
imaginria que contava assentamentos implantados em governos ante-
riores, pelos governos esaduais e at as famlias que o governo prometera
assentar. Criava-se dessa forma clones de assentamentos e assenta-
130 NEAD Debate 8
mentos imaginrios, que s exisiam nas tabelas de dados do governo
FHC (Fernandes, 2003).
A ocupao de terra uma afronta aos princpios da sociedade ca-
pitalisa. Todavia, as ocupaes de terra continuavam crescendo, tendo
pela frente as aes na Jusia e as aes dos latifundirios. Na segunda
metade da dcada de 1990, o governo FHC implantou uma poltica de
crdito fundirio denominada Cdula da Terra que depois foi batizada
de Banco da Terra.
Pela primeira vez na hisria do Brasil ocorreu uma interveno direta
na queso da luta pela terra por meio de poltica econmica, em escala
nacional. Com essa medida, o governo transferia a queso da terra do
territrio da poltica para o territrio do mercado. Essa ao extraordinria
diminuiu o poder de negociao dos trabalhadores sem-terra. Aos que
aceitaram a poltica do Banco da Terra, o esao de negociao limitou-se
ao contrato de compra e venda, ou seja, s polticas do mercado.
Nos ltimos 20 anos, desde a fundao do MST, as famlias partici-
pantes das ocupaes tm se diferenciado. Na dcada de 1980, as famlias
sem-terra participantes das ocupaes eram predominantemente de
origem rural. Com a intensifcao da mecanizao da agricultura e
com o desemprego esrutural, na dcada de 1990, nos acampamentos
das regies Sul, Sudese e Nordese, a participao de trabalhadores de
origem urbana aumentou.
Na regio Nordese, o MST comeou a organizar migrantes nordesinos
retornados da regio Sudese por causa do desemprego. No esado de So
Paulo, o MST e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Teto (MTST)
comearam a organizar famlias para lutarem pela moradia ou por terra.
Essa ao resultou no aumento do nmero de famlias de origem urbana
nas ocupaes de terra. No Pontal do Paranapanema, regisramos at 50%
de trabalhadores urbanos entre as famlias assentadas (Lima e Fernandes,
2001). No Rio Grande do Sul, surgiu o Movimento dos Trabalhadores
Desempregados (MTD) que tem ocupado terras nos municpios da regio
metropolitana de Porto Alegre com o objetivo de desenvolver atividades
agrcolas e no-agrcolas como forma de sobrevivncia.
Esse fato demonsra que a determinao do governo, de assentar
apenas as famlias de origem rural, tem sido ignorada pelos trabalha-
Assentamentos em debate 131
dores de origem urbana. Essa uma das razes do aumento do nmero
de famlias acampadas em todas as regies do pas. Isso signifca que o
processo de criao do campesinato tem contado com a participao dos
trabalhadores desempregados de origem urbana.
As ocupaes de terra, o avano e o refuxo do MST, as conquisas e as
derrotas dos movimentos camponeses, o crescimento da participao das
famlias de origem urbana na luta pela terra, todas essas realidades so
indicadores da resisncia dos sem-terra no confronto com as polticas
de controle social do Esado e da lgica capitalisa.
A judiciarizao da luta pela terra, o processo de mercantilizao da
reforma agrria e a extino e subsituio de polticas pblicas determi-
naram o refuxo dos movimentos camponeses e isso teve infuncia direta
na precarizao da organizao interna do assentamento, esecialmente
no que se refere infra-esrutura, ao crdito agrcola, produo e
comercializao. Essa realidade foi captada pela pesquisa e aparece em
nmeros na Tabela 23 em Sparovek et alii (2003, p. 107).
Esa realidade representa tambm o no cumprimento dos compro-
missos do governo para a consolidao do assentamento. Iso signifcou
a queda da renda, regisrada pela pesquisa (Sparovek et alii, 2003, p. 137)
e tornou-se um desafo para grande parte das famlias sem-terra.
Consi deraes fi nai s
A publicao A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Bra-
sileira uma importante contribuio para o esudo do processo de
territorializao da luta pela terra em todas as regies do pas. Inova
com a elaborao de uma metodologia a partir da pesquisa de opinio e
a forma como apresenta os dados nos possibilita anlises comparativas
com outros dados e pesquisas.
A qualidade dos assentamentos de reforma agrria es diminuindo.
Essa uma concluso que a publicao nos apresenta. A qualidade dos
assentamentos pode melhorar. Essa outra concluso que a leitura da
publicao nos oferece.
132 NEAD Debate 8
Bi bli ografia
Cardoso, Fernando Henrique. Prefcio. In: Graziano Neto,
Francisco. A Tragdia da terra: o fracasso da reforma agrria no Brasil.
So Paulo: IGLU/Funep/Unes, 1991.
Fernandes, Bernardo Manano. MST formao e territorializao.
So Paulo: Editora Hucitec, 1996.
Fernandes, Bernardo Manano. A Formao do MST no Brasil.
Petrpolis: Editora Vozes, 2000.
Fernandes, Bernardo Manano et alli. Insertion socio-politique
et criminalisation de la lutte pour la terre: occupations de terre et assen-
tamentos ruraux das le Pontal do Paranapanema So Paulo. Cahiers du
Bresil Contemporain, La Riche, n.51/52, p.71-94, 2003.
Li ma, Solange; Fernandes, Bernardo Manano. Trabalhadores
urbanos nos assentamentos rurais: a consruo de novos sujeitos sociais.
Presidente Prudente: 2001. (Relatrio CNPq PIBIC 1999 2001)
Oli vei ra, Ariovaldo Umbelino. Barbrie e modernidade: as trans-
formaes no campo e o agronegcio no Brasil. Revisa Terra Livre. So
Paulo, Associao dos Gegrafos Brasileiros, n.22, 2003.
Sparovek, Gerd. (org.) A Qualidade dos assentamentos da reforma
agrria brasileira. So Paulo: Pginas & Letras Editora e Grfca, 2003.
O jornalismo brasileiro, a questo
agrria e o imaginrio
Dbora Lerrer
Jornalista, mestre em Cincias da Comunicao pela Escola de Comunicao e
Artes da Universidade de So Paulo (ECA/USP) e doutoranda no Programa de
Ps-Graduao em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ), autora de Reforma
Agrria: os caminhos do impasse, Editora Garoni, So Paulo, 2003.
2.6
134 NEAD Debate 8
O ponto de vi sta do j ornali smo
A
publicao A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria
Brasileira, que apresenta dados sobre a qualidade dos assentamentos
feitos no Brasil nas duas ltimas dcadas, traz uma contribuio muito
pertinente para os profssionais da imprensa. Em primeiro lugar, porque,
em sua primeira parte, o livro condensa informaes sobre o tema e
aborda alguns dos diversos pontos de visa exisentes no pas, tanto no
debate acadmico, como no debate pblico, como o que envolveu governo,
imprensa e movimentos sociais sobre o nmero exato de assentamentos
implantados pelo governo Fernando Henrique Cardoso, e que provocou
a iniciativa desa pesquisa. O livro contextualiza reprteres no tema,
muitos deles sem conhecimento prvio e mesmo experincia de trabalho
sobre esse campo particular de confitos, cosumeiramente opaco para as
camadas urbanas, onde es situada a maioria dos jornalisas. Por ter sido
escrito de maneira clara e objetiva, a primeira parte deveria ser leitura
obrigatria para qualquer profssional da rea, pois o torna mais apto a
entender do que as aparentemente interminveis ocupaes e mobilizaes
de sem-terras eso tratando de fato, ou seja, em que contexto hisrico,
econmico e poltico elas se situam.
O outro aseco importante desa pesquisa seu carter nacional, por
trazer informaes detalhadas sobre alguns dos efeitos de uma poltica
pblica hisoricamente transassada por confitos e polmicas. Com dados
regionais, esaduais e nacionais, o livro d margem para pautas jornalsicas
que podem ampliar o conhecimento sobre esse aseco pouco abordado
da queso agrria brasileira, ao mesmo tempo em que evita um velho
vcio da profsso que tomar o conhecimento do singular e generaliz-lo
com todos os preconceitos e eseretipos possveis da decorrentes.
Assentamentos em debate 135
A queso que, dependendo do ponto de visa do rgo jornalsico,
do editor e do jornalisa envolvido na reportagem, a pesquisa pode dar
margem a matrias favorveis ou desfavorveis poltica de reforma
agrria. A hierarquizao de alguns deses asecos na preparao das
matrias impressas nos jornais revela a viso de mundo hegemnica na
sociedade brasileira sobre sua queso agrria, mas que es sendo dis-
putada palmo a palmo nesa luta simblica na qual ese livro se insere,
presente em qualquer luta poltica que sempre ser ao mesmo tempo
terica e prtica pelo poder de conservar ou transformar o mundo social,
conservando ou transformando as categorias de percepo dese mundo
(Bourdieu, 1997, p.25).
Dependendo, portanto, das categorias de percepo desses mediado-
res, chamados jornalisas, os dados da pesquisa poderiam ter maior ou
menor visibilidade e tornar mais difcil ou mais fcil bater na tecla de
que a poltica de reforma agrria no teve resultados positivos. De qual-
quer modo, em termos hisricos, a pesquisa em si um avano para a
prpria compreenso da opinio pblica brasileira sobre essa demanda
to enraizada na pauta de luta dos trabalhadores rurais, continuamente
deslocados dos projetos econmicos hegemnicos implantados no pas.
Sob o ponto de visa do jornalismo, que uma cincia social aplicada,
o mtodo e os procedimentos inovadores desenvolvidos para esa pes-
quisa so adequados por terem se consitudo em um insrumento de
levantamento gil, que radiografa asecos mais detalhados desa poltica
de modo a aferir ndices de qualidade de vida, reordenamento fundirio,
ao do Esado, nveis de organizao social dos assentados, impacos
ambientais, etc., que no tinham sido auscultados de maneira abrangente
anteriormente. Alm disso, os pesquisadores so cuidadosos em detalhar
e descrever os procedimentos e os critrios de anlise utilizados, o que
fornece legitimidade ao levantamento que tem recorte nacional, regional e
esadual. De qualquer modo, o fato de ser uma pesquisa quantitativa que
retira asecos qualitativos da realidade da poltica fundiria do governo
vem de encontro com as concepes predominantemente positivisas
presentes no jornalismo, que procura legitimar-se como conhecimento
do real apoiando-se em uma esratgia de discurso que busca enfatizar o
carter aparentemente absoluto de sua objetividade e tem no discurso
136 NEAD Debate 8
cientfco tradicional um de seus suportes. Logo, raramente o jornalis-
mo da prtica profssional diria ir discutir os conceitos embutidos em
um determinado mtodo de pesquisa, se eles so reconhecidos como
eminentemente objetivos e divulgados como tal. Em geral, por esar
sempre em busca de dados que possam corroborar hipteses (pautas), o
jornalismo cosuma se resringir divulgao dos resultados, sendo que
somente os profssionais mais criteriosos procuram tambm descrever
procedimentos pelos quais os dados foram obtidos.
Sob meu ponto de visa, considero uma soluo interessante coletar as
informaes de trs atores diferentes, diretamente vinculados realidade
cotidiana dos projetos de assentamento, revelando uma preocupao
em explicitar as possveis e provveis divergncias de percepo do
local pesquisado, exisente entre os executores do programa de reforma
agrria, vinculados ao Esado, os membros ou dirigentes das organizaes
exisentes nos assentamentos e os assentados no comprometidos com
essas lideranas formais.
O que falta explicitar na pesquisa de maneira clara a chamada
alterao de ocupantes ou benefcirio dos lotes. Essa queso foi re-
gisrada pelos pesquisadores, mas no foi apresentada ou mencionada
mais detalhadamente no livro. No sei se houve difculdades com essa
resosa, mas essa informao mensuraria a venda de lotes. O critrio
utilizado, o do abandono, no inclui as vendas irregulares. Se o faz no
es claro, pelo menos no no livro. Seria interessante ter esse dado mais
evidenciado at para pautar as iniciativas do Esado em regularizar essas
situaes, desencorajando a prtica e verifcando se ela signifcativa ou
no dentro do contexto geral dos assentamentos no Brasil.
A verdade que essa prtica comum at em assentamentos urbanos
refora um eseretipo sobre as populaes que demandam terra. Por
outro lado, a informao associada ao fato de que o ndice de abandono,
cerca de 11%, nfmo, poderia neutralizar o esigma associado a essa
populao e que vive repetido em um certo discurso do senso comum:
esses sem-terras vagabundos pegam terra do governo, depois vendem e
vo para outro acampamento conseguir mais terra. Alis, esse esere-
tipo ainda arraigado exatamente porque cresce na desinformao. Por
esa razo, esse aseco da pesquisa deveria ter sido melhor desacado e
Assentamentos em debate 137
usado a favor de uma campanha de esclarecimento da sociedade sobre
a poltica agrria de um governo que considere a reforma agrria uma
ao socialmente pertinente.
A consatao de que a qualidade de vida dos assentamentos precria,
sobretudo por uma insufciente ao operacional do Esado, no disingue
os assentamentos de outros lugares onde vive a populao pobre brasilei-
ra, seja no campo ou na cidade, exatamente pela mesma razo: ausncia
do Esado. Mas o fato de que apesar dessas condies, as pessoas fcam
nesses locais e iso ser objeto de surpresa dos prprios pesquisadores
, digamos, um dos ncleos signifcativos da pesquisa e deveria ser me-
lhor desacado no conjunto do livro, at para no dar esao para outros
enfoques interessados na manuteno da desinformao.
Tambm considero insufciente o Captulo 2, ou seja, o levantamento
hisrico da queso agrria no Brasil e no mundo. Mesmo resumido,
algumas informaes pertinentes poderiam ter sido includas. Na pgina
31, quando se menciona as contribuies de Jos Bonifcio de Andrada e
Silva em debates que resultaram na Lei de Terras de 1850, d-se margem
a confuses, viso que, embora ele tenha produzido refexes sobre o
assunto, veio a falecer em 1838, bem antes da implantao da lei e j h
alguns anos retirado da vida pblica.
O desafi o do i magi nri o
Um dos grandes desafos de quem luta pela reforma agrria no Brasil
sempre foi vencer a indiferena dos vrios setores da sociedade a esa
particular demanda, mesmo porque, alm da represso que se abateu sobre
ela depois do golpe de 64 e o enorme xodo rural ocorrido no pas nos
ltimos 30 anos, o prprio mundo dos sertes brasileiros foi se disancian-
do cada vez mais das preocupaes da maioria da populao que hoje se
concentra nas cidades, j com muitos desafos polticos e sociais a enfrentar.
tambm nas cidades, onde se concentram pessoas com maior grau
de insruo e acesso a diversas fontes de informao, onde se forma
esa entidade curiosa e s vezes to poderosa chamada opinio pblica,
cujos humores e pendores polticos so cosumeiramente alimentados
pelo que pauta dos grandes meios de comunicao de massa.
138 NEAD Debate 8
Os usuais resonsveis pela concretizao do material pautado a ser
veiculado por esses meios so os jornalisas e quero aproveitar o esao
que esa publicao oferece para abordar asecos da repercusso da
pesquisa elaborada pela equipe de Gerd Sparovek como um pretexto
para consruir uma refexo sobre a relao do jornalismo com a queso
agrria brasileira.
A visibilidade desa pesquisa na imprensa, e das prximas que vierem
a surgir, importante para a lenta consruo de uma interpretao mais
qualifcada por parte da sociedade sobre a incrvel permanncia de uma
esrutura agrria concentrada em paralelo concentrao de renda e
riquezas exisente no pas.
O pressuposo desa refexo que um pas de dimenses continentais
como o Brasil, com possibilidade de ter at trs safras por ano, mas com
a propriedade da terra altamente concentrada, descarta um imenso po-
tencial de desenvolvimento ao no realizar uma reforma agrria voltada
para o atendimento das populaes pobres do meio rural que no se
impressionam mais com o canto das sereias das cidades e cuja demanda
por terra sintetiza um mundo de possibilidades para suas famlias.
Uma tcni ca e uma pol ti ca
A pesquisa da Universidade de So Paulo (USP), cujos resultados come-
aram a circular discretamente no incio de 2003, considerada, tambm
no meio jornalsico, o mais abrangente levantamento de dados realizados
sobre a poltica de assentamentos j feita no pas at hoje, mas o que a
1 Recente pesquisa coordenada por Marcio Pochmann explicitou nmeros aterradores.Terceiro
volume do Atlas da Excluso Social, Os Ricos no Brasil (Cortez Editora) demonsra que ,4%
da riqueza total do pas es concentrada nas mos de 10% da populao brasileira. Esse clculo
inclui, alm da renda concentrada por essas pessoas, que 4,3% do PIB brasileiro, seu patrimnio
acumulado, como imveis, ttulos pblicos e aes. Outra informao trazida luz pela pesquisa
foi a consatao de que esa concentrao se crisalizou ao longo da hisria brasileira. Ou seja,
esse segmento da populao manteve seu patrimnio durante sculos, mesmo atravessando todas
as transformaes econmicas, sociais e polticas que permearam a hisria do pas.
2 A primeira edio do livro A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira, impressa
em fevereiro de 2003, comeou a circular a partir dese ms e suscitou matrias nos jornais Esado
de So Paulo, O Globo, revisa Veja e na rdio CBN.
Assentamentos em debate 139
torna peculiar para esa refexo o fato de ela ter sido provocada por
um conjunto de matrias, publicadas no jornal Folha de S. Paulo, em abril
de 2002, que evidenciaram que os dados que o governo usava para falar
do nmero de projetos de assentamentos eram infados. As reportagens,
realizadas por Rubens Valente e Eduardo Scolese, demonsravam que
o balano de assentamentos criados pelo governo Fernando Henrique
Cardoso inclua terrenos vazios, sem sequer demarcao dos lotes, e reas
sem casas e infra-esrutura, o que segundo o prprio critrio usado pelo
Incra, na poca, no as classifcava na categoria de assentamentos.
A matria principal a que abre o perodo que esa denncia ocupa
esao no jornal Folha de S. Paulo foi publicada no dia 21 de abril. No
fm do texto, encontra-se a opinio do ento superintendente do Insitu-
to Nacional de Colonizao e Reforma Agrria em Alagoas (Incra-AL),
Jos Quixabeira Neto, nomeado pelas foras que ocupavam o governo
na poca, e que, no entanto, reconhece que o conceito de assentamen-
to do rgo diverge do que vinha sendo praticado pelo Minisrio do
Desenvolvimento Agrrio e divulgado nos balanos anuais do governo
Fernando Henrique Cardoso. Realmente o conceito difere da prtica,
quanto a isso no h a menor dvida. A tcnica uma e a poltica outra.
Eu sou agente do governo e tenho de seguir a poltica adotada por eles,
declarou Quixabeira aos reprteres.
A declarao do superintendente do Incra na poca particularmente
interessante porque exps uma concepo da diferena que exise entre
governo e Esado, ainda pouco arraigada na sociedade brasileira, que
s comeou a consruir um corpo de funcionalismo pblico esvel, me-
diante concurso pblico, a partir da dcada de 30. Foi s a partir desse
momento que comeou a se desacar, de maneira ainda incompleta, o
servio pblico da dominao patrimonial e clientelisa. Esse aseco da
opinio expressada pelo superintendente importante porque evidencia
o reconhecimento da diferena exisente dentro de um rgo pblico do
que seria o papel tcnico do Esado e do que lhe determinado pelas
foras polticas que ocupam o governo.
3 A srie de matrias, sutes e repercusses abordando esa denncia comearam no dia 21 de abril
e terminaram no dia 2 de maio.
4 Folha de S. Paulo, 21 de abril de 2002.
140 NEAD Debate 8
Diante das denncias trazidas pela reportagem e apesar dos riscos
polticos para o governo em queso, em ano eleitoral, o ento minisro
do Desenvolvimento Agrrio, Jos Abro, decidiu contratar a equipe
da Escola Superior Alberto de Queiroz, da Universidade de So Paulo
(Esalq/USP), para realizar esa pesquisa, cujos resultados vieram j no
apagar das luzes do governo Fernando Henrique Cardoso e s tornaram-
se pblicos no incio do governo Lula.
Um aseco interessante dessa disuta entre os nmeros divulgados
pelo governo FHC e os assentamentos efetivamente criados que a po-
lmica foi inicialmente levantada pelo Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra (MST), no incio de sua interlocuo com o governo,
ento em incio de mandato, no segundo semesre de 1995. Curiosamente,
entretanto, as reportagens publicadas na Folha em 2002 j no davam voz
ao MST, ator poltico que havia se apresentado mdia quesionando sise-
mtica e periodicamente os dados do governo. O Movimento, no entanto,
paira como autor oculto do material publicado na Folha, fenmeno que
revela uma aparente mudana de patamar no debate agrrio brasileiro
que ocupava a mdia naquele momento. Ou seja, um jornal, ao assumir
as denncias, lhes outorgava maior credibilidade do que o movimento
social que, naquela poca como explicito mais tarde , esava com
seu capital simblico basante abalado dentro da cena miditica para
desqualifcar as informaes divulgadas pelo governo.
De qualquer modo, naquele contexto que tinha por horizonte uma
eleio presidencial, um particular debate miditico mobilizou um minis-
tro de Esado a contratar uma pesquisa abrangente de modo a, inclusive,
correr o risco de colocar em queso sua poltica, por v-la como alvo de
presso da opinio pblica.
Vindo a pblico, no incio do governo Lula, era de se eserar que os
dados presentes no livro A Qualidade dos Assentamentos da Reforma
Na poca, como assessora de imprensa do MST, participei da divulgao de vrias coletivas de
imprensa em que os dirigentes do Movimento entregavam aos jornalisas um quadro comparativo
com o nmero de assentamentos que o governo alegava ter criado em cada esado da Unio e os
nmeros que o MST obtinha, que contradiziam esa informao.
Em conversa com um dos reprteres, Eduardo Scolese, alguns meses depois, ele demonsrou uma
certa frusrao pelo fato de que a denncia realizada por eles no ter sido repercutida por outros
veculos de comunicao, como a TV Globo, o que, no seu entender, lhe daria maior flego.
Assentamentos em debate 141
Agrria Brasileira encontrariam um ambiente de consenso favorvel a
esa demanda na mdia, semelhante posura de defesa intransigente
do conceito de assentamento, e portanto, da efcincia do Esado em
cumprir com suas aes fundirias, presentes nas matrias da Folha de
S. Paulo do ano anterior. Afnal, acabava de ser eleito o representante de
uma fora poltica hisoricamente vinculada ao MST e compromissada
com a reforma agrria.
A primeira matria sobre a pesquisa saiu no jornal O Esado de S.
Paulo, no dia 4 de maro de 2003, sob o ttulo Assentados vivem pre-
cariamente. J no olho, que separa a manchete do texto, uma frase
para dourar a plula: Reforma agrria acerta ao disribuir terras, mas
falha na assisncia aos assentamentos. A matria de autoria de Roldo
Arruda apresenta a pesquisa, o contexto em que ela foi feita, sem citar
a reportagem da Folha, e apresenta suas principais concluses: foi um
sucesso em termos de redisribuio fundiria, mas a qualidade de vida
nos assentamentos seria preocupante (falta de escolas, energia eltrica,
gua potvel). No fnal da matria, o jornalisa comenta o aseco que
mais chamou a ateno do coordenador da pesquisa, Gerd Sparovek, que
observa o fato de que, apesar de toda a precariedade dos assentamentos,
creditada falta de efcincia na atuao do governo em cumprir com
as medidas necessrias para a implantao do projeto, o levantamento
demonsrou que as famlias permaneciam nas reas, dado que indica
que, por pior que fosse o assentamento, o simples acesso terra j lhes
colocava em um melhor patamar de condio de vida. Na concluso,
o jornalisa aproveita para retomar o fo da polmica que originou a
pesquisa: Frente acirrada e azeda polmica que o governo Fernando
Henrique Cardoso e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra
(MST) travaram sobre os erros e acertos do programa de reforma agrria,
a pesquisa confrma e desautoriza afrmaes dos dois lados. Deixa claro
que a reforma agrria no foi to maravilhosa quanto dizia o governo,
mas tambm no foi o desasre alardeado pelo MST.
Nota da revisora olho Pequeno texto desacado da matria. Dicionrio de Comunicao.
Rabaa e Barbosa 2002, p.22.
8 O Esado de S. Paulo, 4/03/2003, p. A-4.
142 NEAD Debate 8
Apesar dessas informaes praticamente inditas, a matria sobre
a pesquisa ocupava o meio de uma pgina, cuja manchete enfocava as
declaraes de uma lder do MST durante uma ocupao de terra. As
informaes da matria sobre a pesquisa tambm no geraram chamada
de capa e sim o confito que havia acabado de surgir na regio de Sorocaba
(SP). A matria de Roldo Arruda foi, no dia seguinte, seguida de outra
que enfocou a falta de organizao dos assentados com visas a obter be-
nefcios coletivos para a produo, tendo sido organizadas cooperativas
em somente 9% dos projetos (de 1984 a 1994). A partir da, os dados da
pesquisa originaram algumas reportagens, mas a maioria delas privile-
giando o recorte que desqualifca a poltica de reforma agrria do Esado
brasileiro, trazendo tona a compreenso de que em lugar de latifndios
improdutivos, haviam surgido minifndios improdutivos, e o volume
de recursos pblicos (R$ 40 mil por famlia0) gasos em sua implantao
no se jusifcavam, viso que alm dese parco retorno, muitos assentados
fcam anos a fo dependentes de crdito do governo.
Independente do fato de ter gerado matrias favorveis ou desfavor-
veis reforma agrria, o fundamental que as informaes da pesquisa
devem ser visas como um avano na compreenso da sociedade brasileira
sobre esa demanda to enraizada na pauta de luta dos trabalhadores
rurais, continuamente deslocados dos projetos econmicos hegemnicos
implantados no pas.
Concentrao enrai zada no i magi nri o
A tendncia de se privilegiar, ou seja, abrir matrias com os asecos
negativos de uma poltica voltada para uma reforma da esrutura agrria
9 Esse modelo de reforma agrria faz sentido?, Esado de S. Paulo, 1/08/2003, p. A-10; FHC
assentou 44% a menos do que disse, Folha de S. Paulo, 13/0/2003, p. A-11; O Beato Rainha, Veja,
18 de junho de 2003; O esquema dos sem-terra, 2 de abril de 2004; A lua-de-mel acabou, Veja,
12 de maro de 2003.
10 Segundo o Incra, gasa-se cerca de R$ 2 mil por famlia, ndice semelhante ao encontrado pela
equipe do ex-deputado federal Plnio de Arruda Sampaio, que elaborou o Plano Nacional de
Reforma Agrria para o governo Lula, que R$ 24 mil por famlia: R$ 13 mil para terra, R$ mil
para consruir casa e insalaes e R$ mil para visoria, assisncia tcnica, capacitao e uma
pequena infra-esrutura.
Assentamentos em debate 143
brasileira ocorre porque a permanncia esrutural da desigualdade na his-
tria do pas, e mais esecifcamente, da concentrao da propriedade da
terra, um fenmeno naturalizado e enraizado na formao da sociedade
brasileira, e, portanto, raramente sua representao problematizada.
Apesar da emergncia dos movimentos sociais do campo aps a
redemocratizao do pas, que nada mais do que retomaram o fo da
meada que havia sido rompida pelo golpe de 64, o imaginrio social do
brasileiro tem a tendncia de acomodar a situao fundiria do pas na
categoria dos fenmenos imutveis, portanto, no sujeito disuta. Um
dos agentes de consruo do imaginrio social do brasileiro, o jornalisa,
acaba por reproduzir essa interpretao, fruto das interaes sociais
da qual ele faz parte. As palavras, matria-prima do jornalismo, como
demonsra Mikhail Bakhtin, so tecidas a partir de uma multido de
fos ideolgicos e servem de trama a todas as relaes sociais em todos
os domnios (Bakhtin, 1992, p. 41). So elas tambm os indicadores
mais sensveis de todas as transformaes sociais, mesmo daquelas que
desontam, que ainda no tomaram forma, que ainda no abriram ca-
minho para sisemas ideolgicos esruturados (idem). Por outro lado,
como o prprio autor ressalta, no processo de relao social, onde se
produzem os signifcados, as palavras so marcadas pelo horizonte
social da poca e de um grupo social determinado. Logo, apesar de
muitas vezes ter at opinies favorveis reforma da esrutura fundiria
brasileira, os profssionais da imprensa possuem ainda, arraigado em
seu imaginrio, a concepo da naturalidade desse esado de coisas e
uma tendncia a reproduzir categorias de percepo, as tais esruturas
invisveis que organizam o percebido, determinando o que se v e o
que no se v (Bourdieu, 1997, p.25), que favorecem a manuteno do
monoplio da terra.
Para Cornelius Casoriadis, o que para cada sociedade forma pro-
blema em geral (ou surge como tal a um nvel dado de esecifcao e de
concretizao) inseparvel de sua maneira de ser em geral, do sentido
precisamente problemtico com que ela invese o mundo e seu lugar nele.
Ou seja, de certo modo, apesar do reconhecimento genrico da necessidade
11 Casoriadis Cornelius, A Insituio Imaginria da Sociedade, 2
a
edio, Editora Paz e Terra, Rio
de Janeiro p.12.
144 NEAD Debate 8
de se resgatar a dvida social do pas, o fato que o caminho de consru-
o de uma insitucionalidade disosa efetivamente a resolver a queso
agrria, que seria uma alternativa para isso, inseparvel da consruo
de um imaginrio central da sociedade brasileira que veja esse fenmeno
como um problema. Se at as prprias esquerdas e mesmo intelecuais
progressisas consideravam que no havia mais problema agrrio brasi-
leiro at a emergncia vibrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem-Terra, que dir o reso da sociedade. Como o prprio Casoriadis
explicita, os homens s chegam precisamente a resolver esses problemas
reais, na medida em que se apresentam, porque so capazes do imagin-
rio; e por outro lado, que esses problemas s podem ser problemas, s
se consituem como eses problemas que tal poca ou tal sociedade se
propem a resolver, em funo de uma imaginria central da poca ou
da sociedade considerada.
importante levar em conta que os jornalisas so consrutores dese
imaginrio porque mediadores por excelncia, ou seja, no dizer de Michel
Vovelle, so correias de transmisso de uma cultura, um saber. No caso
esecfco da atividade que desempenham nos meios de comunicao, eles
so exemplos do grupo de mediadores por funo, pois a natureza de
sua atividade os coloca entre o universo dos senhores e dos dominados
(Vovelle, 1991, p.216).
Esses esaos virtuais exisentes nos meios de comunicao de
massa, onde so defagrados os debates sobre a sociedade brasileira, so
ocupados por uma produo eminentemente simblica (as matrias
jornalsicas) que refetem e refratam a realidade e podem ser idealmente
tomados como esaos pblicos do debate agrrio brasileiro. Para
exisir como demanda poltica e ser reconhecida pelo Esado e, mesmo,
por membros do grupo com quem es sendo disutada politicamente,
a reforma agrria reivindicada pelos movimentos sociais do campo tem
que ocupar tambm ese esao e no s as terras que tm por alvo em
suas mobilizaes.
Em suma, a visibilidade da demanda por reforma agrria e da resosa
poltica do Esado brasileiro para a queso, em termos de aes concretas
ou de represso demanda, depende muito do seu acesso cena pblica
12 Idem.
Assentamentos em debate 145
com as mobilizaes e do que poseriormente descrito nos jornais,
revisas de circulao nacional, programas de TV e de rdios do pas e,
mais recentemente, em sites da Internet. A produo miditica sobre os
confitos do campo so inclusive incorporadas dentro de processos judi-
ciais, e seus textos podem aparecer reproduzidos nas peas de denncia
dos promotores contra lderes do MST.
Ocupao da m dia
A ocupao da mdia por parte dos movimentos de sem-terras se evi-
denciou sobretudo a partir da segunda metade dos anos 90, dada a pre-
sena de um movimento social altamente organizado, como o MST, e o
reconhecimento da pertinncia de se esabelecer uma interlocuo com
ele por parte do governo Fernando Henrique Cardoso, no incio de seu
primeiro mandato. A senha dese reconhecimento ocorrida em julho
de 1995, quando o ento presidente recebeu os lderes do movimento, que
faziam seu III Congresso em Braslia foi logo decodifcada pela imprensa,
cujos profssionais encontraram sob aquelas bandeiras vermelhas um
fascinante objeto de pautas jornalsicas.
Entretanto, os profssionais, que trabalham em empresas de proprie-
dade tambm altamente concentrada4, tendem a reproduzir o senso
comum contrrio atuao dos movimentos sociais e s invases
a forma como eles at hoje conseguiram obter alguma poltica de assen-
tamentos no pas.
13 Trabalhei esecifcamente com ese fenmeno em minha dissertao de mesrado que aborda o
processo judicial desencadeado depois do episdio conhecido como confito da Praa da Matriz,
que ocorreu em Porto Alegre, em 1990. Lerrer, Dbora. Os sons do silncio da Praa. Dissertao
de Mesrado, Escola de Comunicao e Artes da USP, 1998.
14 So cerca de sete os principais grupos de comunicao do pas comandados por um punhado
de famlias: Organizaes Globo (famlia Marinho), Bandeirantes (famlia Saad), Grupo Esado
(famlia Mesquita), Grupo Folha (famlia Frias), Grupo Abril (famlia Civita), Grupo RBS (famlia
Sirotsky), TV SBT (famlia Abravanel; Slvio Santos). A TV Record, no es nas mos de uma
famlia e sim da Igreja Universal do Reino de Deus. O Grupo JB (originalmente famlia Nasci-
mento e Brito, hoje arrendado para Nelson Tanure) e a Gazeta Mercantil (famlia Levy) tambm
podem ser colocados dentro dese segmento dada a circulao nacional desses jornais, apesar de
sua fragilidade fnanceira.
146 NEAD Debate 8
Esse senso comum crisalizado porque foi moldado em uma mem-
ria assentada nesas esruturas sociais que naturalizaram a concentrao
fundiria e bloquearam, durante vrios momentos da hisria brasileira,
qualquer tentativa de modifc-la, mesmo porque o desreseito pro-
priedade privada considerado profundamente ameaador para a ordem
social. Mas apesar de interpretar os fatos que relatam na linguagem tcnica
de sua profsso a partir desse molde, ajudando a crisalizar e reproduzir
ainda mais esa percepo social conservadora, muitas matrias publica-
das dentro desa esrutura de sentido foram fundamentais para avanar
a compreenso da queso agrria na sociedade brasileira.
inegvel que houve uma grande mudana de percepo social sobre
ese tema, pois a legitimidade de se manter grandes propriedades impro-
dutivas passou a perder terreno, tanto que os representantes dos setores
ruralisas, como o presidente da Sociedade Rural Brasileira, Joo Almeida
Sampaio, consideraram que o MST, durante o governo Fernando Henrique,
passou a ter apoio da mdia e da populao urbana, que criou uma viso
disorcida do setor rural, de que ele era explorador, inefciente, predador
do meio ambiente e de que no empregava ningum. Para Sampaio, foi
seguindo todo o apoio da mdia que o governo Fernando Henrique fez
a maior e talvez uma das piores reformas agrrias do mundo.
Apesar desa viso do lder ruralisa e talvez porque hoje a produo
oriunda de grandes propriedades rurais altamente modernizadas seja a
resonsvel pelo saldo da balana comercial da economia brasileira ,
os traos negativos da poltica agrria do Esado foram de fato os mais
enfatizados nas reportagens que usaram dados da pesquisa de Sparovek,
fcando, em geral, a cargo da fala do prprio pesquisador a viso de que
mais do que olhar as excees, ou seja, os 11% que abandonam os lotes
de reforma agrria, era importante perceber que a grande maioria per-
manece nesses locais, praticamente sem qualquer infra-esrutura, porque
enfrentaria uma realidade mais cruel se no tivessem acesso terra.
1 Entrevisa de Joo Almeida Sampaio dada autora para o livro Reforma agrria: os caminhos
do impasse, Editora Garoni, So Paulo 2003 pp.13-189.
1 Incra vai Jusia para reaver lote de luxo, Esado de S. Paulo, 1 de fevereiro de 2004.
Assentamentos em debate 147
A memria da construo de senti do
Exise uma hisoricidade, uma memria que, em geral, fruto de uma
disuta simblica e que es sempre por trs de qualquer processo social
de consruo de sentido, do qual o jornalismo um exemplo peculiar.
Por esa razo, a prpria elaborao do que deve ou no ser considerado
fato jornalsico depende muito do repertrio de cdigos que sero sele-
cionados e esruturados dentro da linguagem jornalsica e que vo ser
considerados a explicao mais verossmil e natural para determinados
eventos problemticos. Essa operao de esruturao e representao de
um fato feita pelo mediador-jornalisa, que a faz baseado em repertrio
de imagens e referncias sobre o meio rural, quase sempre vinculadas
viso dominante, dada a experincia de vida desse ator, oriundo geralmente
das camadas mdias urbanas. Excluindo-se algumas matrias conjuntu-
rais de jornalisas mais experientes no tema, o modo como a cobertura
jornalsica trata a disuta exisente no meio rural brasileiro sobre a legi-
timidade da concentrao fundiria do pas feita de forma fragmentria.
Todos os anos, conforme o calendrio agrcola e/ou as datas simblicas
da luta pela terra que seguido mais ou menos a risca pelos movi-
mentos sociais para organizar suas mobilizaes os jornalisas vo aos
locais do fato, descrevem o que viram, passam alguns dias acompanhando
os desdobramentos do episdio, at que surja algo mais sensacional que
acaba subsituindo o esao dado para o retrato dessas lutas nos meios de
comunicao de massa, embora, muitas vezes, a resoluo dos confitos
eseja longe de acontecer.
Na prtica, ao longo dos ltimos anos, o processo social e poltico
de luta pela reforma agrria tornou-se cotidiano, o que diminui sua
singularidade e, portanto, o apelo noticioso que se cola a ele e o faz ser
reverberado pelos jornais. Evidentemente que a conjuntura poltica
nacional determina um maior ou menor interesse em repercutir deter-
1 2 de Julho, dia do Trabalhador Rural; maio, poca em que ocorre anualmente o Grito da Terra,
em geral organizado pela Confederao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag); 12
de agoso, dia do assassinato de Margarida Alves; e, mais recentemente, 1 de abril, data em que
ocorreu o massacre de Eldorado dos Carajs, no Par, e que a Via Campesina, uma articulao
mundial de camponeses, defniu como o Dia Internacional de Luta pela Terra.
148 NEAD Debate 8
minados fatos promovidos pelos sem-terra, mas, em geral, e apesar dos
consantes riscos de signifcao que a envolvem por conta da violncia
que lhe imputada ao quesionar o direito de propriedade por meio de
invases/ocupaes , a luta dos sem-terra j se tornou incorporada no
cotidiano da imprensa sem que isso representasse uma viso mais ou
menos abrangente do que esse processo tem de peculiar e profundamente
transformador para a realidade social brasileira.
importante comparar ese contexto com alguns momentos de pice
da visibilidade desa luta, que se inicia em 1995 e vai at 1997, tendo por
fatos marcantes os massacres de sem-terras em Corumbiara (agoso de
1995) e Eldorado do Carajs (abril de 1996) e a marcha que o MST fez
a Braslia em abril de 1997. Depois desse perodo, e refetindo tambm
a poltica que o governo Fernando Henrique Cardoso adotou em seu
segundo mandato a representao dos sem-terra na mdia passou por
uma infexo que terminou por minar a credibilidade do MST dentro do
esao pblico miditico. Entre as matrias emblemticas que caracerizam
esse perodo de fm de namoro da mdia com o MST, es a srie de
reportagens, tambm publicadas, pelo jornal Folha de S. Paulo, de autoria
de Josias de Souza, centradas nos chamados pedgios compulsrios que
os assentados tinham que pagar organizao, retirados dos crditos de
produo liberados pelo governo, e a edio da revisa Veja, que trazia
na capa a foto do lder do MST, Joo Pedro Stdile, sob uma iluminao
vermelha, com o ttulo A esquerda com raiva.
Ao considerar esse contexto poltico insitucional que, em termos
jornalsicos, uma pesquisa de abrangncia nacional, que detalha dados
de qualidade de vida de praticamente todos os assentamentos criados
no pas desde 1985 at 2001 deveria ter se tornado um marco, mesmo
porque veio a pblico no incio do governo Lula, do PT. Se, por um lado,
o retrato, feito por pesquisas de assentamento mais localizadas tenda a
18 Esses crditos, em geral, s cosumavam sair depois de mobilizaes como ocupaes do Incra e
de agncias do Banco do Brasil. Esas matrias acarretaram o fm do Lumiar, convnio esabelecido
pelo Incra com agrnomos, vinculados em sua maioria aos movimentos sociais para presarem
assisncia tcnica aos assentamentos.
19 Esa edio de 3 de junho de 1998 foi objeto de processo contra a revisa, ganho em primeira
insncia por Stdile.
Assentamentos em debate 149
ser mais preciso, at o surgimento da realizada pela USP, havia a lacuna
desa viso nacional detalhada do que resultou esa poltica implantada
de maneira titubeante pelo Esado brasileiro ao longo das ltimas d-
cadas0 e, mais concentradamente, nos oito anos do governo Fernando
Henrique. O valor desse retrato macro particular transcende as prprias
concluses retiradas da pesquisa, simplesmente porque ele deu margem
a outros tipos de pauta, que romperam com o senso comum circular em
torno da reforma agrria, mais centrado no confito e nas mobilizaes
do que no processo silencioso e relegado a segundo plano de implanta-
o de polticas de atendimento para esa demanda, ou seja, a criao
propriamente dita dos projetos de assentamento.
O esudo, em suma, enfocou um aseco ausente das cosumeiras
abordagens da luta pela reforma agrria que, na imprensa, passou a ser
rotineiro e esvaziado, resumido a ocupaes, presses dos trabalha-
dores e fofocas polticas envolvendo movimentos sociais e governo (o
troca-troca de declaraes bombsicas que do margem a alguns dias
de esridncia miditica), com o agravante de que, em geral, quando os
holofotes se apagam, as aes do governo tambm cosumam empacar.
, portanto, nesse ambiente que frutifca a desinformao, o eseretipo,
e solidifca um imaginrio inerte porque no avana na compreenso
do problema, e disancia a sociedade de uma viso mais aprofundada
do tema. importante salientar que a desinformao tem um papel. Ela
em si um agente que compe o imaginrio sobre o assunto e atende
aos interesses de determinados grupos sociais contrrios a uma poltica
efetiva de reforma agrria.
Por outro lado, a prpria exisncia de uma pesquisa desse gnero
contratada pelo Esado, mais precisamente, pelo governo Fernando Hen-
rique Cardoso, que no teve suas aes na rea propriamente elogiadas
pelos dados divulgados, sinaliza, retomando as idias de Casoriadis, que
a maneira de ser da sociedade brasileira avanou, pelo menos, no imagi-
nrio, na busca pela resoluo desse problema, pois houve a ascenso a um
novo patamar de discusso, expresso na prpria contratao da pesquisa.
20 Houve um censo de assentamentos feito em 199, mas alm de ter problemas metodolgicos, ele
no incorporava todo o volume de assentamentos criados a partir de 199, mais de 3.00, que
compem a grande maioria dos projetos exisentes hoje.
150 NEAD Debate 8
Alm disso, a formulao da pesquisa, o mtodo escolhido e a agilidade
com que ela foi feita demonsram a possibilidade de que o Esado, por
meio dos rgos envolvidos com o tema (Minisrio do Desenvolvimento
Agrrio, Incra e demais Insitutos de Terras dos esados da federao),
venha a incorpor-la como rotina. Com isso, ele ter condies de criar
insrumentos de ao mais precisos nos projetos de assentamento. A
implantao de uma rotina de pesquisa sobre os efeitos da interveno
do Esado na esrutura fundiria brasileira promove uma maior per-
meabilidade frente s demandas de seu pblico-alvo e uma viso mais
qualifcada do processo. Mas, o mais importante que, sendo o Esado,
ele prprio, imbudo pelas contradies de classe que exisem na socie-
dade brasileira, o fato de que em um momento ter sido possvel fnanciar
pesquisas desse tipo (e mesmo criar o Minisrio do Desenvolvimento
Agrrio), evidencia que passou a ser socialmente mais intolervel manter
a tradicional poltica agrria vigente na hisria brasileira, baseada na
colonizao de reas remotas, represso ou a posergao pura e simples
de qualquer medida para alterar a esrutura fundiria.
Evidentemente que, se por um lado o Esado brasileiro avanou al-
guns passos nesse sentido, no menos verdade que as foras polticas
que sempre bloquearam a reforma agrria no pas continuam fortes e
organizadas e muito hbeis no que sempre foi sua esecialidade que a
chamada poltica de corredores, na qual sua presso pode ser feita, se
no no Executivo e no Legislativo, no Poder Judicirio, onde a maioria das
aes de desapropriaes empaca e onde se busca criminalizar a atuao
dos movimentos sociais. Por outro lado, no deve ser desconsiderado
que as precrias situaes encontradas nos assentamentos presentes nas
matrias que abordaram a pesquisa ocorreram paralelas ao auge das
exportaes de produtos agrcolas em 2003, marcado pelo alto preo
da soja no mercado internacional e que, alm de segurarem a economia
brasileira, legitimaram o agronegcio, baseado em grandes propriedades
rurais altamente mecanizadas e com uso intensivo de insumos, em de-
trimento da agricultura familiar dos assentamentos, visa, dentro dese
modelo agrcola, como economicamente menos efciente.
Outro aseco que jusifca a implantao de uma rotina de pesquisa,
alm da resosa que ela d para a sociedade sobre o resultado desse
Assentamentos em debate 151
invesimento pblico, a qualifcao do gerenciamento do Esado
sobre sua poltica agrria. Mesmo tomando como pressuposo que so
os movimentos sociais do campo, em esecial o MST, os atores funda-
mentais da presso sobre o Esado para a efetivao e at formulao
de sua poltica de assentamentos, uma reforma agrria propriamente
dita, em um contexto no-revolucionrio como o brasileiro, tem que
ser resultante da ao do Esado e no de um governo que, por sua na-
tureza, transitrio. o Esado que, apesar de todos os seus problemas
gerenciais, adminisrativos e polticos, pode criar polticas perenes e no
paroquiais de interveno no campo, ou seja, que atenda demandas de
todo o conjunto dos sem-terra e no desse ou daquele movimento social.
em um Esado ideal e no no nosso, ainda marcado pela tradio
patrimonialisa, clientelisa e pelos interesses de classe de uma elite alta-
mente envolvida econmica e ideologicamente com a grande propriedade
rural que se poderia encontrar e se encontram servidores (contratados
via concurso), como o ento superintendente do Incra de Alagoas, cujo
discurso explicita aes que so voltadas para a implantao de polticas
pblicas e no para o atendimento dos interesses dese ou daquele grupo
social e, mesmo do governo.
Evidentemente que se esa situao ideal no a mais comum nos
rgos pblicos no h porque desisir de que ela venha algum dia a
ocorrer nese processo de mudana de paradigma poltico e tico pelo
qual a sociedade brasileira passa desde o processo de redemocratizao
do pas e da emergncia de foras sociais cuja notoriedade foi consruda
em torno dessas bandeiras.
Para o Esado brasileiro criar insrumentos perenes e efetivos de poltica
agrria, h uma conjuntura poltica que lhe informa, dependendo das
foras polticas que ocupam o governo, mas inegvel que as lutas sociais
do campo e a visibilidade que conquisaram na sociedade nos ltimos
anos foram consruindo lentamente um consenso de que a reforma agr-
ria pode ser uma sada. Alis, o curioso nese pas, onde ningum gosa
de assumir-se como de direita, a difculdade de se encontrar algum
que no apie a reforma agrria. O que varia o sentido que cada grupo
social d a essa expresso.
152 NEAD Debate 8
O inexplicvel nese contexto todo que os jornalisas, os mediadores
e catalizadores dos processos polticos e da consruo de um imagin-
rio social sobre o tema ainda, em sua maioria, produzam sentidos que
refetem mais a viso desqualifcadora dese processo do que o contrrio,
demonsrando que a sociedade es mais frente do que captado pelas
antenas deses profssionais, sem desconsiderar, claro, a presso que
eles eventualmente devem sofrer dentro das empresas onde trabalham
para reproduzir essa viso.
Mas, exatamente nese sentido que uma pesquisa de carter nacional
poderia ter o papel de qualifcar melhor o debate pblico consrudo pelo
jornalismo nos meios de comunicao em torno da queso agrria bra-
sileira. Para tanto, parto do conceito formulado por Adelmo Genro Filho
de que o jornalismo uma forma social de conhecimento crisalizada
na singularidade, ou seja, a partir daquilo que mais peculiar, esranho
ou diferente. Evidentemente que o que ese conhecimento considera
singular produto de uma infexo ideolgica modelada de acordo com
a viso dos intermedirios desa mensagem, os mediadores, jornalisas e
editores e os veculos de comunicao de massa. Ou seja, a viso do que
um fato singular, cuja peculiaridade o faz tornar-se uma notcia depende
do ponto de visa, da viso de mundo dos mediadores resonsveis pela
reconsruo desse fato na linguagem jornalsica.
Logo, o posicionamento tico e poltico sobre a realidade brasileira
desses jornalisas e editores fundamental na escolha dos fatos que sero
classifcados como jornalsicos e nem sempre so resultado da presso
dos donos dos grupos de comunicao. O jornalisa reverbera muitas
vezes os, digamos, humores que eso na superfcie da sociedade. Sendo
uma cincia social aplicada, a tendncia desses mediadores reproduzir
nos jornais o resultado de uma conexo com a realidade, com o mundo
dos fatos, por intermdio da singularidade. O lugar comum, portanto,
sempre evitado, mesmo porque dessa maneira que os profssionais
conseguem vencer a disuta entre seus colegas reprteres para ocupar o
escasso esao exisente nas pginas de jornais e revisas ou na progra-
mao de TV e de rdio.
Nesse sentido, quando aparece uma pesquisa de carter nacional, com
mtodos e procedimentos explicitados de forma clara, uma de suas prin-
Assentamentos em debate 153
cipais vantagens que ela reduz a margem de manobra para a consruo
de matrias que queiram generalizar asecos ruins da poltica de reforma
agrria implantada pelo Esado brasileiro. Em tese, o reprter no pode
mais ir a um assentamento lascado, onde as famlias ainda vivem em
situaes precrias, a produo baixa e h signifcativa evaso de lotes,
como pode ser encontrado nos assentamentos exisentes na regio Norte,
sem mencionar que os dados da pesquisa explicitam que essa situao
tende a ser caracersica daquela regio, onde, por sinal, a precariedade
tem que ser creditada ao prprio Esado, que deixa de cumprir grande
parte de suas atribuies, como dotao de crdito de insalao, habita-
o, produo, ou mesmo implantao de escolas e posos de sade. Por
outro lado, os dados tambm ajudam a relativizar uma matria sobre
um assentamento bem-sucedido, como alguns exisentes na regio Sul,
que tambm no podem mais ser considerados exemplos nacionais
caracersicos dessa poltica. , alis, uma das grandes contribuies da
pesquisa, a fotografa detalhada da enorme disaridade exisente entre as
regies brasileiras, apontando a necessidade de se desenvolverem receitas
de reforma agrria mais adaptadas s realidades locais.
Em suma, apesar da riqueza de interpretaes possveis sobre os
dados da pesquisa, que deveriam ter sido reverberados com muito mais
impaco nos meios de comunicao de massa, importante desacar
que a maioria das matrias que abordaram a pesquisa singularizou a
precariedade dos assentamentos criados, a inefcincia do Esado (que,
no entanto, ainda es efetivamente desaparelhado para lidar com esse
problema), a improdutividade dos lotes ou o pssimo hbito dos assen-
tados de abandon-los ou vend-los. Ou seja, muito mais do que auxiliar
no aumento da compreenso da sociedade brasileira e mesmo contribuir
para a consruo de consensos sobre medidas que venham a aplacar a
profunda desigualdade social do pas, essas matrias reproduzem as for-
as hegemnicas da sociedade altamente vinculadas com os interesses
da grande propriedade rural associadas a uma leitura descolada da
realidade das populaes pobres do campo, de suas necessidades e de
suas persecivas limitadssimas de ascenso social. Desse modo, salvo
154 NEAD Debate 8
honrosas excees, boa parte da produo jornalsica brasileira colabora
para a manuteno de um imaginrio social impotente diante das razes
seculares da desigualdade social, centrada na concentrao fundiria, o
que em face da abundncia de terras frteis e ociosas exisentes no pas,
deveria soar como um enorme absurdo.
Bi bli ografia
Bakhti n, Mikhail. Marxismo e flosofa da linguagem. 6
a
ed. So Paulo:
Hucitec, 1981.
Bourdi eu, Pierre. O Poder simblico. Lisboa: Difel, 1989.
___ ___. Sobre a televiso. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997.
Castoriadi s, Cornelius. A Insituio imaginria da sociedade. 2
a
ed. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1982.
Genro Filho, Adelmo. O Segredo da pirmide. Porto Alegre: Editora
Tch, 1987.
Hall, Stuart. Culture, the media and ideologica efec . In: Curran,
James.
Gurevi tch, Michael; Woolacot, James. Mass comunication
and society. London: Open University, 1977.
Li ppman, Walter. Eseretipos. In: Stei nberg, Charles S. Meios
de comunicao de massa. 2
a
ed. So Paulo: Cultrix, 1992. p.149-59.
Martins, Jos de Souza. O Poder do atraso. So Paulo: Hucitec, 1994.
_______. A reforma agrria no segundo mandato de Fernando Henrique
Cardoso. Tempo Social Revisa de Sociologia da USP, v.15, n.2, p.141-175, 2004.
Medi tsch, Eduardo. O conhecimento do jornalismo. Florianpolis:
Editora UFSC, 1992.
VOVELLE, Michel. Ideologias e mentalidades. 2
a
Ed. So Paulo:
Brasiliense, 1991.
21 Edio da revisa Carta Capital, de 28 de abril de 2004, que aborda o resultado da pesquisa realizada
por uma equipe coordenada por pesquisadores em regies de concentrao de assentamentos,
publicada no livro Impacos dos assentamentos: um esudo sobre o meio rural brasileiro, de
Srgio Leite, Beatriz Heredia, Leonilde Medeiros, Moacir Palmeira e Rosngela Cintro (coord.),
Incra/NEAD/MDA/Unes, Braslia, 2004.
Pesquisa agropecuria
e reforma agrria
Contri bui o para a anli se da
quali dade dos assentamentos
Jos Carlos Costa Gomes
Doutor em Agroecologia e Desenvolvimento Sustentvel, Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa Clima Temperado).
2.7
156 NEAD Debate 8
Introduo
O
texto aborda alguns asecos sobre a qualidade de assentamentos
de reforma agrria na perseciva da pesquisa agropecuria que
pretende ser um dos pilares desa qualidade. A abordagem inclui persec-
tivas metodolgicas e tecnolgicas. O contedo produto da experincia
no tema e da viso particular de que a pesquisa agropecuria ainda tem
muito a contribuir para a qualidade da reforma agrria.
Contri bui o da pesqui sa para a
compreenso da reforma agrria
A grande contribuio que o texto oferece para a tica do vis de anlise
que represento, a pesquisa agropecuria, foi a de mosrar a complexidade
que exise no tratamento de temas tambm complexos como a prpria
reforma agrria. Tema, assim, num pas com a dimenso do Brasil, no
pode ser viso de forma linear. Esse um ponto que afeta diretamente
pesquisa agropecuria e a produo do conhecimento cientfco.
O texto tambm pode contribuir para a (re)defnio de polticas
pblicas, j que torna evidente a urgente necessidade de transversaliza-
o da ao das diversas agncias do Esado para que pblicos como os
assentados da reforma agrria possam ser benefcirios dessas polticas.
A ao integrada de rgos como o Insituto Nacional de Colonizao
e Reforma Agrria (Incra), o Insituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovveis (Ibama) e a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuria (Embrapa), alm de minisrios como o de Minas
e Energia (MME), do Desenvolvimento Agrrio (MDA), da Agricultura,
Pecuria e Abasecimento (Mapa) e do Meio Ambiente (MMA), entre
Assentamentos em debate 157
outros, poderia contribuir para a soluo de muitos dos problemas hoje
enfrentados pelos agricultores familiares, esecialmente nos assentamentos
rurais da reforma agrria.
Esecifcamente para a pesquisa agropecuria, o texto evidencia o
muito que ainda h por fazer na produo de conhecimento cientfco
para a viabilizao de sisemas de produo mais susentveis, incluindo
as queses ambientais, da incluso social, da segurana alimentar, da
gerao de emprego e renda, da agricultura orgnica e da agroecologia,
por exemplo. Nese sentido, a formatao de um macroprograma de
pesquisa esecfco para a agricultura familiar, iniciado pela Embrapa
em 2004, com certeza vai possibilitar que esse tema receba tratamento
diferenciado em relao ao que tem ocorrido hisoricamente, inclusive
com a alocao de recursos humanos e fnanceiros esecfcos.
Contri bui o para a compreenso
da abordagem metodolgi ca
No que tange a metodologia aplicada na pesquisa em anlise, em primeiro
lugar, cabe desacar que as falhas eso apontadas no prprio texto. Por
exemplo, na pgina 105, ao tratar dos ndices de qualidade de vida: os
mtodos adotados na anlise dos dados desa pesquisa no permitem
esabelecer relaes de dependncia ou de causa e efeito de forma muito
efciente. Ou na pgina 126, quando analisa ndice de qualidade do meio
ambiente, relativo a reas de Preservao Permanente (APP) e Reserva
Legal (RL): como a metodologia da pesquisa no permitiu avaliar se
as APPs e RLs j esavam degradadas na poca de criao dos projetos,
surgem novamente duas possibilidades....
Ou ainda na pgina 133, ao avaliar o mesmo ndice agora no que toca
eroso:
Outras formas de eroso, como a eroso laminar, que podem esar ocorrendo
de maneira menos perceptvel, mas contribuindo signifcativamente para a
degradao ambiental e comprometendo a produo num prazo maior, no
foram includas na formulao da queso. Ese vis da queso da eroso no
foi negligenciado na elaborao do quesionrio, mas foi suprimido por ser de
158 NEAD Debate 8
difcil percepo e quantifcao no tipo de entrevisa adotado para a consituio
do banco de dados da pesquisa.
Ou ainda quando da anlise da renda nos assentamentos, na pgina 136:
a entrevisa, sendo feita para a totalidade do projeto, decorrncia da esratgia
metodolgica adotada na pesquisa, fez com que na renda, diferentemente dos
outros temas, seja eserada signifcativa perda de preciso e exatido numrica
nas resosas.
O fato de apontar as falhas metodolgicas no prprio texto ajuda a
enriquec-lo, ainda mais na perseciva de novos esudos, pois, como dizia
Mario Bunge, o pesquisador competente qualifca o mtodo, recriando-
o; jamais ocorrer o inverso: o bom mtodo nunca vai transformar o
pesquisador medocre num sbio pela correta aplicao das melhores
tcnicas e insrumentos de pesquisa.
Do ponto de visa da pesquisa agropecuria, mais esecifcamente, o
texto no apresenta muitos detalhes sobre os formatos tecnolgicos ou
as opes tecnolgicas adotadas nos assentamentos, o que ajudaria na
defnio de projetos mais esecfcos para a consolidao do tema da
susentabilidade em suas vrias dimenses.
Tambm no que toca queso ambiental, a opo metodolgica
de avaliar eroso, sem esudar o hisrico das reas, por exemplo, no
permite aferir a complexa realidade ambiental dos assentamentos, o que
alis tambm reconhecido no texto (p. 135). Iso tambm ocorreu no que
afeta a biodiversidade, na mesma pgina. Ainda h que considerar que
para determinadas regies ou esratgias dos assentados, o item acesso
a tratores possa no ser um bom indicador para qualidade de vida (p. 58).
Esse pode ser um indicador para patrimnio, mas para processos de
produo que deveriam ser intensivos em mo-de-obra ou que podem
esar localizados em reas com potencial para outro esilo de agricultura
que no o mecanizado. Assim, o ndice no tem o menor signifcado.
E como ltima anotao, na pgina 89, no que toca ao ndice de efc-
cia da reorganizao fundiria (IF), parece pretensioso avaliar o sucesso
da interveno do governo em alterar a esrutura fundiria apenas pelo
Assentamentos em debate 159
cumprimento do potencial de ocupao da rea dos assentamentos. Esse
indicador refete to somente a situao interna dos assentamentos no
tendo a menor expresso como indicador para reorganizao fundiria.
Contri bui o para a quali fi cao
da abordagem tecnolgi ca
Ainda que o esudo tenha pretendido uma certa completude analtica,
o tema da tecnologia adequada para os assentamentos, considerando
a multiplicidade de propsitos e a diversidade exisente no mbito da
agricultura familiar brasileira, esecialmente a da reforma agrria, foi
escassamente abordado. Outro esudo talvez deva contemplar as dife-
rentes esratgias tecnolgicas nos diferentes momentos da vida de um
assentamento. Ainda que o tema da susentabilidade dos sisemas de
produo seja relativamente recente no mbito dos movimentos sociais
ligados diretamente reforma agrria, como o caso esecfco do MST,
a necessidade de trabalhar na produo de cincia e tecnologia que
consolide eses esilos de agricultura vem tendo importncia crescente
nos ltimos anos e apresenta-se como um grande desafo no s para a
pesquisa agropecuria como para todas as entidades ligadas agricultura,
em geral, e agricultura familiar, esecifcamente.
Perspecti vas e restri es da anli se sobre a
quali dade dos assentamentos da reforma agrria
brasi lei ra para a pesqui sa agropecuria
O foco da anlise do livro A Qualidade dos Assentamentos da Reforma
Agrria Brasileira es centrado na interface da temtica reforma agrria
com a pesquisa agropecuria e na sua tarefa de produo, adaptao e
transferncia de tecnologia e conhecimento cientfco.
O primeiro ponto selecionado para esa anlise a falsa contradio
entre agricultura familiar e agricultura patronal, ou mais precisamente
agronegcio, termo que es na moda, e ainda sobre o que desenvol-
vimento. Na pgina 33, es escrito:
160 NEAD Debate 8
Nese sentido, sabe-se que nada impede que uma explorao familiar tenha alto
ndice tecnolgico e que uma grande explorao utilize tecnologia ultrapassada
e degrade os recursos naturais. O debate travado em vrios pases e, inclusive,
no Brasil, se d em torno da capacidade da agricultura baseada na mo-de-obra
familiar incorporar tecnologia de tal sorte a suportar adequadamente as deman-
das colocadas pelo processo de desenvolvimento. Em contrapartida, h autores
que acreditam que a explorao agrcola, para ser efciente, deve basear-se em
grandes unidades de produo e na economia de escala.
A intensifcao tecnolgica levada a cabo pelos agricultores fami-
liares quando do incio do processo de modernizao da agricultura
brasileira foi, exatamente ela, uma das resonsveis pela excluso de um
grande nmero desses agricultores, que mais tarde viriam a formar o
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), jusamente o
principal pblico-alvo da reforma agrria. Ento, assumir que o processo
de desenvolvimento se d pela incorporao tecnolgica, sem sequer
discutir que esilo de tecnologia e em que situao, pode representar a
reedio do equvoco.
Iso no se aplica somente aos pequenos agricultores, haja visa
que tambm a agricultura empresarial, em alguns casos, foi vtima da
intensifcao tecnolgica imposa pelas demandas do processo de
desenvolvimento. So notrios e basante documentados os casos de
agricultores empresariais que no puderam quitar as dvidas contradas
com o sisema bancrio, chegando at mesmo penhora de seus equipa-
mentos e esabelecimentos. Ademais, a incorporao tecnolgica pode
apenas aumentar o grau de dependncia dos agricultores a insumos
externos a seus esabelecimentos, regio ou at mesmo ao pas. Esse
um tema candente para a pesquisa agropecuria.
A ao plural que permita que tanto a agricultura empresarial quanto a
familiar possam se apropriar do conhecimento cientfco, como a gerao
de conhecimentos cientfcos e de tecnologias que diminuam a depen-
dncia a insumos externos, deve merecer a ateno da pesquisa pblica
brasileira. Para o caso esecfco da pesquisa agropecuria direcionada
agricultura familiar, includa a da reforma agrria, a busca de formatos
tecnolgicos e de matriz produtiva que garantam a segurana alimentar j
Assentamentos em debate 161
nos primeiros momentos do assentamento um tema de primeira ordem,
o que exige projetos esecfcos de pesquisa e desenvolvimento. Mas no
basa a segurana alimentar, tambm necessrio trabalhar para a gerao
de renda numa perseciva temporal do curto ao longo prazo. O que cabe
ressaltar que o desenvolvimento susentvel no mbito do assentamento
comea com a segurana alimentar, mas deve tambm ser planejado para
a incorporao ao mercado, com a menor dependncia possvel, mas sem
a pretenso a um desenvolvimento puramente autrquico.
Para as unidades de pesquisa da Embrapa, o desafo seria esabelecer
aes de parceria com as agncias pblicas que atuam na reforma agrria,
utilizando como ponto de partida a viso do esao territorial. Aes de
desenvolvimento com essa concepo j teriam impacos imediatos na
qualidade dos assentamentos, dado o grande esoque de tecnologias ge-
radas ou adaptadas prontas para o uso, mas que sequer chegou at eles.
Outro ponto para anlise o que trata da explorao da rea til. Na
pgina 95, es regisrado:
A no explorao de toda a rea til dos projetos pode ser decorrente de diversos
fatores: a) difculdade de acesso ao montante de crditos e benefcios necessrios
para a efetiva explorao de toda a rea; b) incluso de reas inaptas explorao
agrcola na rea til do projeto; c) concesso de rea maior que a disonibili-
dade de mo-de-obra das famlias; e d) implantao por parte das famlias de
sisemas de produo mais intensivos do que os previsos, prescindindo assim
de extenses menores de terra.
Esse um tema complexo que depende tambm de outros fatores, como
o objetivo das famlias, a proximidade aos mercados de insumos e compra-
dor, disonibilidade de assisncia tcnica e de tecnologia, conhecimento
sobre o agroecossisema onde ocorre o assentamento, entre outros.
Em esudos futuros, a avaliao sobre rea explorada poderia ser
relacionada com outros dois itens analisados no texto: ndice de articu-
lao de organizao social (IS) e ndice de ao operacional (AO), es-
pecifcamente no que toca ao obrigatrio Plano de Desenvolvimento dos
Assentamentos (PDA). que esses ndices, se recebessem mais ateno e
fossem tratados antes da insalao do assentamento, poderiam ajudar a
162 NEAD Debate 8
resolver muitos problemas at no que toca a rea explorada. A articulao
e a organizao no deveriam visar somente busca de benefcios sociais
e servios, mas tambm defnio prvia do compromisso e do papel
de agncias pblicas que tm interface com a reforma agrria, como
o caso da pesquisa agropecuria e da assisncia tcnica, que poderiam,
de imediato, contribuir com diversas queses, inclusive com a defnio
da melhor opo tecnolgica para o assentamento, o que determinaria
a prpria rea a ser explorada e sua melhor utilizao, por exemplo. J
o PDA poderia ser realizado antes do prprio assentamento e no de-
pois, correndo o risco de uma boa inteno ser transformada em mera
formalidade. Necessrio salientar que esa observao es orientada ao
futuro e na perseciva do vis de anlise da pesquisa agropecuria, no
esando resrita anlise do texto em si.
Uma experincia inovadora ocorreu no Rio Grande do Sul, no marco
de um convnio entre a Embrapa Clima Temperado e o Incra, por meio
da superintendncia esadual. Nese caso, se trabalhou na consruo
de uma cmara tcnica, formada por representantes de universidades,
da Emater/RS, da Embrapa e do prprio Incra. Um dos problemas
enfrentados na reforma agrria o baixo esoque de terras disonveis,
at como refexo do bom momento da agricultura e do agronegcio no
Brasil. As melhores terras eso praticamente indisonveis nas regies
mais desenvolvidas, o que regisrado no texto, comprometendo ainda
mais a poltica de reforma agrria.
O objetivo da cmara tcnica foi o de avaliar a possibilidade de implan-
tao de outro esilo de assentamento a partir de uma matriz produtiva
diferente e de outro formato tecnolgico, baseado na agroecologia, em rea
a princpio considerada imprpria para assentamento para um esilo de
agricultura convencional e que havia sido ofertada para fns de reforma
agrria. Para o caso esecfco, foi montada uma proposa que contempla
atividades complementares entre si, considerando aptido e capacidade
de uso do solo, aproveitamento de reas consideradas imprprias para
agricultura convencional com reforesamento, fruticultura, rizipisci-
cultura, apicultura, entre outras. Para consolidar um assentamento com
essas caracersicas, deve ser realizado um trabalho prvio na seleo
de famlias com aptido e vontade de enfrentar tal desafo. Ou seja, se a
Assentamentos em debate 163
defnio do planejamento esratgico do assentamento for realizada antes
e no depois de sua insalao, muitos dos problemas de uso inadequado
de reas, da adoo de formatos tecnolgicos insusentveis ou da opo
por determinados sisemas de produo inadequados ou incompatveis
com o agroecossisema poderiam ser evitados.
Hoje o que se observa em determinadas regies, como na metade sul
do Rio Grande do Sul, que depois de quase 15 anos de insalao dos
primeiros assentamentos muitos agricultores ainda no encontraram
uma proposa ou arranjo produtivo que lhes garanta a to almejada
susentabilidade.
Um outro aseco digno de observao o que se refere ao ndice
de qualidade do meio ambiente (QA), quando aponta que os maiores
ndices foram regisrados nos assentamentos novos, dando margem a
duas interpretaes:
a) a qualidade do meio ambiente diminui com o desenvolvimento do projeto e
com a intensifcao dos sisemas de produo ou b) as atitudes conservacionisas
tm sido intensifcadas em tempos mais recentes (p.122).
Para a anlise do ponto de visa da pesquisa agropecuria, no im-
porta a concluso. A manuteno da capacidade produtiva dos recursos
naturais, do meio ambiente em si, uma condio intrnseca prpria
susentabilidade da relao da sociedade com a natureza, ou seja, da
possibilidade da continuidade da vida sobre a Terra. O aumento do re-
conhecimento dessa necessidade o que faz a intensifcao das atitudes
conservacionisas.
Se por um lado as duas possibilidades so concretas, tambm ambas
merecem aes esecfcas da pesquisa agropecuria. O que importa,
no caso, a evidente necessidade de que esse tema seja defnitivamente
incorporado ao rol dos projetos e programas de pesquisa e desenvolvi-
mento de forma geral e no somente naquela mais direcionada reforma
agrria. A busca da base cientfca para a consolidao dos formatos tec-
nolgicos que garantam a susentabilidade no uso dos recursos naturais
uma tarefa urgente para todos os que tm qualquer tipo de relao com a
agricultura, o esao rural e o seu desenvolvimento. Nesse caso tambm
164 NEAD Debate 8
a viso do desenvolvimento com foco no esao territorial poder vir a
ser um bom insrumento de trabalho, inclusive porque os indicadores
de susentabilidade para os assentamentos devem incluir asecos eco-
nmicos, tecnolgicos, ambientais, sociais e culturais e essas dimenses
no tm padro linear, variando para cada esao geogrfco.
Outra queso relevante para a qualidade dos assentamentos a da
biodiversidade. O texto regisra que mesmo para um dos componentes
do ndice qualidade ambiental, as APP:
boa parte das reas desinadas preservao ambiental no eso com cobertura
forsica natural ou recuperada, ou podem esar sendo cultivadas. As regies
Sul e Sudese sofreram um processo intenso e contnuo de retirada da cobertura
foresal natural para implantao da agricultura, tendo sido mantidos apenas
pequena parte da Mata Atlntica e fragmentos de foresa nativa, diversos deles
transformados em parques (p.131).
Isso resultado, ainda segundo o texto, da maior conscientizao
quanto relevncia da preservao dessas reas oriunda da sociedade, de
organizaes no-governamentais e do poder pblico, incluindo rgos
de fscalizao. Mas o texto tambm aponta:
a carncia de informao quanto importncia da recomposio foresal para
preservao e recuperao da biodiversidade, e de assisncia tcnica voltada
a esse objetivo, tambm so fatores que podem esar associados escassez de
iniciativas nessa direo. A situao de urgncia em que se encontram as fam-
lias que eso sendo assentadas no que diz reseito necessidade de produo,
comercializao e/ou benefciamento dos produtos agrcolas, parece deixar em
segundo plano a preocupao com a qualidade ambiental dos assentamentos. As
aes exisentes tm carter isolado e desvinculado de programas insitucionais
mais contundentes (p.134).
Um primeiro aseco importante a levantar o da possibilidade real
de que em muitos casos os assentados esejam tentando a implantao de
esilos de agricultura convencional, ou seja, baseado no mesmo modelo
que ajudou a expuls-los do campo. Outras vezes, a tendncia natural
Assentamentos em debate 165
a de trabalhar a partir de modelos j conhecidos. Iso ocorreu na metade
sul do Rio Grande do Sul, onde os assentados ainda tm difculdade de
obter resultados satisfatrios com culturas que faziam parte da tradio
de cultivo em suas regies de origem e das suas prprias hisrias de vida,
como o caso da mandioca ou da soja. Como as condies e aptides
do agroecossisema so diferentes, os resultados negativos aconteceram,
gerando decepo e at mesmo abandono do assentamento. Outra
queso relativa ao incio de atividades sem um planejamento, o que j
foi comentado para o caso do PDA e que poderia ser equacionado pela
realizao do planejamento prvio.
Mas ainda exise uma queso de fundo que a falta de conhecimento e
de tecnologia para fazer frente ao problema da preservao e recuperao
da biodiversidade e no se trata apenas da biodiversidade natural, repre-
sentada pelos remanescentes de Mata Atlntica ou outras formaes, mas
tambm da agrobiodiversidade. Atualmente exisem muitas variedades,
cultivares e at mesmo escies ameaadas de desaparecer. A presso pelo
uso de materiais hbridos, por exemplo, coloca em perigo as variedades
tradicionais de milho e de cucurbitceas. Outros materiais em perigo so
os feijes, as hortalias, as frutas nativas, alm de escies foresais e at
mesmo algumas escies animais, como o caso das ovelhas crioulas,
hoje objeto de pesquisa na Embrapa Pecuria Sul.
Ainda resa muito a fazer nesses campos, inclusive na pesquisa de
sisemas misos de produo, explorando a integrao planta-animal ou
na formatao de sisemas agroforesais e agrosilvopasoris adaptados
aos diferentes agroecossisemas. Os princpios da agroecologia como
base cientfca para a consolidao desses formatos tecnolgicos tm
sido utilizados de forma ainda muito tmida pela pesquisa agropecuria
ofcial e esse um grande desafo e uma grande oportunidade.
De forma sinttica, a leitura do texto A Qualidade dos Assentamentos da
Reforma Agrria Brasileira sob a tica da interface do tema central com a
pesquisa agropecuria, suscitou uma srie de queses. Muitos dos asecos
selecionados, seno a maioria, o foi pela viso particular do analisa. De
qualquer sorte, cabe salientar que as crticas ou sugeses aqui levanta-
das fazem parte da contextualizao de algumas alternativas elencadas
jusamente na perseciva de contribuir para resolver alguns problemas
166 NEAD Debate 8
identifcados pelos autores e com o objetivo principal de melhorar a qua-
lidade das polticas pblicas brasileiras, incluindo a de reforma agrria.
Tratando-se de polticas pblicas, a primeira grande queso referente
ao multiinsitucional, o que requer um processo de transversalizao
que abranja a todas as agncias que atuam nos mesmos temas. Vrios
minisrios e muitas insituies pblicas do Esado e da sociedade tm
na reforma agrria a interface para seus trabalhos. Ocorre que hisori-
camente cada um ou cada uma tem tentado cumprir seu papel de forma
isolada, resultando em ao desconexa e perda de energia, para no falar
de pulverizao de recursos.
Outra queso pertinente relativa pluralidade da ao insitucio-
nal em favor de disintos pblicos. Iso se aplica mais a prpria pesquisa
agropecuria do que s insituies que atuam diretamente na reforma
agrria. que nos ltimos tempos se levantou um falso dilema como se
o trabalho de pesquisa e desenvolvimento, de cincia e tecnologia para
a agricultura familiar fosse excludente do trabalho com tecnologia de
ponta, na busca da vanguarda do conhecimento cientfco, ou at mesmo
resultasse no abandono da busca de solues tecnolgicas para a agri-
cultura empresarial ou para o agronegcio. Exise esao e capacidade
insalada para vrias aes complementares e isso tarefa das insituies
pblicas do Esado. Muitas vezes, simples aes de desenvolvimento,
articulando os diversos rgos e partindo de conhecimentos e esoques
tecnolgicos j exisentes, sufciente para se promover um grande di-
ferencial em apoio a pblicos que hisoricamente pouco ou quase nada
se tm benefciado das polticas pblicas. Tanto a ao transversal como
o pluralismo insitucional sero mais efcientes e efcazes se o foco for
o territrio como unidade de referncia para a busca de modelos de
desenvolvimento susentvel.
Alguns pontos mais esecfcos tambm eso no texto e merecem
refexo a partir do vis de anlise da pesquisa agropecuria. A segurana
alimentar e a gerao de emprego e renda so temas que garantem a sus-
tentabilidade ou a qualidade dos assentamentos, mas que tambm carecem
de aes esecfcas da pesquisa agropecuria. E para que esses itens sejam
equacionados os projetos e programas de pesquisa e desenvolvimento
necessariamente tero de abordar outros que lhe so correlatos, como
Assentamentos em debate 167
o caso do manejo e preservao da agrobiodiversidade, da diminuio da
dependncia a insumos externos, da busca da qualidade e da segurana
ambiental e do desenho de sisemas agroforesais ou agrosilvopasoris.
Esses novos formatos tecnolgicos devem levar a defnio de nova
matriz produtiva, e para que isso seja possvel os princpios cientfcos da
agroecologia podero vir a ser importantes aliados. Se todo esse arcabou-
o de idias contribuir para a melhoria da qualidade dos assentamentos,
para a obteno ou alcance da dignidade e da cidadania no mbito da
reforma agrria e da agricultura familiar brasileira, se poder dizer que
as insituies pblicas que atuam no setor esaro fnalmente cumprindo
com o seu papel.
Reforma agrria e programas
de assentamentos rurais
o di lema atual da questo
agrria brasi lei ra
Lauro Mattei
Doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Professor-adjunto do Departamento de Cincias Econmicas da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC). Endereo eletrnico: mattei@cse.ufsc.br
2.8
Assentamentos em debate 169
Introduo
O
debate sobre a queso agrria brasileira es intimamente ligado
ao processo hisrico de colonizao do pas. Desde o perodo das
capitanias hereditrias, passando pelos diversos ciclos econmicos (a-
car, minerao, borracha, pecuria e caf) at os dias atuais, a queso da
posse da terra eseve presente no cenrio poltico nacional.
Esse quadro, no entanto, foi fortemente agravado no perodo do Ps-
Guerra quando se adotou a poltica de modernizao da agricultura
brasileira, processo ese que causou profundas transformaes na esfera
da produo agropecuria, mas que tambm trouxe srias conseqncias
ambientais e sociais, devido enorme mobilidade populacional ocorrida
no pas nas ltimas dcadas do sculo passado.
Hisoricamente, exisem trs momentos em que o papel da terra foi
decisivo na conformao da sociedade brasileira: em 1850, quando foi
regularizado, pela Lei das Terras, o acesso privado s terras, impedindo
que parte da populao trabalhadora rural tambm tivesse esse direito.
O segundo momento ocorreu nas dcadas de 1920 e 1930, quando o
movimento tenentisa quesionou o latifndio improdutivo e iniciou os
primeiros debates sobre a necessidade de reformar a esrutura agrria
do pas. J a terceira fase iniciou-se nos anos do Ps-Guerra, quando
apareceram as Ligas Camponesas e, mais recentemente, quando surgiu
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), movimentos
que transformaram o campesinato em um dos atores sociais mais rele-
vantes do pas, ao indicarem a reforma agrria como um dos principais
insrumentos de luta para transformar a sociedade brasileira.
Nesse novo cenrio, o tema da reforma agrria ganhou dimenso na-
cional e passou a fazer parte, inclusive, da agenda dos governos centrais.
170 NEAD Debate 8
No regime ditatorial (1964-1985), entretanto, os governos militares no
tinham como objetivo implementar programas massivos de disribuio de
terras, limitando-se, apenas, a implantar os fracassados projetos de Colo-
nizao Agrcola, cuja esratgia era mais de segurana nacional (ocupar
todas as fronteiras do pas), do que propriamente a implementao de
programas que efetivamente reformulassem a esrutura agrria brasileira.
Com o fm do regime militar e incio do processo de redemocratizao
do pas a partir de 1985, o tema da reforma agrria reapareceu na agenda
pblica com grande desaque. De fato, durante o perodo conhecido
como Nova Repblica (1985-1989), a queso agrria eseve quase sempre
no centro do debate poltico do pas. Contriburam para isso, de forma
decisiva, alguns fatores importantes. Por um lado, os movimentos sociais
organizados, tanto a favor da reforma agrria caso do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) como os contrrios caso da
Unio Democrtica Ruralisa (UDR) e das grandes cooperativas agrope-
curias alimentavam continuamente o debate que, em muitas situaes,
caminhou para confrontos de enormes propores. Por outro lado, do
ponto de visa insitucional, a elaborao da nova Consituio do pas
(1986-1988), aliada promulgao do I Plano Nacional de Reforma Agrria
(PNRA), manteve viva parte das contradies da sociedade brasileira, as
quais ganhavam grande expresso por meio dos segmentos sociais agrrios.
Assim, nas ltimas dcadas, criou-se na sociedade brasileira uma
expecativa muito favorvel em relao realizao da reforma agrria,
uma vez que esa passou a ser considerada um dos elementos centrais
do processo de redemocratizao do pas. Nesa lgica, a reforma agrria
no somente uma queso econmica (aumentar a produo agrcola
e gerar empregos), mas social e poltica. Para tanto, a queso agrria
brasileira s ser passvel de soluo mediante a integrao de esforos
entre as vrias esferas de governos e o envolvimento e a participao
efetiva de toda a sociedade brasileira.
nesse contexto que a obra A Qualidade dos Assentamentos da Refor-
ma Agrria Brasileira, organizada por Gerd Sparovek, deve ser discutida.
Visando atender s solicitaes para a continuidade do debate sobre a
pesquisa coordenada por Sparovek, apresentaremos algumas opinies
sobre o trabalho, sempre com o intuito de contribuir para o avano do
Assentamentos em debate 171
processo de reforma agrria do pas, insrumento que considero indisen-
svel para combater as desigualdades sociais e consruir uma sociedade
mais jusa e democrtica.
Breves comentri os sobre alguns
aspectos da pesqui sa
Ao longo da dcada de 1990, e esecialmente durante os mandatos do
governo FHC (1995-2002), o debate sobre a reforma agrria, embora ex-
trememente denso, fcou fortemente limitado ao horizonte quantitativo,
resumindo-se quase sempre ao nmero de famlias assentadas e ao volume
de rea de terras desapropriadas. Em grande medida, essa tendncia foi
moldada pelo governo federal que disseminava para a sociedade a idia de
que, no Brasil, esaria sendo feita a maior reforma agrria do mundo. Para
tanto, eram apresentados cotidianamente nmeros sobre os dois quesitos
acima, sem qualquer qualifcao do processo de reforma agrria.
Nesse sentido, a pesquisa realizada no segundo semesre do ano de
2002 se coloca como uma alternativa aos parmetros do debate que vinha
sendo travado no pas, uma vez que apontou caminhos que podem quali-
fcar melhor a discusso sobre a reforma agrria brasileira. Sem ignorar a
importncia dos indicadores quantitativos, cujos regisros so bem mais
abundantes nas esferas governamentais, o esudo procurou moldar um
conjunto de indicadores capaz de elucidar os caminhos e descaminhos
que o processo de reforma agrria vem trilhando no pas.
Assim, avalio que a maior contribuio do esudo foi a sisematizao
de diversas informaes sobre os projetos de assentamentos realizados
entre 1985 e 2001, procurando fugir da prtica comum que mosrar o
nmero de famlias assentadas em cada perodo. Para tanto, o esudo
focalizou suas atenes, entre outros itens, na melhoria das condies de
vida dos benefcirios da reforma agrria, tendo em visa a inexisncia
de informaes agregadas nacionalmente sobre a efcincia das aes
governamentais nesa rea, bem como sobre os impacos das mesmas
na esrutura fundiria do pas.
Nesa lgica, foram sisematizadas as opinies de representantes de rgos
governamentais envolvidos diretamente com a execuo da reforma agrria,
172 NEAD Debate 8
alm dos benefcirios desse processo e de suas insncias de representao,
sempre com a preocupao de apresentar indicadores qualitativos que
reafrmem a importncia da reforma agrria no cenrio poltico nacional.
De modo geral, pode-se dizer que a pesquisa acabou tendo um carter
quase censitrio, no somente pela sua rea de abrangncia, mas tambm
pelo elevado nmero de variveis incorporadas aos modelos analticos.
Para tanto, consruiu-se diversos ndices que procuram, por um lado, captar
os efeitos da interveno governamental nos projetos de assentamento
de trabalhadores rurais e, por outro, defnir critrios de comparabilidade
da qualidade da reforma agrria em todo o pas.
Sem dvida, essa a principal contribuio do esudo porque ele
avana por um caminho at ento ainda pouco explorado pela literatura
esecializada. Porm, como todo processo que procura inovar es su-
jeito a alguns percalos, o esudo em apreo tambm apresenta algumas
inquietudes que gosaramos de ressaltar em nossos comentrios, com
a inteno de auxiliar no aprimoramento de um processo analtico que
tenha como objetivo aprofundar o conhecimento de asecos cruciais
dos programas de reforma agrria ainda pouco esudados.
Diante da dimenso do esudo e dos desafos inerentes ao tratamen-
to da queso agrria, de nosso interesse maior discutir asecos que
podero ser melhor trabalhados em esudos futuros:
a) A opo metodolgica de escolha dos entrevisados
A pesquisa fez uma opo metodolgica jusifcada pelos prazos e vo-
lumes de recursos disonveis, mas tambm permeada pelos interesses
do contratante (no caso, o governo federal). Da a razo de se dividir o
perodo total em dois intervalos disintos: o primeiro englobando os
governos Sarney, Collor e Itamar (1985-1994) e o segundo englobando
os dois mandatos do governo FHC (1995-2002). Nese caso, o esudo
assume um carter implcito de presao de contas do governo FHC, em
que era necessrio mosrar sociedade que efetivamente se tinha feito
mais no ltimo governo que em todos os demais governos. Mas esa
apenas uma queso subjetiva que a considero em segundo plano, diante
de queses mais relevantes que tratarei a seguir.
Assentamentos em debate 173
A escolha dos entrevisados feita pelo esudo nos parece ser um item que,
no mnimo, deveria ser melhor discutido. Nesse caso, a pesquisa centrou
suas atenes em trs grupos de atores sociais: o rgo executor direto da
reforma agrria, os trabalhadores rurais assentados e os representantes
de organizaes sociais dos assentados (associaes e/ou cooperativas).
A tcnica de procurar captar vrias opinies sobre um mesmo tema
e/ou problema sempre recomendvel porque poder trazer elementos
novos sobre a dimenso de um determinado ponto, mesmo que as pers-
pecivas de cada ator ouvido sejam confitivas. No entanto, as possibili-
dades de resosas diferenciadas se ampliam muito e, caso no haja uma
amosragem mais representativa, fcamos sem saber exatamente qual o
grupo de resosas refete mais adequadamente a realidade do processo
de reforma agrria, devido ao vis que o posicionamento do prprio
entrevisado possa conter.
No caso do rgo executor, as entrevisas foram realizadas com
empreendedores sociais (ES), categoria ocupacional criada pelo Incra
a partir de julho de 2000, sendo que em muitos esados essa categoria
passou a exisir efetivamente somente a partir de 2001. Assim, a pesquisa
pode ter optado por entrevisar membros do rgo executor da reforma
agrria que no necessariamente conheciam adequadamente o tema.
Esse aseco, tivemos oportunidade de verifcar a campo em pesquisa
realizada no esado de Santa Catarina sobre o crdito do Programa Na-
cional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) desinado aos
assentados, no segundo semesre de 2001, mesma poca de realizao
do esudo em apreciao.
Naquele esado, consatamos que os empreendedores sociais com os
quais tivemos contato, alm de serem poucos para atender a todos os as-
sentamentos exisentes em Santa Catarina, ainda no esavam preparados
adequadamente para exercer a funo, desconhecendo, inclusive, muitas
queses que considero decisivas para analisar a qualidade da reforma
agrria. Pelo fato de esarem iniciando suas funes no rgo executor,
suas atividades se limitavam, basicamente, ao encaminhamento de te-
mas pendentes nos projetos de assentamentos e ao envio de demandas
Superintendncia Regional do Incra. Alm disso, consatamos que a
maioria dos empreendedores sociais desconhecia o processo anterior da
174 NEAD Debate 8
reforma agrria, o que pode ter infuncias importantes sobre a qualidade
das resosas, principalmente no que diz reseito ao primeiro intervalo
de tempo da pesquisa.
Em sntese, entendemos que a qualidade da reforma agrria em todo
o perodo considerado poderia ter outra dimenso, do ponto de visa do
rgo executor, caso a opo metodolgica das entrevisas tivesse recado
sobre outras equipes tcnicas esecfcas das superintendncias regionais,
que so as pessoas que efetivamente executam a reforma agrria.
No entanto, mesmo que a opo sugerida anteriormente tivesse sido
utilizada, ainda assim haveria problemas. Em trabalhos de campo que temos
feito e acompanhado observamos que, geralmente, o comportamento do
servidor do rgo resonsvel pela execuo da reforma agrria tende a se-
guir dois caminhos disintos: por um lado, procura-se difcultar ao mximo
o acesso s informaes para evitar que possveis problemas relacionados
geso do processo de reforma agrria sejam explicitados e tornados p-
blicos e, por outro, procura-se enaltecer ao mximo as aes executadas,
de forma a transarecer ao pesquisador a idia de que tudo es maravi-
lhoso no processo de implementao dos programas de reforma agrria.
J do ponto de visa da opinio dos trabalhadores, optou-se por
entrevisar lideranas comunitrias indicadas pelos empreendedores
sociais. Essa opo foi jusifcada para se ter uma tica mais neutra
e individualizada, evitando-se vnculos polticos com os movimentos
sociais. Entretanto, deve-se reconhecer que esse procedimento tambm
uma escolha, pois a indicao dos pseudo lderes comunitrios por
parte dos empreendedores sociais, diminuiu muito o grau de neutralidade.
Iso porque, quase sempre, dentro dos projetos de assentamento, exise
uma luta consante pela hegemonia entre o rgo executor e as lideranas
dos sem-terra. Nese caso, a melhor opo teria sido a realizao, pelos
pesquisadores (que no poderiam ter sido membros do rgo executor),
de amosras aleatrias dentro de cada assentamento, procurando captar
toda a diversidade exisente.
Por fm, notamos a ausncia de entrevisas com atores locais, tanto
representantes de setores patronais (sindicatos rurais, associaes co-
merciais e indusriais dos municpios) como dos setores de trabalhadores
(sindicatos, associaes de produtores, etc.), bem como das adminisra-
Assentamentos em debate 175
es pblicas municipais. A implantao de um projeto de assentamento
em localidades pequenas, quase sempre em regies rurais, motivo de
acaloradas discusses entre os diversos segmentos de moradores e de
representantes das sociedades locais. Nese sentido, captar as opinies de
outros segmentos sociais sobre a qualidade da reforma agrria, alm da-
queles dois segmentos diretamente envolvidos no processo, seria de grande
relevncia porque parcelas importantes da sociedade esariam opinando
sobre um tema crucial que tambm as afetam, mesmo que indiretamente.
Em trabalhos de campo que realizamos avaliando os efeitos de pol-
ticas pblicas, consatamos a importncia de se procurar captar tambm
o olhar de outros atores locais que no eso diretamente envolvidos
com o tema da reforma agrria, mas que, de alguma forma, o mesmo
lhes diz reseito porque interfere na dinmica da vida social local, so-
bretudo quando os assentamentos so implantados pelo rgo federal,
sem qualquer mediao com as adminisraes municipais e/ou com as
representaes e organizaes sociais locais.
b) ndices qualitativos priorizados
Segundo o esudo, os ndices refetem: a) efccia da reorganizao fundi-
ria, b) qualidade de vida, c) articulao e organizao social, d) preservao
ambiental, e e) ao operacional. A discusso das variaes encontradas
nos ndices (temporal ou esacial) tem como base a anlise separada
de seus fatores de depleo (diminuio) que tambm foram tabulados.
A renda, como exceo em relao aos temas anteriores, no foi apresentada
em forma de ndice, sendo que os ndices agrupam uma srie de variveis
relacionadas ao mesmo tema (Sparovek et alii, 2003, p.46).
A idia de avaliar a qualidade da reforma agrria a partir de um con-
junto de ndices extremamente salutar e um ponto relevante da pesquisa,
regisre-se novamente, uma vez que permite organizar o debate sobre a
reforma agrria a partir de novos patamares. No entanto, o risco de serem
cometidos equvocos aumenta proporcionalmente com a dimenso do
esudo, fato reconhecido pelos prprios pesquisadores.
No signifca, entretanto, que esses ndices no sejam vlidos do ponto
de visa de apresentar uma imagem geral da situao particular de cada
176 NEAD Debate 8
assentamento visitado. No entanto, gosaramos de desacar alguns asecos
metodolgicos que foram abordados, segundo nossa interpretao, de
maneira insufciente pela pesquisa. Assim sendo, comentaremos a seguir
apenas dois desses ndices:
ndice de eficcia da reorganizao fundiria (IF)
O ndice de efccia de reorganizao fundiria (IF) procurou mosrar o
sucesso da interveno governamental no sentido de alterar a esrutura
agrria, ou seja, esse ndice busca medir os impacos que a criao dos
projetos de assentamento provoca sobre os latifndios improdutivos,
convertendo-os em unidades familiares de produo.
Os parmetros do IF contemplam a capacidade de assentamento
defnida pela portaria de criao do Projeto de Assentamento (PA) e
incorporam as seguintes variveis: nmero de famlias morando no
PA, parcelas abandonadas, parcelas aglutinadas, rea remanescente e
percentual de rea til ocupada com produo. Obviamente que o peso
de cada uma dessas variveis na composio do IF refete a viso dos
pesquisadores sobre a importncia desse ndice no conjunto de ndices
que determinaram a qualidade da reforma agrria brasileira.
Esses pesos eso explicitados na Tabela 10, pgina 51 do livro, o que
revela a transarncia dos pesquisadores quanto aos fatores de ponderao
e de multiplicao adotados. No entanto, chamamos a ateno apenas
que poderiam ter sido esclarecidas as diferenas, por exemplo, porque o
nmero de famlias morando no PA recebeu peso 1,00, enquanto o quesito
parcelas abandonadas recebeu peso 0,33, e assim por diante.
A concluso geral do esudo que houve uma elevada converso de
latifndios em unidades de produo familiar, sendo poucos os proble-
mas relacionados a abandonos ou aglutinao de lotes nos projetos de
assentamento. Nesse caso, a reforma agrria poderia ser considerada um
programa de grande sucesso.
Sobre esse ndice, esecifcamente, gosaramos de fazer trs comen-
trios. O primeiro diz reseito s variveis que o compem. Na verdade,
o IF, da forma como foi consrudo, acaba sendo um mero indicador de
desempenho do projeto de assentamento, uma vez que no considera o
Assentamentos em debate 177
volume de terras agricultveis em desuso na localidade onde se encontra
o PA e a porcentagem de reduo das terras improdutivas aps as aes
governamentais sobre a esrutura agrria. Assim, se em um determinado
municpio com elevada concentrao de terra, a implantao de projetos
de assentamento no provoca efeitos sobre os latifndios improdutivos,
do ponto de visa de reduzir os ndices de concentrao, isso indica que
apenas eso ocorrendo pequenas modifcaes e no reorganizao e,
muito menos, reforma na esrutura agrria.
O segundo aseco, que guarda relao com o anterior, diz reseito
abrangncia dessa reorganizao agrria. Ao longo de 20 anos foram
implementadas diversas aes no campo da reforma agrria, porm os
resultados so pfos em termos de uma alterao profunda na esrutura
agrria do pas. Ao contrrio, diversos esudos tm mosrado que os
ndices de concentrao de terra aumentaram no pas como um todo
na ltima dcada, o que nos permite afrmar que talvez um processo
inverso ao dos programas de assentamento eseja em curso, inclusive
com maior efcincia.
Finalmente, o terceiro aseco que gosaramos de comentar a au-
sncia de uma medida diferencial de tempo na composio desa varivel,
uma vez que o perodo considerado (1985-1991) apresenta projetos de
assentamentos com realidades totalmente diferentes, ou seja, a ocupao
da rea til parece depender basante do tempo de vida do PA, sobretudo
se levarmos em considerao que a consolidao de um assentamento
um processo de mdio e longo prazos, cujo sucesso no depende somente
do novo agricultor, mas tambm de outros fatores correlatos, como
o caso da localizao geogrfca, do acesso aos mercados, das condies
esruturais das antigas propriedades, etc. Dese modo, ao no se levar
em considerao o peso do tempo, pode-se ter causado um vis desse
ndice no conjunto da anlise.
ndice de articulao e organizao social (IS)
Segundo os autores, esse ndice es assentado nas parcerias externas
do PA para atender demandas das reas de sade, educao, condies
de acesso, lazer e religio, alm da participao dos moradores em asso-
178 NEAD Debate 8
ciaes, cooperativas, rea de produo coletiva e comercializao em
sisemas integrados.
Nese caso, adotou-se o critrio de que conceitualmente, quanto
mais o projeto de assentamento esiver independente de crditos e aes
esecfcas da reforma agrria, inserido formalmente na regio por meio
de parcerias e articulado com organizaes para atender s suas neces-
sidades, maior ser sua independncia. Essa situao desejada para o
seu desenvolvimento e emancipao (p.50).
Sobre esse ndice possvel se fazer comentrios de diversas ordens.
Em primeiro lugar, gosaramos de relativizar essa dicotomia entre
parcerias externas e organizao interna do projeto de assentamento.
Sabe-se que o sucesso da busca por melhorias nas condies sociais dos
assentados (sade, educao, habitao, condies de acesso, lazer, etc.)
depende basante do nvel de organizao interna dos assentamentos.
Assim, quanto maior for esse quesito, maiores sero as chances de serem
obtidos sucessos na busca de servios externos que ajudaro a elevar a
qualidade de vida dos assentados. Portanto, da forma como foram pon-
derados os pesos das variveis na composio do IS, poder ter ocorrido
uma subesimao da importncia da organizao dos agricultores.
Em segundo lugar, entendemos que as variveis que compem o IS
so basante limitadas, fato que se refete na prpria importncia das
anlises do ndice no conjunto dos indicadores selecionados para def-
nir a qualidade da reforma agrria. De alguma forma, isso fca explcito
no esao desinado a esse quesito, que na anlise global do esudo no
mereceu mais de duas pginas.
Em terceiro lugar, o IS priorizou a participao em cooperativas e
associaes e a produo e comercializao coletiva como indicadores
de organizao social. No entanto, no procurou qualifcar que tipo de
trabalho essas associaes e/ou cooperativas desenvolvem em termos
produtivos, de modo a compreender se a organizao social dos agri-
cultores ou no determinante para a insero produtiva desse sujeito
transformado em um novo agricultor, ao qual so cobradas resosas
efcientes e rpidas.
Ao dividir o IS em dois asecos, um ligado busca de benefcios sociais
e outro voltado obteno de benefcios para os sisemas produtivos, e
Assentamentos em debate 179
ao observar que a organizao para o segundo aseco foi bem menos
importante, o esudo acabou consatando o bvio. Iso porque, no hori-
zonte em que se realizam os programas de assentamentos de agricultores,
os problemas relacionados ao atendimento de servios bsicos (sade,
educao, condies de acesso, habitao e cesas bsicas nos primeiros
anos) sempre aparecero de forma prioritria, em detrimento dos asecos
produtivos, os quais os agricultores acabam resolvendo individualmente,
quer por suas tradies ou pelas suas relaes comunitrias que vo se es-
tabelecendo, sem necessitar de outros agentes como no primeiro caso.
Na verdade, os asecos citados acabam revelando as difculdades
para se avaliar um quesito to complexo como o caso da articulao
e organizao social dos assentados. Desse modo, nossos comentrios
procuram mosrar, sem a pretenso de invalidar qualquer tipo de esforo
feito nesse sentido, o quanto ainda precisamos avanar metodologicamente
para obtermos bons padres de anlise da interao entre os processos
de assentamento do agricultor (chegada terra) e suas dinmicas sociais
(disintas formas de organizao social).
Questo agrria e pol ti ca de assentamentos
A disribuio da propriedade da terra um dos indicadores mais im-
portantes para se medir o carter democrtico ou no de sociedades
que se consituem a partir de bases agrrias, como o caso da sociedade
brasileira. Entendemos que esse deve ser um aseco fundamental quando
so avaliados os efeitos de polticas pblicas que procuram promover
modifcaes em uma determinada esrutura agrria.
A obra em discusso, aps apresentar de maneira consisente os
diferentes pontos de visa atuais sobre a reforma agrria no Brasil, em
sua pgina 37 afrma que a reforma agrria um termo utilizado para
descrever uma srie de aes que tm como base a reordenao fundiria
(grifo nosso) como mecanismo de acesso terra e aos meios de produo
agrcola aos trabalhadores rurais sem-terra ou com pouca terra, sendo
que o seu signifcado depende do ponto de visa que se tem em foco, o
qual es relacionado ao grupo de interesse representado.
180 NEAD Debate 8
Nesa perseciva, a reforma agrria fca condicionada a um conceito
resritivo em que uma simples reorganizao da base territorial agrria
seria sufciente para acomodar possveis tenses sociais advindas dos
setores que se encontram em confito pela posse da terra. Dese modo,
esses confitos poderiam ser facilmente resolvidos por meio de polticas
pblicas de crdito fundirio, no sendo necessrias aes mais abran-
gentes e de cunho esruturante que poderiam efetivamente transformar
a esrutura agrria do pas.
No caso brasileiro, nota-se que a concentrao da posse da terra se
elevou fortemente durante o processo de modernizao da agricultura,
sobretudo nas dcadas de 1960, 1970 e 1980, e continua extremamente
desigual at os dias atuais. De acordo com os dados esatsicos ofciais,
o ndice de Gini atingiu seu valor mximo em 1975, quando chegou ao
patamar de 0,87. No incio de 1980, esse valor recuou para 0,82 e em 1995
se situava ao redor de 0,81. Esses indicadores colocam o Brasil entre os
pases com os maiores ndices de concentrao de terra do mundo.
O prprio texto reconhece o problema quando afrma que apesar
dos signifcativos progressos que vm sendo feitos nos ltimos anos, os
ndices gerais de concentrao de terras no vm sofrendo alteraes que
indiquem que o acesso terra, por parte dos pequenos produtores fami-
liares, tenha sido facilitado de forma global (Sparovek et alii, 2003, p.37).
No entanto, nas concluses da pesquisa (captulo oitavo) volta-se ao
mesmo ponto afrmando-se que a interveno fundiria (no conceito
simplifcado adotado) um sucesso e que houve signifcativos progressos
na intensidade de sua execuo nos ltimos perodos (p.168). Deve-se
reconhecer que o autor menciona que uma viso mais abrangente no
pode se resringir ao sucesso da interveno fundiria e que o aseco
mais importante o fato desse sucesso esar desvinculado da efcincia
das demais aes que so implementadas.
Mesmo que essas ressalvas esejam presentes no contexto da anlise,
fcamos com a ntida sensao de que o foco do problema agrrio sofre
um desvio de sua matriz original, ao se tentar deslocar todo o debate
para aquilo que o autor chama de papel secundrio (qualidade de vida,
desenvolvimento dos projetos, impacos ambientais e melhoria das co-
munidades locais do entorno das reas reformadas). Nesa perseciva,
Assentamentos em debate 181
o principal problema esaria resolvido, pois a situao fundiria inde-
sejvel revertida e a rea permanece ocupada por famlias que sero
benefciadas pelas aes implementadas pelo governo (p.169).
Diversos trabalhos acadmicos recentes procuram apresentar uma
realidade um pouco disinta. Esudos de Hofmann (1998), com base
nos dados cadasrais do Incra, mosram que desde a dcada de 1990 o
problema da concentrao de terra no Brasil vem se agravando, conforme
pode ser observado no quadro a seguir:
Quadro 1 Desigualdade da distribuio da terra entre os
imveis rurais no Brasil e nas cinco regies (1992-1998)
Unidades Geogrcas
Regionais
ndice de Gini
1992 1998
Sul 0,705 0,712
Sudeste 0,749 0,757
Nordeste 0,792 0,811
Norte 0,849 0,851
Centro-Oeste 0,811 0,810
Brasil 0,831 0,843
Fonte: Hoffmann (1998)
Os dados indicam que durante a dcada de 1990 o processo de con-
centrao da terra continuou no pas. Em apenas uma regio (Centro-
Oese), o ndice de Gini se manteve praticamente esvel. Em todas as
demais regies houve aumentos desse ndice, indicando que os efeitos
da poltica agrria so pfos diante do elevado nvel de concentrao da
terra no pas.
Em termos de esratos de rea, nota-se que os fazendeiros que possuam
mais de 2 mil hecares de terra passaram de cerca de 19 mil, em 1992, para
mais de 27 mil em 1998. O mais importante que esse segmento passou a
deter aproximadamente 43% de todas as terras do pas. Enquanto isso, do
182 NEAD Debate 8
outro lado, as mais de 1 milho de famlias de pequenos agricultores, pro-
prietrios de reas com menos de 10 hecares, detm cerca de 2% das terras.
Eses so fortes indicadores que mosram que as polticas pblicas no eso
sendo capazes de romper com a desigualdade da esrutura agrria brasileira.
Nesse sentido, fca um pouco difcil falar em reforma agrria no Brasil
no cenrio atual. Por um lado, verifca-se que o governo tenta equacionar
a queso agrria com uma poltica de assentamentos que nem sequer
capaz de abrandar os efeitos perversos do modelo de desenvolvimento
agropecurio que, na ltima dcada, expulsou do campo mais de 500
mil pequenos proprietrios. Por outro, nota-se que a maioria dos as-
sentamentos que so realizados muito mais fruto da ao direta dos
trabalhadores rurais ocupando terras do que o resultado de uma poltica
de governo voltada aos interesses das classes agrrias desfavorecidas do
meio rural, por meio de uma interveno ampla e abrangente sobre a
esrutura agrria do pas.
Assim sendo, vislumbramos uma perseciva no muito favorvel
para o pas nese campo, pois a poltica de assentamentos, alm de no
modifcar em quase nada a esrutura agrria, nem sequer es sendo
capaz de atender aquelas camadas de agricultores que so expulsos do
setor agropecurio. Ese cenrio nos obriga a afrmar que no exise efe-
tivamente uma poltica de reforma agrria em curso no Brasil. Dentre
as razes que susentam esa afrmao, desacam-se:
a poltica de assentamento dos ltimos perodos es direcionada, funda-
mentalmente, ao processo de regularizao fundiria e ao atendimento
seletivo das regies de maior confito agrrio;
a poltica agrcola em curso no impede a contnua expulso de traba-
lhadores rurais do setor agropecurio, processo que nas ltimas dcadas
representou numericamente a mesma proporo e/ou at mais que as
famlias assentadas pelos governos;
a criao de assentamentos rurais, geralmente em reas extremamente
insitas e no acompanhada por uma rede de infra-esrutura bsica,
tem levado ao fracasso muitas iniciativas governamentais;
o incentivo ao uso do mecanismo de compra, em subsituio aos ins-
trumentos consitucionais de desapropriao das terras para fns de
reforma agrria, acaba privilegiando os movimentos eseculativos, que
a)
b)
c)
d)
Assentamentos em debate 183
se expressam na elevao dos preos das terras em praticamente todas
as regies do pas.
Nesse sentido, a resosa queso se a reforma agrria ainda perti-
nente para a sociedade brasileira no incio do sculo XXI parece ser bvia,
sobretudo se admitirmos a exisncia da queso agrria.
Nossa viso que, em um pas com mais de 90 milhes de hecares
de terras improdutivas e com mais de quatro milhes de famlias de sem-
terras, alm de apresentar ndices de desigualdades econmicas e sociais
alarmantes, no se pode prescindir do uso de um insrumento efcaz
como o caso da reforma agrria para tentar reverter esse cenrio,
como o fzeram a maior parte dos pases hoje considerados desenvolvi-
dos. Entretanto, o carter da reforma agrria (massiva, econmica, social
ou produtivisa), bem como os insrumentos necessrios, que precisam
ser melhor debatidos com a sociedade brasileira.
Bi bli ografia
Gadelha, R. M. F. O Problema agrrio no Brasil: evoluo e atualidade.
Pesquisa & debate, v.8, n.1, p.87-125, 1997.
Hoffmann, R. A Esrutura fundiria no Brasil de acordo com o
cadasro do INCRA: 1967-1998. Campinas: 1998, 38p. mimeo (Convnio
Incra/Unicamp)
Manzano, B. A Ocupao como forma de acesso terra. So Paulo:
Unes, 2001. 20p. mimeo
Mattei , L. Reforma agrria e desenvolvimento no Brasil: antigas e
novas queses. In: Congresso da Sep, 2003, Florianpolis. Anais.
SEP, 2003.
Medei ros, L. Reforma agrria: concepes, controvrsias e queses.
RIAD Cadernos Temticos, Rio de Janeiro, n.1, 65p., 1994.
Navarro, Z. O Brasil precisa da reforma agrria? Muito Mais,
jan.2002.
Sparovek, G. (org.) A Qualidade dos assentamentos da reforma
agrria brasileira. So Paulo: Pginas & Letras Editora, 2003.
Stdi le, J. P. (org.) A Queso agrria hoje. Porto Alegre: Editora
da UFRGS, 1994.
Reforma agrria e a
questo ambiental:
por uma outra concepo
Paulo Roberto Martins
Socilogo, Mestre em Desenvolvimento, Doutor em Cincias Sociais, pesquisador
do Instituto de Pesquisas Tecnolgicas do Estado de So Paulo (IPT), coordenador
da Rede de Pesquisa Cooperativa em Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente
(Renanosoma), membro da International Sociological Association ISA/RC 24
Environment and Society. Representante no Brasil de Socilogos Sem Fronteiras.
2.9
Assentamentos em debate 185
Introduo
A
temtica do meio ambiente sempre eseve ausente das discusses
sobre a reforma agrria no Brasil. Portanto, o primeiro mrito da
pesquisa A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira
foi colocar o tema como um dos objetos de anlise. Indagar sobre as
queses ambientais imanentes das unidades produtivas ao se esudar os
assentamentos foi, sem dvida, um avano nos conhecimentos a reseito
da reforma agrria no pas.
Toda ao humana sobre determinado ecossisema acaba por transfor-
m-lo e, em muitos casos, degrad-lo e desru-lo. No mbito do modelo
agrcola predominante no Brasil, vrios esudos j realizados apontaram
para a forma no-susentvel (sob vrios asecos) dessa agricultura
produzir os alimentos.
E nos assentamentos como isso ocorre? Certamente, a pesquisa A
Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira no resolve
a queso, mas aponta algumas pisas importantes e nos d uma viso de
quanto os assentamentos interagem com as reas de Proteo Permanente
(APP) e reas de Reserva Legal (RL). Portanto, o olhar da pesquisa, nesse
caso, se encaixa na perseciva conservacionisa.
Os resultados obtidos foram preocupantes, embora as causas de tais
situaes no tenham sido devidamente explicadas, dadas as limitaes
metodolgicas da pesquisa. Mesmo assim, a concluso aponta para que
o processo de reforma agrria realizado num passivo ambiental signi-
fcativo. Esse passivo fruto da priorizao de reas em que a qualidade
ambiental j es comprometida ou da seleo de reas em que o desma-
tamento ainda necessrio para a implantao dos sisemas de produo
agrcola. A falta de aes direcionadas para o equacionamento desse
186 NEAD Debate 8
passivo, defnidas em poca muito recentes (PDA e a licena ambiental),
associada priorizao absoluta dos crditos para a implantao de infra-
esrutura e apoio produo, jusifca a pouca abrangncia das aes que
poderiam promover o resgate da qualidade ambiental nos assentamentos.
(Sparovek, 2003, p.127-130).
S essa concluso j jusifca uma mudana na forma como o Esado
vem conduzindo a reforma agrria, sempre pelo lado produtivisa e, como
tal, altamente degradador em termos ambientais. Por iso, as pesquisas
nesse campo devem continuar, para que se possa modifcar a forma de
produzir nos assentamentos, a fm de no reproduzir o modelo dominante
na produo agrcola brasileira.
Cr ti ca a uma vi so sobre o mei o ambi ente
O esudo realizado, que resultou no livro em anlise, foi eminentemente
de carter quantitativo. Embora no trate de externalidades, mas sim de
ndices de qualidade ambiental, abordar as queses ambientais de forma
quantitativa um srio problema. Esa posura, no geral, encontra-se
no campo neoclssico da teoria econmica representado pela economia
ambiental e dos recursos naturais. O pressuposo adotado que toda exter-
nalidade pode ser quantifcada e em conseqncia receber uma valorao
monetria. Com iso, esaramos internalizando as externalidades.
As crticas a essa posura podem ser feitas sob vrios asecos. Um
deles a metodologia, pois os neoclssicos trabalham fundamentados
no individualismo metodolgico, segundo o qual:
todas as insituies, padres de comportamentos e processos sociais s podem
ser em princpio explicados em termos de indivduos: suas aes, propriedades
e relaes. uma forma de reducionismo, o que quer dizer que nos leva a ex-
plicar os fenmenos complexos em termos de seus componentes mais simples.
(Elser, 1989, p.37).
1 As externalidades se caracerizam por no esarem presentes diretamente em um dado processo
produtivo, mas so decorrentes dele. No caso da produo agrcola, no se pulveriza agrotxicos
diretamente nos rios e sim nas culturas, mas uma das externalidades desse processo produtivo
jusamente a contaminao dos rios pelos agrotxicos.
Assentamentos em debate 187
Para os neoclssicos, os indivduos so livres, disem de todas as
informaes necessrias tomada de decises e as escolhem de forma
racional, baseados em suas preferncias. O locus das aes dos indivduos
o mercado. As crticas a essa posura explicitam que as preferncias
alteram-se hisoricamente. O interesse prprio uma caracerizao ina-
dequada das preferncias, e, sob determinadas condies, a ao racional
no possvel, mesmo que os indivduos sejam racionais.
A crtica feita pela economia ecolgica posura da economia am-
biental (neoclssica) que:
argumentamos contra la posibilidad de internalizacion convincente de las ex-
ternalidades, sendo uno de los argumentos principales el de la ausencia de las
generaciones futuras en los mercados acuales, aun se esos mercados se ampliam
ecologicamente mediante simulaciones basadas en la disosicion a pagar, y no
en pagos realmente efecuados. Pensamos que, en el mejor de los casos, los agen-
tes econmicos acuales valoram de manera arbitrria los efecos irreversibles
e inciertos de nuesras acciones de hoy sobre las generaciones futuras. (...) La
crtica ecolgica se basa adems en la incertidumbre sobre el funcionamento
de los sisemas ecolgicos que impide radicalmente la aplicacin del anlisis de
externalidades. Hay externalidades que no conocemos. A otras, que conocemos,
no sabemos darles um valor monetario acualizado, al no saber siquiera si son
positivas o negativas. (Alier, 1995, p.46-48)
J a economia ecolgica entendida como esudo da compatibilidade
entre a economia humana e o meio ambiente em longo prazo. Essa com-
2 argumentamos contra a possibilidade de internalizao convincente das externalidades, sendo
um dos argumentos principais o da ausncia das geraes futuras nos mercados atuais, ainda
que eses mercados se ampliem ecologicamente mediante simulaes baseadas na disosio a
pagar e no em pagamentos realmente efetuados. Pensamos que, no melhor dos casos, os agentes
econmicos atuais valoram de maneira arbitrria os efeitos irreversveis e incertos de nossas aes
de hoje sobre as geraes futuras. (...) A crtica ecolgica se fundamenta tambm na incerteza
sobre o funcionamento dos sisemas ecolgicos que impedem radicalmente a aplicao da anlise
de externalidades. Dentre esas, exisem as que no conhecemos. Outras que conhecemos, no
sabemos dar-lhes um valor monetrio atualizado, pois no sabemos sequer se so positivas ou
negativas. (trad. por Paulo Roberto Martins).
188 NEAD Debate 8
patibilidade no es assegurada pela valorao de recursos e servios
ambientais em mercados reais ou fccios.
Aplicando esse tipo de metodologia qualitativa, a riqueza da pesquisa
seria bem maior e as possibilidades de resosas s queses ambientais
exisentes nos assentamentos seriam bem mais concretas e poderiam
indicar novas medidas governamentais para retirar os assentados do
processo em que, ao produzirem seus alimentos, depois de tanta luta pela
terra, acabam por reproduzirem as relaes insusentveis entre homem
e natureza, caracersica do modelo agrcola brasileiro.
Questes a serem respondi das
Em primeiro lugar cabe ressaltar que o prprio autor fez queso de apon-
tar que fnalmente cabe lembrar que as queses ambientais levantadas
no quesionrio no abordaram o vaso tema da qualidade ambiental na
totalidade. (....)Diversos outros fatores tambm poderiam ser incorpo-
rados na qualidade ambiental, como o uso de materiais geneticamente
modifcados e pesicidas. (Sparovek, 2003, p.134-135).
Claro que o objetivo da luta pela terra consegu-la para realizar a
sua produo de subsisncia e depois, se possvel, produzir para o mer-
cado. por aqui que devemos comear as invesigaes sobre os pontos
ambientais no universo da produo. A queso central identifcar qual
o pacote tecnolgico aplicado para se produzir alimentos nesses assenta-
mentos. Repete o mesmo pacote da agricultura empresarial dominante
no modelo agrcola brasileiro?
Outro ponto a ser levantado trata-se da concepo que os assentados
tm sobre como produzir nos ecossisemas que passam a ocupar. Sero
esses assentados posulantes e praticantes da lgica de simplifcao para
executar a produo agrcola, o que implica produzir apenas as culturas
mais rentveis e simplifcar o processo de trabalho? evidente que esses
dois asecos se materializam em monoculturas, que tm sua agressividade
ecolgica, pelo uso intensivo de fertilizantes, pesicidas, mecanizao, am-
plamente conhecida. Para a indsria voltada agricultura, seus produtos
vieram para superar os limites ecolgicos desse tipo de produo. Sero
os assentamentos um novo mercado para esa indsria?
Assentamentos em debate 189
Mas a simplifcao tambm tem a ver com o maior controle sobre o
processo de trabalho e melhor desempenho da gerncia. A marca da pers-
peciva capitalisa es devidamente ligada a esses pontos. esse o tipo de
organizao de produo que se es implantando nos assentamentos?
Em oposio prtica voltada simplifcao se coloca a lgica da
complexifcao. claro que nessa concepo o assentado ter que se
dedicar mais, com mais observaes e cuidados eseciais no manejo dos
diversos componentes que eso presentes no ecossisema onde se realiza
sua produo. Eso esses assentados preparados para iso?
Enfm, precisamos captar se do ponto de visa da organizao da pro-
duo, os assentados acabam por reproduzir no s o pacote tecnolgico
prevalente, mas tambm se se integram ao modelo de desenvolvimento
agrcola dominante, que um dos susentculos desa sociedade insus-
tentvel em que vivemos.
Por uma reforma agrria para
uma soci edade sustentvel
All persons have the right to a secure, healthy and ecologically sound environment.
Tis right and other human rights, including civil, cultural, economic, political
and social rights are universal, interdependent and indivisible.
Human Rights and the Environment The Ksentini Principles.
United Nations doc. E.CN.4/sub2/1994/9/Annex 1 (July 6,1994)
O presente texto procura colocar as discusses sobre meio ambiente
e reforma agrria numa dimenso no abordada pelo livro A Qualidade
dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira, organizado por Gerd
Sparovek. Embora reconheamos sua contribuio para a produo de
informaes sobre a temtica ambiental no mbito dos assentamentos,
entendemos que a abordagem dessa queso requer uma discusso de
carter mais amplo, pois, para se superar esa sociedade insusentvel que
3 Todas as pessoas tm o direito a um meio ambiente seguro, saudvel e ecologicamente digno.
Ese direito e outros direitos humanos, incluindo direitos civis, culturais, econmicos, polticos
e sociais, so universais, interdependentes e indivisveis. Direitos Humanos e Meio Ambiente
Os Princpios de Ksentini, ONU ( de julho, 1994). (trad. por Paulo Roberto Martins).
190 NEAD Debate 8
vivemos, tanto a luta pela reforma agrria como as aes dos assentados,
devem contribuir para essa transformao.
O que pretendemos fazer nese trabalho inserir a reforma agrria
num contexto mais amplo de transformao social visando uma nova
sociedade. O ndice de qualidade do meio ambiente produzido no refe-
rido livro tem como variveis invesigadas elementos relativos a reas de
preservao permanente e reserva legal, desmatamento, eroso do solo,
recuperao de matas ciliares e reforesamento.
As conseqncias do atual pacote tecnolgico utilizado na agricultura
brasileira tm seus impacos materializados nas variveis pesquisadas e
em outras tantas no pesquisadas. A nossa proposa de trabalho discutir
as causas desses impacos.
Assim, o primeiro ponto a ressaltar que todas as pessoas tm direito
a um meio ambiente ecologicamente digno, seguro e saudvel. Ese direito
universal, interdependente e indivisvel em relao aos direitos civis,
polticos, culturais, econmicos e sociais.
Portanto, a nossa refexo trabalha com dois pressuposos. O primeiro
se refere sociedade insusentvel em que vivemos. Ela insusentvel
sob vrios pontos de visa. O que nos interessa no momento o aseco
ambiental. Trata-se, ento, de superar esa sociedade insusentvel.
O segundo pressuposo se refere aos direitos j descritos.
A queso ambiental nos assentamentos deve ser visa na perseciva
de que todo o movimento e a luta pela reforma agrria devem buscar a
consolidao desses direitos e da iniciao de um processo que nos leve
consruo de uma sociedade susentvel.
Embora no tenhamos todas as informaes disonveis necessrias
a um acurado diagnsico, podemos afrmar que, de maneira geral, os
assentados, ao esabelecerem seus processos produtivos, acabam por
reproduzir o pacote tecnolgico do modelo de desenvolvimento agrcola
hegemnico, reprodutor do capital agroindusrial e desruidor dos ecos-
sisemas via monocultura e prticas agrcolas a ela corresondentes.
Os assentados no sairo dessa lgica exclusivamente por fora pr-
pria. Trata-se, ento, de se consruir um ambiente propcio em que os
agentes econmicos no processo de busca e seleo de novas tecnologias
possam ser induzidos a optar por tecnologias que sejam ambientalmente
Assentamentos em debate 191
corretas. Quando as resries de ordem ambiental se tornarem resries
de primeira ordem s atividades econmicas, a sim, no mais esaremos
numa sociedade capitalisa, e o processo de consruo da sociedade
susentvel esar no seu apogeu.
Em relao s atividades ligadas agricultura no Brasil, o papel
do Esado brasileiro como produtor de novas tecnologias, indutor da
adoo dessas tecnologias, fornecedor de assisncia tcnica produo
familiar e aos assentados, comprador dessa produo, regulamentador
das relaes entre mercado e consumidores, torna-se importante, ainda,
como o resonsvel pelo acesso terra no processo de implantao da
reforma agrria.
Tendo em visa esses argumentos, vamos apresentar nossa refexo
sobre a consruo de uma sociedade susentvel em que o movimento
pela reforma agrria e os assentados assumem papis importantes na
consruo de um outro padro da relao entre homem, sociedade e
meio ambiente.
Por uma soci edade sustentvel
O pressuposo do qual partimos que a sociedade atual em que vivemos
insusentvel tanto para o planeta como para a maioria de sua popula-
o. O que temos, portanto, uma ordem de um mundo a superar. E a
reforma agrria faz parte desse processo.
Nese sentido, a queso da utopia se coloca, pois, no pode exisir
um esforo de invesigao poltica ntegro sem utopia. Boaventura de
Sousa Santos afrma que:
A utopia a explorao de novas possibilidades e vontades humanas, por via
da oposio da imaginao necessidade do que exise, s porque exise, em
nome de algo radicalmente melhor que a humanidade tem direito de desejar
e porque merece a pena lutar. A utopia , assim, duplamente relativa. Por um
lado, chamada a ateno para o que no exise como (contra)parte integrante,
mas silenciada, do que exise. Pertence poca pelo modo como se aparta dela.
Por outro lado, a utopia sempre desigualmente utpica, na medida em que a
imaginao do novo composa em parte por novas combinaes e novas escalas
192 NEAD Debate 8
do que exise. Uma compreenso profunda da realidade assim essencial ao
exerccio da utopia, condio para que a radicalidade da imaginao no colida
com o seu realismo. (Santos, 1966, p.323).
O roteiro da nossa refexo sobre a ordem de um mundo a superar ir
procurar concatenar uma srie de idias que partem do pressuposo de
que a meta a ser atingida a sociedade susentvel, caracerizada, grosso
modo, enquanto no capitalisa, em que a queso ambiental entendida
como um fator de resrio de primeira ordem s atividades econmicas.
O segundo pressuposo, por ns assumido, que uma sociedade
susentvel ser necessariamente democrtica, fundada em uma nova
cidadania, de carter radical, pois esa ser o produto da consituio de
sujeitos sociais ativos, que levam a consruo da referida cidadania de
baixo para cima, com a participao direta dos setores excludos, exigindo
o direito de ter direitos. (Dagnino, 1994, p.115)
Cabe assinalar que, de acordo com Evelina Dagnino, a noo da nova
cidadania se fundamenta na experincia dos movimentos sociais, na
consruo da democracia, sua extenso e aprofundamento, e ao nexo
consitutivo entre cultura e poltica. o que tem feito os movimentos
organizados que lutam pela reforma agrria no Brasil. Portanto, os fun-
damentos desa nova cidadania so disintos da noo original dos fns
do sculo XVIII, de cunho liberal.
Entre os direitos a ter direitos pelos quais os movimentos sociais
lutam e criam novos direitos, encontram-se os relativos vida, ao meio
ambiente e ao trabalho, que acabam devidamente entrelaados, pois
no possvel a exisncia de vida sadia em meio ambiente degradado,
como tambm, ambiente degradado signifca a impossibilidade de as
populaes trabalharem.
Assim sendo, devemos ter claro que todas as aes que comprometem
as condies ambientais de exisncia e trabalho das populaes como
por exemplo, o modelo de desenvolvimento agrcola hegemnico que im-
plica em diversos tipos de poluio atentam contra direitos ambientais
de indivduos e da coletividade.
Portanto, trata-se de entender que a crise ambiental produzida por esse
modelo insusentvel de desenvolvimento a manifesao de confitos
Assentamentos em debate 193
sociais que tem a natureza por base, e que, quando a crise se torna explcita,
exprime a conscincia de que um direito ambiental foi ameaado.
Essa nova ordem de valores aponta para a introduo de princpios
democrticos nas relaes sociais mediadas pela natureza.
Esses princpios democrticos so assim descritos por Acselrad:
a igualdade no usofruto dos recursos naturais e na disribuio dos cusos
ambientais do desenvolvimento; liberdade de acesso aos recursos naturais,
reseitados os limites fsicos e biolgicos da capacidade de suporte da natureza;
a solidariedade das populaes que compartilham o meio ambiente comum;
o reseito diversidade da natureza e aos diferentes tipos de relao que as
populaes com ela esabelecem; a participao da sociedade no controle das
relaes entre os indivduos e a natureza. (Acselrad, 1992)
Na medida que esses princpios sejam observados e que tenhamos
claro que o meio ambiente o suporte natural da vida e do trabalho
das populaes, esaremos resringindo de forma mais conseqente a
degradao do meio ambiente e, por resultado, assegurando os direitos
dos cidados vida e ao trabalho.
Por outro lado, essa nova cidadania que ir interferir na consituio
do ambiente econmico que levar ao interesse pela busca de inovaes
e consruo de trajetrias que incorporem a queso ambiental.
Portanto, assume-se aqui que, em concordncia com os evolucionisas
(Almeida, 1994, p.55) para que a preocupao ambiental se torne uma
resrio direcional ao desenvolvimento tecnolgico, o meio social em
queso que deve ser capaz de imprimir tal direcionamento.
Ns acrescentamos que o processo de consituio dessa nova cida-
dania, liderado pelos novos movimentos sociais, entre os quais os que
lutam por reforma agrria, dever ser capaz de imprimir o direcionamento
referido. (Cramer)
Assim, admitimos que a competitividade de um pas es ligada
competitividade dos empreendimentos nele exisentes, e que a compe-
titividade desses empreendimentos es ligada a inovaes e trajetrias
tecnolgicas que eso sendo direcionadas pelos novos movimentos
sociais que, por sua vez, corporifcam e consroem esa nova cidadania.
194 NEAD Debate 8
Podemos, ento, afrmar que a competitividade de nosso pas, de nossos
empreendimentos, no que tange s queses relativas ao meio ambiente,
depender, em ltima insncia, do processo de consituio desa nova
cidadania.
Com iso, entendemos que a futura competitividade de um pas,
emerso num processo de consruo de uma sociedade susentvel, esar
diretamente relacionada ao grau de radicalizao da cidadania concebida
nesse processo, que, em ltima insncia, signifca a formao de uma
nova sociabilidade, caracerizada por relaes sociais mais igualitrias.
O referido processo, que poltico-cultural, consitudo pelos vrios
movimentos sociais, entre os quais o movimento pela reforma agrria,
conseguir esabelecer uma nova forma de apropriao da natureza.
Esudos j demonsraram que o agrobusiness provoca a profunda
realidade de desruio do meio ambiente e da diversidade biolgica e
social. Portanto, o modo atual como a sociedade se organiza para pro-
duzir, na sua forma hegemnica no campo, produz tambm problemas
ambientais que nem sempre so explcitos para a maioria da populao,
mas que signifcam e so a manifesao de confitos sociais que tm por
base a natureza.
Mas a sociedade humana susentvel no se consri sem as demais
escies presentes em nossa biosfera, quer sejam devidamente conhecidas
ou no. Como fazer, ento, para que possamos conhec-las? Em primeiro
lugar, seu habitat deve ser conservado. Em segundo lugar, na medida
em que o exerccio e a consruo da nova cidadania pelos movimentos
sociais, em particular os que lutam pela reforma agrria, venham a in-
duzir a consruo do ambiente econmico que seja favorvel adoo
de tecnologias e trajetrias ambientalmente conseqentes, esaremos
tornando vivel expandir o processo de interao positiva entre homem
e natureza, j realizado por diversos grupos sociais, entre os quais os
ndios, os camponeses e os povos da foresa.
Na medida em que se preservem as foresas tropicais e subtropi-
cais, locais por excelncia onde se encontram a diversidade biolgica e
social, esaremos contribuindo tanto para a esabilidade da biosfera e
seus ecossisemas, quanto possibilitando ao pas a utilizao futura de
Assentamentos em debate 195
uma imensa riqueza, assegurando assim, s geraes futuras, melhores
condies de vida.
importante assinalar que a consruo presente desa nova cidadania
acaba por infuir naquilo que as geraes futuras herdaro de ns em
termos de meio ambiente. Trata-se portanto de uma luta com conseqn-
cias intergeracionais, que, por sinal, o tempo mais apropriado para se
tratar de queses relativas ao meio ambiente.
Sabemos que o tempo para as solues fundamentais, como por exem-
plo uma nova forma de apropriao da natureza, so intergeracionais e
apresentam difculdades, pois, como afrma Boaventura de Sousa Santos:
O problema das solues intergeracionais e que elas tm de ser executadas in-
trageracionalmente. Por iso, os problemas que elas criam no presente em nome
de um futuro tendem a ser mais visveis e certos que os problemas futuros que
elas pretendem resolver no presente. (1966)
Por esa razo, temos trabalhado com a idia de processo de consruo
de nova cidadania, que alm de admitir que seu contedo e signifcado
sero sempre defnidos pela luta poltica, aceita tambm que a sua tem-
poralidade intergeracional. Portanto, a anlise das variveis socio-eco-
nmico-ecolgicas deve ser realizada em termos de longo prazo.
Tambm de longo prazo so as aes de diversos grupos sociais que
vm praticando uma biotecnologia de carter holsico, consituindo-se,
na verdade, como os resonsveis pelo descobrimento e melhoramento
gentico de uma srie de plantas que hoje asseguram a possibilidade de
produo de alimentos e frmacos em escala mundial.
J foi perfeitamente demonsrado o processo de expropriao a que
foi e eso submetidos vrios povos do Sul, que alm diso eso sendo
desrudos fsica e/ou culturalmente, agora em novo patamar, mediante
a imposio da lei de patentes e propriedade intelecual.
Em sntese, a tese aqui defendida que a possibilidade de romper ese
crculo opressor e explorador de populaes desruidor de biodiversidade
e degradador de meio ambiente es em consruir o processo de um
crculo libertrio e solidrio, mediante a reao em cadeia, no-linear, mas
dialtica, de consruo hisrica, de uma cidadania radical. Esse processo,
196 NEAD Debate 8
corporifcado nos movimentos sociais, entre os quais, o movimento pela
reforma agrria, ir fazer com que a preocupao ambiental se torne uma
resrio direcional ao desenvolvimento tecnolgico, implicando que
o ambiente seletivo aponte na direo da adoo, por parte dos empre-
endimentos agrcolas (entre os quais os assentamentos), de inovaes e
trajetrias tecnolgicas que sejam ambientalmente limpas.
Esse processo tambm representa a insituio de uma outra sociabili-
dade, fundamentada em relaes sociais mais igualitrias por um lado, e,
por outro, tambm reseitadora das diferenas, quer no campo biolgico
(biodiversidade) ou social (sociodiversidade).
Quando a megadiversidade do Brasil no esiver sobre presso de
desaparecimento ou degradao, incluindo as populaes exisentes,
certamente o pas ter a possibilidade de contribuir para a esabilidade
da biosfera, de vrios ecossisemas, para a paz mundial, em termos de
evitar confitos de origens ambientais, e satisfazer as necessidades hu-
manas fundamentais.
Os empreendimentos agrcolas, aps adotarem inovaes e trajetrias
tecnolgicas ambientalmente limpas, esaro em condies de utilizarem,
de forma mais apropriada, os recursos naturais, a energia e o meio ambiente.
Iso signifcar maiores possibilidades de colocao de seus produtos nos
mercados internacionais e aumento da sua competitividade.
Nesse contexto hipottico, porm j a caminho, um projeto nacional
de insero do pas de forma ativa no contexto internacional, dever esar
fundamentado na viso de que seu suporte ser a megadiversidade e a sua
competitividade esar ancorada na radicalidade da cidadania exisente
no pas. Mas tambm preciso deixar claro que, nesa nova situao,
haver a subsituio, em termos de importncia social e ideolgica, da
competitividade pela solidariedade.
Utilizamos a expresso j a caminho porque concordamos com Boa-
ventura de Souza Santos quando expressa que no presente exisem dois
paradigmas: o capital-expansionisa, ainda dominante, e o ecossocialisa,
emergente, com as seguintes caracersicas:
O desenvolvimento social afere-se pelo modo como so satisfeitas as necessida-
des humanas fundamentais e tanto maior, globalmente, quanto mais diverso e
Assentamentos em debate 197
menos desigual; a natureza a segunda natureza da sociedade e, como tal, sem
se confundir com ela, to pouco lhe descontnua; deve haver um esrito equi-
lbrio entre trs formas principais de propriedade: a individual, a comunitria e
a esatal; cada uma delas deve operar por atingir seus objetivos com um mnimo
de controle de trabalho de outrem. (1996)
Segundo o referido autor, esse paradigma emergente vem se alimen-
tando de uma enorme diversidade de movimentos sociais e entidades
no-governamentais locais e transnacionais. Uma de suas caracersicas
de expandir a democracia na direo intertemporal e intergeracional.
Assume-se, ento, que a proximidade do futuro hoje to intensa que
nenhum presente democrtico sem ele. Nese contexto se entende que a
democracia das relaes esatais visa sobretudo a democracia das relaes
intergeracionais e em nome desa que a cooperao dos Esados mais
imprescindvel e urgente.
Na perseciva desse paradigma emergente, poderamos dizer so-
ciedade susentvel que o corporifcaria se fundamenta numa economia
ecolgica que utiliza os recursos naturais renovveis em velocidade que
no supere a taxa de renovao, e usa os recursos naturais no renovveis
em ritmo adequado subsituio desses, pelos recursos renovveis.
claro que esa sociedade tambm vai produzir resduos. Mas, o far em
ritmo e quantidade em que os ecossisemas podem assimilar e reciclar.
Certamente, outra caracersica desa sociedade ser a redisribuio
dos recursos e da produo tanto entre a gerao atual, como entre esa
e as seguintes, pois se sabe que tanto a concentrao de riqueza quanto
a pobreza generalizada desri o ambiente. Assim sendo, esa uma
sociedade que pleiteia a eqidade com susentabilidade.
Bi bli ografia
Acselrad, Henri. Cidadania e meio ambiente. In: Acselrad, Henri
(org.) Meio ambiente e democracia. Rio de Janeiro: IBASE, 1992, p.19.
Ali er, Joan M. De la economia ecolgica al ecologismo popular.
Montevideo: Ed.Nordan-Comunidad, 1995, p.46-48.
198 NEAD Debate 8
Almei da, Luciana. T. Insrumentos de poltica ambiental: debate
internacional e queses para o Brasil. Campinas: IE/Unicamp, tese de
mesrado, 1994, p.55.
Cramer, J. e Zwgveld, WCL. Te future role of techonology in
environment manegement. Fure. Vol. 23, n.5.
Dagni no, Evelina. Os Movimentos sociais e a emergncia de uma
nova noo de cidadania. In: Dagni no, Evelina (org.) Os Anos 90: po-
ltica e sociedade no Brasil. So Paulo, Ed. Brasiliense, 1994, p.115.
Elster, Jon Marx. Hoje. So Paulo: Ed. Paz e Terra, 1989, p.37.
Esterci, Neide e Valle, Raul S.T. Reforma agrria e meio ambiente In:
Frum Social Mundial, So Paulo, Insituto Socioambiental, 2003.
Greer, Jed e Gianni ni , Tyler. Earth riights. Linking the quess
for human right and environment protecion. New York: EarthRights
International, 1999.
Marti ns, Paulo Roberto. Trajetrias tecnolgicas e meio ambiente: a
indsria de pesicidas/transgnicos no Brasil. Campinas: Unicamp, IFCH,
2000. Tese de doutorado
Marti ns, Paulo R. Por uma poltica ecoindusrial. In: Viana,
Gilney et al. O Desafo da susentabilidade. So Paulo: Ed. Fundao
Perseu Abramo, s.d.
Marti ns, Paulo R. Por uma sociedade susentvel. Cadernos de
Esudo da FEOB, So Joo da Boa Visa, n.2, 2002.
Marti ns, Paulo R. Jusia ambiental e projeto poltico: o caso de
Central nica do Trabalhadores. In: Acselrad, Henri et alii. Rio de
Janeiro: Ed.Relume Dumar, 2004.
Romei ro, Ademar R. Meio ambiente e dinmica de inovaes na
agricultura. So Paulo: Fapes/Annablume, 1998.
Santos, Boaventura de Sousa. Pela mo de Alice. O social e o poltico
na ps-modernidade. So Paulo: Cortez Editora, 1996.
Sparovek, G. (org.) A Qualidade dos assentamentos da reforma
agrria brasileira. So Paulo: Pginas & Letras Editora, 2003, p.134-135.
Comentrios sobre A Qualidade
dos Assentamentos da Reforma
Agrria Brasileira
Hans Meliczek
Economista agrrio. Instituto de Desenvolvimento
Rural, Universidade de Goettingen, Alemanha.
2.10
200 NEAD Debate 8
A contri bui o da pesqui sa para
a anli se da reforma agrria
P
roblemas de posse de terra no Brasil tm sido reconhecidos h muito
tempo como uma das principais causas de confitos sociais no campo.
As atividades da Confederao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
(Contag), da Central nica dos Trabalhadores (CUT) e do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e os relatos da Secretaria Na-
cional da Comisso Pasoral da Terra (CPT) tm continuamente atrado
a ateno sobre as conseqncias da disribuio desigual da propriedade
da terra. Os relatos tm exposo confitos violentos envolvendo queses
agrrias e a batalha feroz da populao sem-terra para obt-la.
Por outro lado, fontes ofciais tm relatado realizaes consider-
veis na disribuio de terra para os sem-terra. Mais de meio milho
de famlias tm recebido terras que foram objeto de reforma agrria
nos ltimos 15 anos. Entretanto, o coefciente Gini de concentrao de
terras mudou muito pouco e demonsra que a disribuio da posse da
terra ainda altamente desigual. Alm disso, foi relatado que a situao
dos benefciados pela reforma agrria es longe de ser satisfatria, que
o governo contou assentamentos fantasmas e famlias abandonadas
aps o seu assentamento na terra, que a qualidade da terra disribuda
tm sido marginal (Veiga, 2003, p.66) e que mais de 60% dos assentados
venderam ou abandonaram suas parcelas da reforma agrria.
Em visa dessas informaes contraditrias e devido falta de dados
qualitativos confveis sobre a situao real dos assentados pela reforma
agrria, a pesquisa uma contribuio efciente para uma anlise ob-
jetiva da reforma agrria e suas realizaes. Com base em uma ampla
anlise de mais de 4.000 assentamentos, o esudo chega concluso de
Assentamentos em debate 201
que a reforma tem sido bem-sucedida. A maioria dos benefciados es
em melhor situao do que anteriormente. Eles gozam da dignidade
de viver em sua prpria terra e da esabilidade que garante suas neces-
sidades bsicas. Um nmero considervel de famlias tem superado a
linha da pobreza desde que obteve acesso terra. Ademais, o esudo
revela que os indicadores de abandono e venda ilegal de lotes de terra
so insignifcantes. Isso ainda mais digno de louvor, considerando-se
que os assentamentos tm sido esabelecidos em terras anteriormente
improdutivas e por pessoas que tinham pouca ou nenhuma experincia
em adminisrar sua prpria produo.
Uma revelao muito signifcativa do esudo o alto valor do ndice
de efccia da reorganizao fundiria, se comparado a outros ndices
como o de qualidade de vida e o de ao operacional. Os autores chegam
concluso que, para os assentados, o acesso terra o aseco mais
importante da reforma agrria. mais importante do que o acesso a outros
servios adicionais, tais como sade, educao ou crdito. Esse dado no
dever, entretanto, levar complacncia por parte do governo. Para facilitar
o esabelecimento de assentamentos viveis, o Esado dever assegurar o
acesso dos assentados a outros mercados, incluindo o crdito, insumos
e tecnologia. Os autores enfatizam, com propriedade, a necessidade de
uma ao complementar do governo na implementao de projetos de
assentamento, e enfatizam que a disribuio de terras apenas o pri-
meiro passo no processo de melhoria de vida da populao rural pobre.
Enquanto o governo tem concentrado at agora a sua avaliao do pro-
cesso de assentamento em asecos quantitativos, o esudo A Qualidade dos
Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira se aprofunda mais e avalia a
situao socioeconmica dos benefciados pela reforma agrria. Ele pro-
v uma avaliao mais objetiva dos assentamentos. Gesores de polticas
devero sentir-se encorajados pelos resultados positivos dessa pesquisa
para dar continuidade e fortalecer o processo de reforma agrria no Brasil.
Adequao dos mtodos de pesqui sa
As sociedades rurais so, em sua maioria, comunidades integradas nas
quais os vrios componentes da vida (agrcolas, no-agrcolas, econ-
202 NEAD Debate 8
micos, sociais, polticos, religiosos e seculares) eso intimamente inter-
relacionados. Esses componentes no podem ser facilmente separados
uns dos outros. Esforos para medir o impaco de mudanas induzidas
em tais sociedades, como, por exemplo, por meio da reforma agrria,
confrontam-se com ainda mais difculdades.
Alm disso, o impaco das polticas agrrias es sujeito a fatores
externos, tais como condies do tempo e infuncias do clima. A situa-
o econmica geral de um pas tambm tem repercusses importantes
sobre o impaco da reforma agrria. Esa se refete na taxa de infao, na
esabilidade monetria, na formao de capital, na taxao, no ndice de
invesimento privado, na proviso de subsdios e auxlios; e nos gasos
pblicos em bens, servios e infra-esrutura.
Os autores eso cientes dessa situao e afrmam que foi impossvel
isolar um fator esecfco que pudesse explicar a realizao das metas
pretendidas. Para captar as imponderabilidades desses fatores, o esudo
utiliza muitos mtodos de pesquisa. Com relao aos asecos sociais e
econmicos da reforma agrria, informaes primrias so geralmente
coletadas em quesionrios preenchidos por tomadores de decises. Essas
ferramentas so normalmente aplicadas aos benefcirios da reforma e, s
vezes, tambm a proprietrios de terras que foram afetados pela transfe-
rncia de terras. A equipe de pesquisa deu um passo adiante. Ela deve ser
louvada por cobrir em suas enquetes no apenas as opinies de adminis-
tradores (agentes sociais), mas tambm as dos benefcirios imediatos da
reforma e dos lderes de associaes nos assentamentos. Alm disso, os
autores subdividiram os resultados de suas descobertas de acordo com
as regies e superintendncias regionais e com dois perodos diferentes
de tempo. Essa abordagem inclusiva amplia o mbito da anlise.
As entrevisas foram realizadas por 280 agentes sociais. A colaborao
dos empreendedores sociais facilitou a comunicao com os entrevisa-
dos pela exisncia prvia de canais de comunicao entre eses grupos.
Apesar dos empreendedores terem sido selecionados fora de suas reas
de atuao, no tendo assim contato prvio com os projetos de assenta-
mento (PA) em que fzeram as entrevisas, parece haver, pelo menos para
um observador externo, dvidas sobre a sua iseno e confabilidade de
suas entrevisas uma vez que eles so funcionrios do Insituto Nacional
Assentamentos em debate 203
de Colonizao e Reforma Agrria (Incra), portanto, suposamente mais
inclinados no regisro de asecos positivos.
Alm disso, o esudo no revela o nmero de pessoas em cada um
dos trs grupos de entrevisados, ou seja, se houve uma representao
signifcativa dos empreendedores sociais.
Em relao ao processamento dos dados coletados, os autores usaram
formas diferentes de anlise na consruo de cinco ndices, abordando
a efcincia da organizao das terras, o padro de vida, a organizao
social, a qualidade ambiental e asecos operacionais. Esses so adequados
para a avaliao da qualidade dos assentamentos de reforma agrria. Os
parmetros utilizados na consruo desses ndices so muito amplos e
cobrem a maioria das queses importantes.
Com relao informao sobre fatores indiretos que infuenciam a
qualidade dos assentamentos de reforma agrria e que no podem ser
obtidos satisfatoriamente por meio de quesionrios como a qualidade
do solo, o clima, o acesso e a densidade populacional , os autores recor-
reram a fontes secundrias, como os censos agrcolas e demogrfcos do
Insituto Brasileiro de Geografa e Esatsica (IBGE), dados do Incra e
publicaes do Minisrio do Desenvolvimento Agrrio (MDA). Assim,
obtiveram sucesso em contextualizar a situao dos assentamentos dentro
da conjuntura mais ampla da situao geral.
Entretanto, a queso referente a se os assentamentos possuem algum
efeito macroeconmico, ocasionando mudanas no Produto Interno
Bruto (PIB), no abasecimento de alimentos para centros urbanos, no
comrcio internacional e no invesimento na agricultura, ainda no foi
coberta. Embora uma anlise dessa natureza tivesse sido bem-vinda, teria
ultrapassado o escopo do esudo. O mesmo se aplica a um levantamento
da reao de proprietrios cujas terras tenham sido expropriadas.
Eu aprecio o empenho dos autores em procurar a objetividade. Ao
consatarem que o ndice de efccia da reorganizao fundiria apresen-
tava altos valores, os quais, em alguns casos, aproximavam-se da situao
ideal, eles se perguntaram se a capacidade dos assentamentos poderia
ter sido subesimada desde o incio e se teria sido possvel assentar um
nmero maior de famlias nos projetos.
204 NEAD Debate 8
Considerando que as entrevisas foram realizadas no assentamento,
e no com indivduos assentados, os autores decidiram apresentar os
dados sobre renda familiar na forma de valores numricos e no em forma
de ndice. Eles reconhecem, entretanto, as limitaes metodolgicas de
uma anlise de renda familiar para projetos inteiros, por meio de en-
trevisas. Com base em minhas experincias na realizao de pesquisas
de campo socioeconmicas, tenho dvidas quanto a dados sobre renda
obtidos por meio de quesionrios e tendo a me basear muito mais em
indicadores secundrios, como moradia, bens domsicos, presena das
crianas na escola, etc.
Enquanto os economisas geralmente gosam de buscar dados sobre
mudanas familiares para avaliar uma certa atividade, os autores no
caram na armadilha de coletar dados suposamente acurados sobre a
renda familiar. Alm disso, como eles demonsram muito claramente,
freqentemente no o mero aumento da renda que importa para os
assentados, mas o senso de dignidade e orgulho que vem com a proprie-
dade de um lote de terra.
Sem tentar diminuir a enorme quantidade de trabalho de pesquisa
com a realizao de 14.414 entrevisas, eu me pergunto por que no houve
uma tentativa de incluir na enquete um grupo de controle muito pequeno
de famlias sem-terra que no se benefciaram da reforma.
Questes omi ti das na enquete
A pesquisa muito ampla e cobre muitos asecos de uma verifcao de
impaco da reforma agrria. Entretanto, de acordo com a minha opinio,
uma queso foi omitida. O esudo no deu a devida ateno s queses
de gnero. No fca claro, a partir do esudo, at que ponto as mulheres se
benefciaram, se tm recebido terras da reforma agrria em seu prprio
direito e se elas podem disor (vender, doar, transferir ou hipotecar a terra
proveniente da reforma agrria). Enquanto o trabalho trata da importante
queso de conferir dignidade aos benefciados pela reforma, isso parece
aplicar-se implicitamente a todos os membros das famlias, uma anlise
do satus das mulheres, quer sejam casadas ou solteiras (divorciadas,
separadas ou vivas), parece esar faltando.
Assentamentos em debate 205
Um indicador suplementar do impaco da reforma agrria teria sido
a percepo dos assentados com relao ao seu futuro. Considerando-se
que o esudo enfatiza a importncia do aseco qualitativo, resosas a
essa queso relevante teriam dado um sabor adicional a esse excepcional
trabalho.
Bi bli ografia
Vei ga, J.E. Poverty alleviation through access to land: the experience
of the Brazilian Agrarian reform process. Land reform, land settlement
and cooperatives, n.2, p.59-68, 2003.
Centre of Lati n Ameri can Studi es, Te continuing need
for land reform in Latin America. Making the case for civil society. Cam-
brige: 2001. 41p.
Tefi lo, E. e Prado Garcia D. Brazil: land politics, poverty and
rural development. Land reform, land settlement and cooperatives, n. 3,
p.19-29, 2003.
Assentamentos rurais:
estabelecendo um dilogo entre
duas perspectivas de anlise
Eliane Brenneisen
Doutora em Cincia Sociais pela Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo (PUC-SP)
e professora de Sociologia na Universidade Estadual do Oeste do Paran (Unioeste).
2.11
Assentamentos em debate 207
Introduo
O
tema dos assentamentos rurais da reforma agrria vem recebendo a
ateno de diversos pesquisadores, sobretudo daqueles vinculados
ao campo das Cincias Sociais, os quais, por meio de esforos individuais
e coletivos, tm procurado, por meio de mltiplos ngulos e perseci-
vas, desvendar asecos de uma temtica que se apresenta controversa e
complexa. A ttulo de exemplo, entre os esforos coletivos podemos citar
a coletnea organizada por Leonilde Medeiros et alii (1994), que reuniu
os trabalhos de pesquisa discutidos no seminrio A problemtica dos as-
sentamentos rurais: uma viso multidisciplinar; o conhecido trabalho de
pesquisa realizado pela Organizao das Naes Unidas para Agricultura e
Alimentao (FAO, 1992) e o resultado de um seminrio organizado para a
discusso desses dados (Romeiro et alii, 1994); o trabalho organizado por
Leonilde Medeiros e Srgio Leite (1999); a pesquisa intitulada A vivncia
da reforma agrria por populaes assentadas: a perseciva do sujeito,
realizada sob a coordenao de Jos de Souza Martins (2003a) e, por fm,
o esudo sobre os impacos dos assentamentos realizado por Srgio Leite
et alii (2004). No que se refere aos trabalhos individuais, na impossibili-
dade de nominar todos esses esforos, apenas cito o trabalho de pesquisa
desenvolvido por Navarro (1994) e as teses de doutoramento desenvolvidas
por Souza (1999), Pereira (2000), Brenneisen (2002) e Caume (2002).
O trabalho de pesquisa coordenado por Gerd Sparovek, intitulado
A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira, soma-se
a essa empreitada que j tem uma trajetria de quase 20 anos, desde os
1 Agradeo a Maria Aparecida de Moraes Silva e Leonilde Srvolo de Medeiros pela leitura atenta
e comentrios feitos verso preliminar dese artigo. Contudo, a verso fnal, incluindo interpre-
taes adotadas ou erros remanescentes, de minha inteira resonsabilidade.
208 NEAD Debate 8
primeiros assentamentos rurais insalados, mais precisamente a partir da
segunda metade da dcada de 80. Em visa disso, fao uma observao
inicial, complementando o que fora informado na apresentao do livro
(Sparovek et alii, 2003, p.10) de que foi fncado um marco no meio da es-
trada, mas um marco a mais nessa esrada que j vem sendo percorrida por
outros pesquisadores, a partir de enfoques diversos, ao longo desses anos.
O trabalho de pesquisa acima referido tambm considerado o mais
abrangente sobre a temtica assentamentos rurais realizado at o presente
momento, uma vez que envolveu todos os assentamentos rurais insalados,
exceto aqueles que no haviam completado um ano. No retirando os mritos
e os esforos empregados pelos pesquisadores, procurando apresentar uma
viso ampla da problemtica em queso (e j resondendo sucintamente
s trs queses que nos foram colocadas), considero que os mtodos ado-
tados metodologias quantitativas de pesquisa social embora ofeream
um panorama geral da situao em que se encontram os assentamentos
rurais, por si s, no apresentam anlises que abarquem a complexida-
de da temtica. Passa-se, assim, ao largo dos detalhes fundamentais
compreenso dos processos sociais. As caracersicas dessa modalidade
de pesquisa, fundamentada em dados quantitativos, no leva ainda em
considerao a grande diversidade cultural do pas e os signifcados dos
processos sociais para os atores envolvidos. Em funo de seu carter
amplo, no d conta, ainda, de resonder a dois asecos fundamentais
compreenso da complexidade dos processos sociais: o como e o porqu.
Considerando os asecos brevemente apontados e partindo da pers-
peciva de anlise que tenho adotado nas minhas pesquisas, at ento reali-
zadas, de metodologias qualitativas de pesquisa social, fundamentadas em
esudos de caso (perseciva a qual importante frisar no a considero
a nica a dar conta dos processos sociais, tampouco a mais relevante, uma
vez que tambm apresenta tambm limites dos mais diversos), procurar-
se-, com as informaes colhidas nessas pesquisas, cujas referncias so
cinco esudos de caso realizados em assentamentos rurais localizados no
oese do Paran, em pocas disintas, mais precisamente entre os anos de
1991-2001, e um esudo em andamento, tambm em assentamento rural em
processo de insalao, esabelecer um dilogo com o trabalho de pesquisa
intitulado A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira.
Assentamentos em debate 209
Contudo no se tem a pretenso de esgotar o assunto nos asecos que
aqui sero abordados. Procurar-se-, to somente, no esao concedido,
luz das pesquisas empricas mencionadas e tambm de outros trabalhos
de pesquisa realizados, como os de Maria Aparecida de Moraes Silva
(2003) e Snia Barbosa Magalhes (2003), discutir asecos dos dados
obtidos na pesquisa citada no que se refere reorganizao fundiria;
apresentar, ainda, evidncias empricas da simbitica relao que se tem
esabelecido entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra
(MST) e o Esado e, por fm, discutir asecos relacionados aos ndices
de articulao de organizao social e de qualidade de vida.
Reorgani zao fundiria: aspectos
que os nmeros no revelam
Os ndices obtidos pela pesquisa A Qualidade dos Assentamentos da Refor-
ma Agrria Brasileira no tocante reorganizao fundiria demonsram
a efccia governamental, quanto a esse aseco do programa de reforma
agrria desenvolvido at o ano de 2001 Entretanto, os autores consata-
ram a exisncia de obsculos nesse processo (embora no signifcativos
em termos numricos) quanto ao dimensionamento da capacidade do
assentamento, permanncia de lotes abandonados, ocorrncia de aglu-
tinamento de lotes, ocorrncia de reas remanescentes no parceladas
e permanncia da rea til para produo no explorada.
Os dados colhidos pelos autores apontam, em primeiro lugar, para a
possibilidade de erros de avaliao no dimensionamento de projetos, por
2 Paralelamente aos mecanismos de reorganizao fundiria, por meio da realizao de assentamentos
rurais, miser ainda ressaltar as igualmente efcazes medidas que tm sido tomadas pelo Esado,
durante as ltimas dcadas, objetivando a retomada da geso do territrio nacional, como apro-
priadamente demonsradas por Jos de Souza Martins (2000, p. 13-218), a partir de uma anlise
que leva em considerao a compreenso hisrica daquilo que se convencionou chamar queso
agrria brasileira. Essas medidas de ampliao de retomada da geso do territrio, por meio de
regulamentaes sobre a maneira de se utilizar a terra, da qual o Esado abrira mo com a Lei de
Terras de 180, esendem-se, como demonsra o autor, das adotadas ainda no governo Getlio
Vargas, legislando-se a reseito das terras da Marinha, passando pela criao do Esatuto da Terra
no ano de 193, s adotadas na vigncia dos dois mandatos do governo Fernando Henrique Cardoso,
como o cancelamento dos ttulos de terras que no fossem passveis de comprovao legal.
210 NEAD Debate 8
parte do Insituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria (Incra),
ocorrendo, em alguns casos, a alocao de um nmero de famlias alm
da capacidade do assentamento, sobretudo no primeiro perodo esudado
(1985-1994). H ainda uma variao nos nmeros, dependendo da regio.
Essa consatao conduziu os autores (Sparovek et alii, 2003, p. 93-94)
a uma tentativa de interpretao desses dados, o que os levou busca
das possveis causas para tal ocorrncia entre elas, a atrao exercida
sobre outras famlias com a insalao do assentamento, o j mencionado
dimensionamento do projeto realizado de maneira equivocada pelo r-
go resonsvel e a exisncia de infra-esrutura do assentamento como
fator de atrao de outros parentes ou agregados. Contudo, a pesquisa
concluiu tendo em visa o seu objetivo, que era o de gerar uma an-
lise preliminar dos dados que esse trabalho esecfco no permitiria
isolar um ou outro dado explicativo sobre a superao da capacidade de
assentamento nos projetos.
nesse ponto esecfco que os esudos de caso ou esudos represen-
tativos de uma dada realidade regional poderiam resonder de maneira
mais satisfatria a essa queso.
A ttulo de exemplo, podemos citar o esudo de caso realizado por
Snia Magalhes (2003) em um assentamento rural localizado na regio
sudese do esado do Par. Nessa regio encontram-se 30% dos projetos de
assentamento insalados no pas, os quais, consituem, segundo a autora,
situaes legtimas de reconhecimento de uma situao de reforma agrria
promovida pelos prprios agricultores quando ocuparam aquelas terras
ainda nas dcadas de 70 e 80. Portanto, a hegemonia de um modelo de
processo de insalao de assentamentos de reforma agrria (acampamento
desapropriao assentamento), segundo a autora, no corresonde a
essa realidade esecfca e tem contribudo para obscurecer a situao
social, de milhares de camponeses, cuja luta pela terra tem outros marcos
sociais, hisricos e esaciais (Magalhes, 2003, p.247).
Nesse caso esecfco, a ao por parte do Esado no esava sendo
vivenciada por eles como reforma agrria, mas como mais uma ao no
mbito da conquisa dos direitos (uma concepo de direito terra, ge-
rada pelo trabalho sobre a terra nua) e os benefcios creditcios advindos
desse processo, como mais um projeto implantado no local, como tantos
Assentamentos em debate 211
outros que ali ocorreram anteriormente, seja por parte dos sindicatos
ou organizaes no-governamentais (ONG), que desenvolveram aes
dessa natureza naquele local, quando esses agricultores ainda eram efe-
tivamente posseiros da rea.
Um outro aseco apontado nessa pesquisa, e relacionado s men-
cionadas regras consuetudinrias prprias dessas populaes, refere-se
jusamente ao fracionamento de lotes ocorrido nesse local, detalhadamente
demonsrado pela autora. Segundo documentos do Incra datados de 1994,
havia, no local, 66 lotes familiares de 100 hecares. Documentos poseriores,
do ano de 2000, informavam a exisncia de 90 lotes familiares. J em
2001, no levantamento realizado pela autora, consatou-se a exisncia de
95 lotes familiares, oito fazendas e dois lotes no-familiares, indicando
tanto a subdiviso de lotes entre os prprios agricultores como tambm
entre outros grupos sociais externos ao assentamento, por meio do que
se convencionou chamar de processo sucessivo de venda de direitos.
Essas transaes, como se sabe, so esabelecidas de acordo com regras
prprias, sem nenhum documento comprobatrio de compra e venda
de uma parte dos lotes pelos agricultores benefcirios de polticas de
reforma agrria, ocorrendo, em decorrncia disso, o no reconhecimento
desses lotes pelo Incra, mesmo porque se tratam de procedimentos ilegais.
A esse reseito a autora assinala: Pode-se concluir, pois, que boa parte da
guerra dos nmeros [] no resultado apenas da data do levantamento
e/ou dinmica demogrfca, ou mesmo da inefcincia do levantamento
realizado por aquele Insituto, mas, tambm, da forma pela qual a insero
daquelas famlias reconhecida naquele universo. O processo de regula-
rizao fundiria ocorrido naquele local, como antes citado, esava sendo
compreendido por aquela populao como um direito a mais um projeto,
semelhana dos que foram experienciados anteriormente. Assim o fra-
cionamento antecipado dos lotes entre os membros da unidade familiar,
como observado pela autora, pode ter se dado por uma busca de ampliao
daquilo que considerado um direito: o acesso aos benefcios creditcios,
como fomento e habitao concedidos aos benefcirios do programa de
reforma agrria. Considerando os asecos culturais apontados, a autora
levanta ainda a hiptese de que os prprios camponeses, a partir do seu
universo, tentem assegurar no apenas a melhoria das condies de vida
212 NEAD Debate 8
no presente, mas tambm prevenir o futuro dos flhos, e at dos netos, que
j antevem como difcil, em um contexto de esgotamento da terra livre.
Nesse sentido, atualizam a propriedade da terra, por meio do recurso da
partilha (Magalhes, 2003, p.287).
Outro aseco a se considerar, associado ao observado por Magalhes,
refere-se maneira como o rgo resonsvel pela reforma agrria, bem
como os agentes de mediao concebem o benefcirio da reforma agrria,
ou seja, a partir de uma tica que tem por referncia a famlia nuclear. Nos
assentamentos rurais a realidade outra: a referncia hisrica e cultural
para esses grupos tem sido a da famlia extensa. Em sntese, como apro-
priadamente observa Martins, o sujeito mesmo da reforma agrria outro:
O sujeito, portanto, da reforma agrria brasileira tem um ncleo basicamente
familiar, e de famlia extensa. Abrange mais de uma gerao e de modo algum
pode ser pensado como famlia nuclear consituda pelo casal e pelos flhos
menores, como curiosamente esimam at mesmo agentes de mediao profun-
damente envolvidos na luta pela reforma agrria. A famlia que es na cabea
de acampados e assentados uma insituio ampla e complexa e nem mesmo
se limita a parentesco de sangue. uma rede de direitos e deveres referidos s
obrigaes dos vnculos de sangue e tambm dos vnculos sagrados da afnida-
de e do parentesco simblico. Inclui at mesmo a velha Figura do agregado e
protegido. (Martins, 2003b, p. 55)
O conhecimento das esecifcidades hisricas e culturais resonde
de maneira mais satisfatria a asecos relativos aos ndices de efccia
da reorganizao fundiria, alm de servir de orientao para a ao
dos agentes governamentais ou mediadores do movimento. Ou seja, os
nmeros precisam ser interpretados luz de outras metodologias de
pesquisa, que, levando-se em considerao o contexto sociocultural em
que se encontram insalados esses assentamentos, permitam uma inter-
pretao mais abrangente desses dados.
Um segundo dado utilizado para a verifcao do ndice de efccia
de reorganizao fundiria foi o levantamento da rea til no explorada.
Os dados colhidos demonsram, nos dois perodos esudados, que esse
foi o fator de maior contribuio para a depleo do referido ndice,
Assentamentos em debate 213
levando os autores hiptese de que houve incluso de reas inaptas
explorao agrcola na rea til do projeto. Em pesquisa realizada no
oese paranaense (Brenneisen, 2002) em um assentamento rural insalado
no ano de 1985 (assentamento Vitria), foi consatada a exisncia de
lotes imprprios atividade agrcola. A ocorrncia desse fato deve-se
prpria presso do MST poca, tendo em visa a demanda, para que
um nmero maior de famlias fosse insalado naquele local. Passados 13
anos da criao do assentamento, na tentativa de equacionar a queso,
o Incra esava realizando a transferncia dessas famlias para outros
projetos de assentamento em processo de insalao na regio. A meno
a esse dado, no isentando o Esado de sua resonsabilidade, uma vez
que deveria pautar suas aes no por presso, mas por uma avaliao
criteriosa e racional, demonsra que somente esudos fundamentados
em outras metodologias permitiria, de fato, resonder de maneira sa-
tisfatria real motivao da ocorrncia de reas teis no exploradas
nos assentamentos rurais. Tais resosas por certo no seriam nicas,
dadas as j apontadas diferenciaes regionais e esecifcidades locais.
Um outro dado apontado pela pesquisa A Qualidade dos Assentamen-
tos na Reforma Agrria Brasileira que tambm contribui para a depleo,
embora no considerado signifcativo, refere-se aglutinao de lotes,
fator que, mesmo no sendo expressivo em termos numricos, trata-se
de aseco que precisa ser considerado pelo Esado, pois coloca em xe-
que o prprio signifcado da reforma agrria o da desconcentrao da
propriedade da terra. A pesquisa realizada por Magalhes (2003, p.267),
mencionada acima, realizada no Par (jusamente o esado em que a
pesquisa A Qualidade dos Assentamentos na Reforma Agrria Brasileira
demonsrou a ocorrncia no perodo 1985-1984 de um ndice de 13% no
que se refere aglutinao de lotes), consatou, naquele assentamento,
embora a regra tenha sido a do fracionamento de lotes, a exisncia de
oito fazendas e dois lotes no familiares, obtidos por meio do mecanismo
de compra dos direitos, alm de uma chcara, cujo lote havia sido adqui-
rido por um vereador. Fatos como esse, lamentavelmente, no so uma
exceo e escapam aos objetivos da reforma agrria, demandando uma
interveno rpida e efcaz por parte do Incra, o que, infelizmente, no
vem ocorrendo, ou pelo menos, no com a agilidade e preciso eseradas.
214 NEAD Debate 8
Um outro aseco no incluso na pesquisa sobre a qualidade dos
assentamentos e que igualmente descaraceriza a reforma agrria
a prtica, obviamente ilegal, de arrendamento de terras, observada em
determinados assentamentos rurais, inclusive em assentamentos do oes-
te e sudoese paranaenses, para fcar no mbito das consataes feitas
a partir de pesquisas nesses locais, embora tratando-se ainda de casos
isolados, como ocorre no assentamento Ireno Alves, localizado em Rio
Bonito do Iguau, at ento o maior assentamento da Amrica Latina,
com cerca de 940 famlias insaladas.
O esudo realizado por Maria Aparecida de Moraes Silva (2003) no
assentamento Bela Visa, oese de So Paulo, cujas terras pertenciam
anteriormente a usineiros (famlia Morganti), de maneira mais con-
tundente, evidencia prticas dessa natureza, ou seja, o arrendamento de
terras desinadas reforma agrria. A pesquisa demonsrou que, num
universo de 176 lotes, 52 deles desenvolviam a cana-de-acar, uma cultura,
conforme se referiu a autora, proibida e ao mesmo tempo consentida,
em virtude da posura at ento adotada pelo Incra, de total omisso em
relao a atos ilcitos como esse (Silva, 2003, p. 151). A adeso cultura
da cana por parte de alguns assentados e a recusa veemente de outros,
desencadeando a ocorrncia de confitos internos, que se relacionam
maneira como se deu o processo de incorporao das famlias rea,
pertencentes a trs grupos disintos; processo esse marcado por uma
hisria confituosa com refexos na organizao do assentamento na
atualidade. Os que se opunham presena dos usineiros no local com
a cultura da cana compreendiam o seu real signifcado: o da descarace-
rizao da reforma agrria, cujo objetivo primordial, segundo eles, era
o do desenvolvimento da agricultura familiar. Esse aseco apresenta-se
relevante embora no considerado no ndice de reorganizao fundiria,
uma vez que demonsrativo da maneira como o capital agroindusrial
se apropria dos mecanismos de reorganizao fundiria, ampliando
assim seus lucros, via arrendamento de terras, mecanismo que vale
frisar s ocorre porque h conivncia do Insituto resonsvel pela
insalao dos assentamentos.
Um quinto aseco que tambm contribui para a depleo do ndice de
efccia da reorganizao fundiria de acordo com a pesquisa A Qualidade
Assentamentos em debate 215
dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira a ocorrncia de lotes
vagos, embora tal ocorrncia tenha se revelado mnima, com incidncia
mais signifcativa nos esados do Amap e Amazonas. No oese do Paran,
nos assentamentos invesigados at o presente momento, no se verifcou
a ocorrncia de lotes vagos. Por outro lado, h um outro aseco verif-
cado, mas no contemplado na pesquisa A Qualidade dos Assentamentos
da Reforma Agrria Brasileira, que o da desenfreada prtica da venda
de direitos sobre o lote. Essa prtica associada ao arrendamento de
terras ainda que considerada pouco signifcativa em termos percen-
tuais, deveria, de alguma maneira, ao se tratar da efccia da reorgani-
zao fundiria, ter sido levada em considerao na pesquisa realizada.
importante, porm, assinalar que a prtica da venda de lotes obser-
vada nos assentamentos do oese do Paran diversa da ocorrida no sul
do Par. Na pesquisa realizada por Magalhes (2003), como viso anterior-
mente, embora tenham sido verifcados casos de venda para terceiros, a
recorrncia ali era mesmo a da subdiviso dos lotes no interior do grupo
familiar. No oese do esado do Paran, lamentavelmente, a venda era para
terceiros e realizada integralmente. Mais que isso, em todos os assenta-
mentos esudados verifcaram-se prticas dessa natureza, sendo, inclusive,
motivo de confitos entre assentados e direo do MST, que se opunha a
elas, jusamente por serem contrrias aos objetivos da reforma agrria.
No assentamento Svio Dois-Vizinhos, um dos primeiros insalados
no esado, no ano de 1985 (Brenneisen, 1994), mesmo a direo do MST
3 No momento que escrevo essas linhas, a Folha de So Paulo publica uma matria revelando que
% das famlias assentadas em 2003, portanto, durante o primeiro ano do governo Lula, esavam
sendo assentadas em reas desapropriadas em geses anteriores, ou seja, das 3,8 mil famlias
assentadas no ano de 2003, 2, mil foram acomodadas em lotes vagos, desses, %, num montante
de 24 mil famlias, foram assentadas na Amaznia Legal, jusamente nas reas de maior ocorrn-
cia de lotes vagos evidenciados pela pesquisa A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria
Brasileira. Embora seja quesionvel incluir medidas como essas no cmputo dos assentamentos
rurais realizados no ano de 2003, fator quesionado pelo jornal e tambm pelo MST (razo das
manifesaes que ora ocorrem nesse ms de abril, ou seja, ocupaes coordenadas em todo
territrio nacional em decorrncia do nmero nfmo de assentamentos realizados at o presente
momento), essa no deixa de ser uma medida racional por parte do Esado, contribuindo para
uma melhor efccia no que se refere reorganizao fundiria. Cf. Scolese, Eduardo. Lula faz
assentamento em projetos antigos, Folha de So Paulo, de abril de 2004.
216 NEAD Debate 8
opondo-se ocorrncia de fatos dessa natureza, a maioria dos agricultores
assentados concordaram com esse procedimento, argumentando que
os que compraram os direitos tambm eram sem-terra, tambm encon-
travam-se desrovidos de meios de trabalho pelas atividades exercidas
anteriormente.4
A pesquisa de campo realizada no local, no ano de 1992, consatou
que, das 41 famlias, nove haviam comprado o direito sobre os lotes. Esses
direitos compreendiam principalmente no s as benfeitorias realizadas,
mas tambm o direito adquirido originalmente por parte do assentado por
ter conquisado aquela rea; um direito, conforme argumentavam, adqui-
rido pelo sofrimento experimentado ao viver debaixo de lonas meses a fo.
Munidos dessa lgica, enfrentaram as lideranas do MST quando essas
procuravam meios de coibir a prtica, retirando do local os novos ocupantes.
Por outro lado, a acolhida desses, por parte de um nmero signifcativo
de agricultores assentados, deve-se ao fato de serem pessoas conhecidas
e pertencentes mesma regio. Consituem-se valores fundamentais para
essas populaes tanto as relaes previamente esabelecidas quanto as
relaes de confana dela decorrentes; por isso, h uma certa resisncia
com relao vinda de famlias de outra localidade, imbudas, conse-
qentemente, de persecivas ou referncias culturais diversas das deles.
Em parte, essa resisncia fundamenta-se no fato de que, quando
ocuparam aquelas terras, foram considerados invasores pela comunidade
local e indivduos que agiam margem da legalidade. Em virtude disso,
no possuam algo que lhes valioso: crdito nas casas de comrcio, nas
vendas, localizadas na vizinhana. Aps a efetivao do assentamento
tiveram que, a muito cuso, provar sua honesidade, at serem aceitos
no seio da comunidade local. A conquisa da confana dos agricultores
vizinhos e comerciantes locais lhes era muito cara. A vinda de desco-
nhecidos poderia colocar em risco a coeso, fragmentada e embrionria
do grupo, e, principalmente, a imagem consruda durante esses anos
perante a comunidade local.
4 Dos que compraram os direitos, cinco deles haviam exercido anteriormente a funo de arrenda-
trios; um havia sido bia-fria; um, comerciante de madeiras e carpinteiro; um outro, pequeno
proprietrio agrcola e outro, motorisa de nibus urbano. Esse ltimo continuou exercendo a
funo paralelamente atividade agrcola.
Assentamentos em debate 217
No assentamento Ireno Alves, insalado em 1997, j citado, a situao
mais grave. Alm da ocorrncia de arrendamento de terras, verifca-se
a prtica desenfreada da venda de direitos sobre os lotes. Segundo
minucioso levantamento feito no local pelo Incra, dos 940 lotes exis-
tentes, 244 encontravam-se irregulares. Desses, 38 corresondiam a
permutas irregulares, 194 foram adquiridos por meio de compra por
famlias vindas de outras localidades, cinco lotes foram comprados por
ex-benefcirios da reforma agrria provenientes de outros Projetos de
Assentamento (PA), e sete comprados por parceleiros que tinham lotes
dentro do prprio assentamento. Esses nmeros, entre outros fatores,
so reveladores da incorporao, na poca do assentamento, de famlias
desvinculadas do signifcado e sentido mesmo da reforma agrria, de-
monsrando defcincias no prprio processo de seleo dos candidatos
a parcelas de terra nesse programa.
O levantamento feito pelo Incra objetivava regularizar a situao penden-
te dos que haviam adquirido o lote por meio de compra no assentamento
Ireno Alves. Segundo informaes colhidas nesse rgo, apenas cerca de
10 famlias, das 244 que haviam adquirido terras por esse meio, no se
enquadrariam como benefcirias. Embora se trate de uma situao de
difcil soluo, com esse procedimento, que vem sendo adotado j de longa
data o de regularizar a situao dos que adentraram ao assentamento por
meios ilcitos o Esado acaba jusamente por legitimar uma prtica, que,
em ltima insncia, depe contra o processo de reforma agrria, alm,
evidentemente, de depor contra o prprio Esado, resonsvel pela poltica
de assentamentos rurais. A atual executora do Incra, Unidade Avanada
Iguau (UAI), ao ser quesionada sobre os procedimentos que seriam to-
mados por esse rgo quando situao ali insalada, resondeu:
O Ireno Alves o raio x da reforma agrria no Brasil [] Fizemos um diagnsico
no Ireno Alves e esaremos l na prxima semana levando algumas decises. Na
semana que vem eu vou l, vou fazer uma reunio, com a comunidade e vamos
ser bem claros com eles: A partir de hoje mudamos algumas regras e vocs
Dados obtidos em consulta ao documento Diagnsico do projeto de assentamento Ireno Alves
dos Santos, municpios de Rio Bonito do Iguau e Nova Laranjeiras, setembro de 2003.
Entrevisa concedida pela executora dessa unidade, no dia 19 de maro de 2004.
218 NEAD Debate 8
vo colaborar com esse processo. Porque as famlias que eso l hoje tambm
querem que pare [] ento vamos fazer um paco l com eles. Ns vamos criar
um grupo gesor dentro de cada comunidade para que essas pessoas possam
assumir, assim cada vez que algum novo vai chegar no lote ou vai vender, que
sejam consultados e que essas famlias possam orientar. Ns no vamos permi-
tir mais a venda de lotes a partir do momento que ns vamos regularizar.[]
Primeiro vamos deixar claro a nova forma, o que ns pensamos da reforma
agrria, que forma que ns queremos trabalhar e depois quem se indisor com
as determinaes do Incra ns vamos tirar. Ns vamos tirar, isso uma deciso
j discutida com os funcionrios do Incra, j com essas pessoas que tm uma
ligao com o campo, discutida j com o MST e ns precisamos dar esse resaldo
para a sociedade. Ns precisamos melhorar a imagem da reforma agrria para
com a sociedade e precisamos dizer que a reforma agrria d certo!
Infelizmente, uma queso complexa como essa no ser resolvida
apenas por meio de pacos entre assentados e gesores do Incra. Uma
vez ocorrida a regularizao dos lotes, embora saiba, reitero, tratar-se de
uma situao difcil de ser equacionada, muito provavelmente o Incra no
conseguir coibir novos casos, no s nesse assentamento, mas nos demais
assentamentos da regio. Como se sabe, de boca a boca, a notcia corre.
Os asecos apresentados anteriormente evidenciam, por parte do
rgo gesor da reforma agrria, difculdades na conduo desse processo
e no cumprimento de suas atribuies, asecos esses que se encontram,
muitas vezes, para alm do ndice de efccia de reorganizao fundiria
passveis de serem computados. Mais que isso, a atuao defcitria desse
rgo, associada a uma esranha simbiose esabelecida com o principal
movimento social de luta pela reforma agrria, tem trazido para os as-
sentamentos rurais, e para os sujeitos sociais envolvidos nesse processo,
conseqncias de matizes diversos, assunto que se abordar a seguir.
O MST e o Estado: paradoxos de
uma relao si mbi ti ca
A emergncia do MST no cenrio poltico brasileiro consitui um fenmeno
inusitado impondo, no que se refere reforma agrria, novas relaes
Assentamentos em debate 219
entre sociedade civil e Esado. Na verdade, esse processo j vem ocor-
rendo, no s no mbito esecfco da reforma agrria, mas tambm em
outros campos de atuao, principalmente com o fm da ditadura militar,
o fortalecimento da sociedade civil e os processos de modernizao que
tm sido experimentados pelo Esado brasileiro nas ltimas dcadas. No
entanto, essas mudanas, como demonsrado por Martins (2002), no
tm sido assim compreendidas ou dimensionadas pelo principal prota-
gonisa dessa causa, ou seja, pelo MST. A esse reseito, o autor, embora
reconhecendo a importncia desse movimento social mobilizando os
demandantes de terra para reforma agrria, e at mesmo atuando junto
aos assentamentos rurais (atuao essa infelizmente permeada por am-
bigidades como se ver abaixo) afrma:
[] lamentvel que haja tantas difculdades para que os movimentos sociais
e o Esado se completem nesse papel de transformao social que pode, de fato,
trazer a nossa sociedade para o mundo moderno e faz-lo como juso benefcio
para todos. Lamentvel, tambm porque ao subesimar a tese da relao din-
mica e criativa entre sociedade e Esado, trabalham com a pressuposio de que
ao Esado se ope um Esado partidrio, fccio e potencialmente outro. []
Abrem mo, assim, jusamente daquilo que so e daquilo que mais inovador
representam nessa quadra hisrica. (Martins, 2002, p.177)
Se, por um lado, no h uma compreenso, em sentido mais amplo, das
novas oportunidades abertas na relao, sobretudo de complementaridade
entre sociedade civil e Esado, por outro, no nvel microssocial, esse movi-
mento tem esabelecido uma relao simbitica, no mbito mais resrito
(ali de fato onde acontecem os processos de insalao dos assentamentos
rurais), com o principal rgo resonsvel pelos processos de reforma
agrria ou por meio da relao esabelecida com os funcionrios desse
rgo, embora no se saiba, como tenho afrmado (Brenneisen, 2002, p.233)
quais as reais motivaes para as atitudes tomadas. Ao longo desses 10 anos
realizando pesquisas no oese paranaense, tenho consatado situaes de
confito em assentamentos rurais, situaes cujo acirramento proveniente
da posura adotada pelo Incra, seno no papel de insituio, pela posura
de parte de seus funcionrios, cuja atuao, pela complexidade mesmo
220 NEAD Debate 8
desses processos sociais, acontece muito antes da efetiva insalao do
projeto de assentamento, ou seja, acontece quando ainda se trata de uma
ocupao, momento em que, via de regra, se do as defnies quanto
seleo dos benefcirios e defnies propriamente organizacionais.
Exemplo disso foi a consatao feita em pesquisa de campo da transfe-
rncia realizada pela direo do MST, mediada pelo Incra ou funcionrios
do Incra, ainda que extra-ofcialmente (pois na poca tratava-se ainda
de uma ocupao), de sete novas famlias j assentadas em outra locali-
dade para dirigirem uma Cooperativa de Produo Agropecuria (CPA)
no atual assentamento Verdum, localizado no municpio de Lindoese.
Essa transferncia se deu em decorrncia de confitos surgidos frente s
tentativas naquele local de desenvolvimento de formatos organizacio-
nais coletivisas. Com a vinda das novas famlias houve a tentativa de
expulso daqueles que haviam rompido com o projeto cooperativisa e
delimitado rea individual para si e suas famlias. A medida tomada no
sentido de salvar o empreendimento, como era de se eserar, no logrou
xito. Em vez disso, acirrou os confitos j exisentes, conduzindo, por
fm, dissoluo da CPA ante s resisncias dos agricultores da base a
um modelo organizacional avesso s suas hisrias culturais. Uma vez
dissolvida a cooperativa, novos problemas surgiram. Com a vinda das sete
novas famlias, o nmero excedia o que a rea comportava (16 famlias).
Por ocasio da insalao efetiva dos agricultores na rea, o Incra decidiu,
ento, pela realizao de uma seleo por sorteio. Um agricultor no
contemplado nas duas selees realizadas no local desabafou:
Teve duas selees e eu rodei perante o Incra, perante o movimento () Eram os
dois, o Incra fazendo o que o movimento queriaporque exise manobra dentro
de um assentamento, dentro de uma organizao e eu ca nessa, em duas selees
eu rodei, dando lugar para quem no tinha direito. A eu enfrentei! Porque o
movimento somos ns mesmos e a eles vm com as leis deles l [].
Defnies organizacionais dessa natureza, ofcialmente somente se dariam por ocasio da elaborao
do Plano de Desenvolvimento Susentvel do Assentamento (PDA). Na prtica, mesmo porque a
realidade apresenta-se mais dinmica, para alm dos planejamentos ofciais, no isso que tem
ocorrido. Os projetos tm sido defnidos de antemo ocorrendo tentativas de enquadramento de
agricultores da base, sobretudo no tocante modalidade organizacional j previamente defnida.
Assentamentos em debate 221
O enfrentamento por parte desse agricultor garantiu sua permanncia
na rea, porm outros agricultores tiveram que deixar o local. Ocuparam
seus lugares, conforme seus relatos, famlias sem direito rea, j que
vieram de outras localidades revelia deles.
Por motivaes como essas que se pode entender o porqu da resisn-
cia dos agricultores da base do movimento ao Incra e, conseqentemente,
aos representantes desse rgo, ou seja, aos funcionrios que atuam nos
assentamentos. Maria Aparecida de Moraes (2003, p.145) em pesquisa
citada anteriormente, tambm consatou posuras similares: o Incra era
viso como inimigo dos assentados jusamente pela conivncia desse rgo
com as irregularidades ali cometidas no tocante ao arrendamento de terras.
Um outro aseco tambm evidenciado em pesquisas realizadas em
assentamentos rurais, desa feita no assentamento Sep Tiaraju, localizado
no municpio de Santa Teresa do Oese (Brenneisen, 2003, p.73-74), refere-
se aos processos de seleo dos benefcirios da reforma agrria. Como
tenho assinalado, o resonsvel ofcial pelo processo de seleo o Incra,
mas na prtica tem sido a direo do MST. Nesse local, esecialmente em
decorrncia de decises organizacionais semicoletivas e tambm de uma
escolha produtiva (suinocultura), tambm j de antemo defnida para
aquele local, as 14 famlias ocupantes da rea foram minuciosamente se-
lecionadas pela coordenao regional do MST. O Incra apenas confrmou,
aps conferir se os ocupantes se enquadravam nos pr-requisitos exigidos,
permitindo, inclusive, que um menor fosse assentado, utilizando-se de
nome de terceiro. Na rea, foram ainda assentados cinco agricultores
solteiros, trs deles de uma mesma famlia, flhos de uma liderana do
MST assentada em outra localidade e, na poca, presidente da Coopera-
tiva de Comercializao e Reforma Agrria do Oese do Paran (Coara).
Alm dos asecos prprios de reproduo do clientelismo, que benefcia
a parentela, jusamente no interior de um movimento social que deveria
combater prticas dessa natureza, o conhecimento desse procedimento
(alm do quesionamento como um todo do processo de seleo ocorri-
do ali), nos levou tambm a refetir (Brenneisen, 2003, p.74) sobre quais
esariam sendo as prioridades nos processos de seleo dos benefcirios,
uma vez que, segundo dados do prprio movimento, naquele ano, exisiam
cerca de 9 mil famlias acampadas em todo o esado do Paran.
222 NEAD Debate 8
Procedimentos ilcitos, sejam por parte da direo do MST, sejam por
parte do Incra, no se limitam a esse aseco. Outros, se no ilcitos, de
credenciais democrticas duvidosas, esendem-se modalidade organi-
zacional defnida a priori para aquele local e s mudanas nas regras do
jogo ocorridas no decorrer do processo. Desa feita, a direo regional do
MST, e a direo esadual, redefniram o planejamento inicial, optando
por desinar toda a rea organizao coletiva (no mais semicoletiva
como havia sido proposo) juntamente com a insalao no local de uma
agrovila. Defniram ainda a produo (suinocultura) e passaram a exercer
presso sobre os agricultores para que se ajusassem s novas defnies.
A participao do Incra nesse processo negada pelos entrevisados no
rgo, seja por aqueles que ocupam cargos de chefa, seja por aqueles que
exercem atuao direta nos projetos de assentamentos, ocorrida somente
aps imisso de posse da rea, pelo menos ofcialmente. Porm, essa par-
ticipao reiterada pelos agricultores. Demonsrando o que afrmo, vale
aqui reproduzir o depoimento de um agricultor sobre de onde partiam
presses para que se ajusassem s novas defnies:
O Incra vinha e dava presso [] que quem no queria o coletivo dava 24h para
desocupar a rea []. Eles eram vendidos pra turma do movimento. Eles ento
vinham e colocavam todos ns contra a parede. Ns seis, no caso, ento ns seis
fcvamos na parede, meio obrigados porque eu vim pra c na realidade pra ser
50% no coletivo e 50% no individual. Da quando eu cheguei aqui era 100%!?
A afrmao de que eles eram vendidos para a turma do movimento
reveladora de asecos desse complexo quadro ou dessa simbitica relao
esabelecida entre MST e o Esado, por intermdio do organismo esatal
resonsvel pela insalao dos assentamentos rurais. Relao, como tenho
8 Essa escolha produtiva, suinocultura, deve-se s tentativas de se colocar em funcionamento um
frigorfco para abates de sunos consrudo com recursos esecfcos do Incra para esse fm e
recursos de uma ONG belga. Para que o frigorfco seja colocado em atividade, torna-se necessrio
um volume de produo que jusifque economicamente seu funcionamento. Por outro lado, os
agricultores assentados tm se recusado a essa atividade, tendo como jusifcativa a baixa rentabi-
lidade da suinocultura na atualidade. Mais que isso, sentem-se desobrigados a arcar com o nus
de planejamentos equivocados.
Assentamentos em debate 223
demonsrado, de difcil apreenso (Brenneisen, 2003, p.79-85), no sentido
de saber qual a real motivao dos agentes governamentais quando optam
por atitudes como as demonsradas. Atuao essa que, reitero, no se limita
aos funcionrios considerados subalternos, como se poderia supor, mas
atingindo gesores desse rgo. Alis, nesse caso, embora se saiba que as
defnies organizacionais, como as aludidas, partem mesmo do MST,
segundo uma liderana regional entrevisada, a proposa semicoletiva
teve origem na sugeso do executor do Incra, Unidade Avanada Paran
(UAP), sediada no municpio de Cascavel. Seja qual for a motivao real
dessas escolhas, econmicas ou ideolgicas, ou de acintosa complacncia
com o que deseja a direo do MST (esa sim, muito mais clara, para
alm de escolhas econmicas, mas poltico-ideolgicas, na busca de um
socialismo, cujos contornos so muito pouco explicitados e de controle
mesmo sobre as reas reformadas), demonsram, de qualquer maneira, o
cabal desconhecimento do universo sociocultural em que atuam, provo-
cando, com esses intentos, confitos dos mais diversos, esfacelando, como
tenho demonsrado, a j to frgil coeso social dos grupos.
No que se refere esecifcamente aos funcionrios (empreendedores
sociais) que, a partir da reesruturao do rgo denominada O novo
Incra passaram a resonsabilizar-se pela insalao dos projetos de
assentamento, torna-se necessrio situ-los nesse contexto para melhor
compreender o quadro referendado por pesquisas empricas, sucinta-
mente aqui apresentado.
Essa nova funo tcnica foi criada em 2000, portanto durante o segun-
do mandato do governo Fernando Henrique Cardoso (mais precisamente,
no dia 12 de julho de 2000, quando foi lanado, pelo governo federal, o
Programa Empreendedores Sociais). No entanto, a criao dessa nova
funo no se fez acompanhar de novas vagas ou vagas esecfcas para o
seu exerccio (por sinal, o ltimo concurso realizado por esse rgo data
224 NEAD Debate 8
do ano de 1996), tampouco exigiu-se dos candidatos o preparo adequado.
Esses foram recrutados no prprio quadro de servidores desse rgo, por
meio de um tese seletivo interno, em que o nico requisito exigido dos
candidatos, segundo informaes colhidas junto a esses tcnicos, era o
de que possussem certifcado de concluso do ensino mdio. Com esse
procedimento foram selecionados 21 servidores no esado do Paran. De
acordo com os documentos consultados,0 e entrevisas realizadas com
esses tcnicos, as atribuies dos empreendedores sociais so amplas
e corresondem ao acompanhamento do projeto de assentamento em
todas as suas fases insalao, consolidao e emancipao.
Caberia a eles a adminisrao de asecos burocrticos de insalao
do projeto de assentamento, orientao e adminisrao das linhas de cr-
dito e o trabalho propriamente poltico como elo entre o PA e a prefeitura
do municpio em que se encontram insalados os assentamentos sob sua
resonsabilidade. Segundo documentos do Incra, o empreendedor social
atuar potencializando e dando susentabilidade s aes do Minisrio
e do Incra, fazendo a articulao poltico-insitucional em nvel local,
verifcando e avaliando os fatores crticos dos projetos de assentamento
e fazendo geses para solucion-los. Ou, segundo um outro documento,
os empreendedores sociais so funcionrios do Incra treinados para o
desempenho das atividades esecfcas. Eles fomentaro a integrao das
aes do desenvolvimento agrrio nas localidades, sensibilizando e arti-
9 A Confederao Nacional dos Servidores do Incra (Cnasi) lanou recentemente um manifeso
exigindo do governo federal reesruturao dos servios e carreiras e a realizao de concurso
pblico para suprimento das vagas exisentes. Cf. Cnasi. Manifeso da Confederao Nacional dos
Servidores do Incra, Braslia, 2 de maro de 2004. Obviamente que essas contrataes devem ser
muito bem esudadas e no se aplicam indisintamente para todo o territrio nacional, devendo
ser canalizadas para regies onde efetivamente exisa a possibilidade de desapropriaes de terra
para fns de reforma agrria. Outra defnio torna-se necessria antes da referida deciso, ou seja,
a conduo da poltica de reforma agrria permanecer centralizada no mbito do governo federal
ou optar-se- pela descentralizao, dividindo resonsabilidades com esados e municpios?
10 MDA/Incra Empreendedor social. Trabalhando lado a lado, o Incra e o homem do campo vo
plantar parceria e colher cidadania. s/d.
11 Entrevisas, realizadas em julho de 2001, com trs tcnicos que exerciam a funo de empreendedor
social no Incra/Unidade Avanada Paran, municpio de Cascavel Paran.
Assentamentos em debate 225
culando insituies governamentais, no-governamentais, movimentos
sociais, rgos tcnicos e sociedade civil.
Embora os documentos afrmem que esses funcionrios so ou seriam
treinados ou que passariam por um processo de recapacitao, na prtica
isso no ocorreu ou, digamos assim, no ocorreu satisfatoriamente. No
caso dos funcionrios do Sul do pas, uma vez selecionados, passaram
por um processo de treinamento de apenas duas semanas, conforme
me informou um dos empreendedores sociais entrevisado na Escola
de Adminisrao Fazendria, localizada no municpio de Porto Alegre,
Rio Grande do Sul.
Em sntese, embora munidos de muita boa vontade, o que se consata
que esses funcionrios no eso preparados para uma funo dessa en-
vergadura, funo que demanda sobretudo conhecimentos sociolgicos,
antropolgicos e polticos. Nessa condio, encontram-se frente a uma
realidade que se impe e exige encaminhamentos e solues imediatas.
Encontram-se, ainda, encurralados face a uma legislao que precisam
cumprir, morosidade dos processos burocrticos, s presses do MST, s
demandas dos agricultores assentados (que nem sempre, miser ressaltar,
so as mesmas demandas das lideranas locais ou da direo do MST)
e, tambm, frente difcil tarefa poltica de negociar com as prefeituras
municipais, muitas delas tomadas pela prtica do clientelismo incrusada
hisoricamente na cultura poltica brasileira, sobretudo nos rinces da socie-
dade brasileira, alm de avessas insalao de assentamentos em sua rea
de abrangncia, jusamente pela perda de poder poltico que isso representa.
Enfm, esses funcionrios encontram-se frente a uma realidade com-
plexa, possuindo pouco aporte terico e tcnico para a soluo dos
problemas que surgem cotidianamente, muito alm daqueles defnidos
regimentalmente, encontrando-se, em decorrncia disso, fagrantemente
desreparados para o exerccio dessa funo, tornando-se, muitas vezes,
refns da direo do movimento ou das lideranas locais. O exemplo mais
evidente disso so os atos irregulares ou ilcitos que ocorrem nos assenta-
mentos rurais, muitas vezes com a conivncia dos agentes governamentais
(no somente dos empreendedores sociais, diga-se de passagem), como a
venda de lotes, troca de lotes entre benefcirios de assentamentos dife-
rentes ou, at mesmo, a utilizao de nome de terceiros para a insalao
226 NEAD Debate 8
de um benefcirio em um assentamento rural por presso das lideranas
do MST, j que esse benefcirio era menor de idade, como consatado
em pesquisa de campo.
Para esses tcnicos, o que importava era o que consava ofcialmente,
embora soubessem tratar-se de ato absolutamente irregular. Poseriormen-
te, esse mesmo menor comercializou seu lote, ocupando o local um parente
de outros assentados, possuidor de um pequeno stio em seu nome, embora
tenha afrmado j t-lo vendido. Sendo esse um aseco impeditivo para
a regularizao, a esratgia ento utilizada esava sendo a de negociar
com o Incra para que ofcialmente o lote fcasse no nome de um genro
que morava nas redondezas. Mesmo tratando-se de casos isolados, so
situaes que depem contra o projeto de reforma agrria, contra o prprio
MST e contra o Esado, resonsvel legal pelos projetos de assentamento.
So fatos que no escapam aos olhos da comunidade local, dos
agricultores vizinhos que, como pude consatar em pesquisa de campo,
com razo quesionam fatos dessa natureza. Esses funcionrios, alm
de adminisrarem uma realidade que se impe sem o aporte tcnico
necessrio, muitas vezes, em razo de acertos ou acordos de basido-
res feitos anteriormente, por outros agentes governamentais, no raras
vezes ocupando cargo de chefa nesse rgo, comportamento portanto
muito prprio das relaes personalizadas e da lgica clientelisa nas
suas mais diversas variaes (como a troca de favores entre dirigentes
governamentais e dirigentes do MST) quando chegam aos projetos de
assentamento, j encontram uma realidade esabelecida e irregularidades
insaladas, sem, contudo, possurem meios para dirimi-las. Diante de uma
realidade dessa natureza, j esabelecida, um dos tcnicos entrevisados,
quando perguntado qual sua atitude diante disso, assim se expressou: J
es feito, no ? Fazer o qu!?.
Ainda que se compreendam asecos como o de prazos e de opera-
cionalizao de uma pesquisa dessa envergadura, como foi A Qualidade
dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira, o conhecimento desses
fatos aqui apontados, os quais foram proporcionados pela invesigao
cientfca pautada por esudos microssociolgicos, muito provavelmente
teria levado os autores a ponderar sobre a utilizao dos empreendedores
sociais para o levantamento de dados, ainda que usando de precaues
Assentamentos em debate 227
como a troca da regio de atuao do agente. A prpria utilizao dos
empreendedores sociais, portanto, representantes do Esado, j , em si,
um fato quesionvel. Se esse aseco no inviabiliza a pesquisa, poso
que es baseada em dados quantitativos, por certo, podem colocar sob
suseita a confabilidade dos dados coletados. Alm disso, foram os
prprios empreendedores sociais que indicaram os demais entrevisados,
presidentes de associaes e lderes comunitrios que no esivessem
ocupando cargos dessa natureza por ocasio da pesquisa de campo. Rece-
bendo indicao dos empreendedores sociais, e sabedora das imbricadas
relaes que se esabelecem no interior de determinados assentamentos,
cujas divergncias no so apenas conceituais, esse no me pareceu um
procedimento correto, pois nada garante que os indicados representem de
fato a base do MST, ou seja, nada garante que os entrevisados foram de
fato pessoas no comprometidas com as lideranas formais dos projetos,
aseco pretendido pela pesquisa. Fica, ainda, uma ltima observao:
as funes para as quais os empreendedores sociais foram contratados
no incluem levantamento de dados para pesquisa cientfca, assim se
sujeitam, obviamente, porque as ordens vieram de Braslia.
ndi ces de arti culao de organi zao
social e de quali dade de vi da
Os dados relativos ao ndice de articulao de organizao social indica-
ram uma organizao maior no que se refere s aes reivindicatrias, e
menor no que se refere realizao de parcerias para se obter benefcios.
Foram tambm pouco signifcativas no que se refere produo coletiva
e participao em cooperativas, consatando-se, por fm, que as famlias,
de uma maneira geral, optam pela produo individual (Sparovek et alii,
2003, p.106-110). Ou seja, os dados indicaram aos autores pequena par-
ticipao dos assentados em cooperativas e a pequena parte da rea dos
projetos desinada produo coletiva (Sparovek et alii, 2003, p. 177),
levando-os a recomendarem, com o objetivo de melhorar a qualidade
de vida nos assentamentos, o incentivo a aes cooperativas e de apoio
produo. Mesmo tendo esecifcado quais seriam esses incentivos,
como crditos esecfcos, campanhas de esclarecimento, cursos de
228 NEAD Debate 8
capacitao gerencial, fortalecimento da assisncia tcnica e social nos
assentamentos e priorizao de parcerias locais (Sparovek et alii, 2003,
p. 178), assim colocado, no esclarecendo o que entendem por aes
cooperativas vinculadas observao feita de que apenas pequena parte
da rea desinada produo coletiva, ou seja, sem mais informaes
sobre a maneira como se poderia dar esse incentivo, poderia induzir a
equvocos por parte dos agentes de mediao envolvidos (seja do Incra,
seja do MST). Poderia, inclusive, levar at mesmo legitimao da
posura que vem sendo adotada por eles, de coao mesmo, para que
os agricultores assentados se sujeitem a uma organizao em formatos
coletivisas (fundamentados, portanto, na posse coletiva da terra), como
as defnidas e implantadas em diversos assentamentos rurais.
O desconhecimento da cultura do homem do campo, da diversidade
hisrico-cultural dese pas, de conhecimentos antropolgicos e sociol-
gicos mnimos, associados a uma posura autoritria, tem levado a uma
sucesso de equvocos, que, mais do que no levarem a cabo o formato
organizacional pretendido, provocam, nos locais em que se do essas ten-
tativas, enfrentamentos e cises das mais diversas ordens, impossibilitando
ou difcultando qualquer tipo de organizao associativisa nesses locais.
No assentamento Verdum, em decorrncia do ocorrido, formaram-se no
local dois grupos: os de dentro e os de fora. No assentamento Sep
Tiaraju, em decorrncia dos embates aludidos anteriormente, formaram-se
tambm dois grupos, os vinculados ao MST (isso nem sempre por moti-
vaes poltico-ideolgicas, mas por dbito poltico e de lealdade, como
apontado na pesquisa) e os que romperam com as lideranas do MST.
Poder-se-ia pensar que esses fatos se deram numa outra poca, mais
precisamente na dcada de 90, quando o MST optou pelos formatos or-
ganizacionais coletivizados, com nfase para a formao de cooperativas
de produo agropecuria, desenvolvidas largamente nesses anos. No
entanto, no momento em que escrevo essas linhas, abril de 2004, novos
confitos pelas mesmas motivaes eso sendo fomentados na ocupao
da fazenda Araupel, localizada na regio centro-oese do Paran. Como
tenho observado por pesquisas realizadas, as defnies organizacionais
para os assentamentos rurais ocorrem muito antes da desapropriao
defnitiva da terra (ou da aquisio da rea por meio de compra como
Assentamentos em debate 229
o caso de parte da Araupel, cuja rea, corresondendo a 25 mil hecares,
encontra-se em processo de negociao junto ao Incra) quando a di-
reo do MST (com a participao do Incra), em conformidade com os
referenciais poltico-ideolgicos que tm pautado as aes desse movi-
mento, opta por desenvolver, nesses locais, experincias-modelo, diga-se
de passagem, desvinculadas do contexto sociocultural dos sujeitos sociais
para os quais os projetos so elaborados, e revelia dos seus desejos e
expecativas quando aderiram luta pela terra.
Nesse local, a pretenso do governo Lula e do MST a de desenvolver
uma experincia-modelo de assentamento rural, diferente, portanto, segun-
do eles, das experincias anteriores, caracerizadas pela baixa qualidade
dos assentamentos insalados. Essa experincia-modelo, embora no
apresentando ainda contornos muito bem defnidos, envolveria asecos
organizacionais, ambientais e de qualidade de vida. As defnies quanto
aos asecos organizacionais comeam a se delinear.
Segundo informaes colhidas com lideranas locais e chefa do
Incra/Unidade Avanada Iguau (UAI), no primeiro ano de insalao
do assentamento as famlias trabalhariam de forma coletiva, no haveria
fracionamento da rea, cuja produo seria desinada ao atendimento
do Programa Fome Zero do governo federal. Esse perodo desinar-se-ia,
principalmente, ao ajusamento das famlias a uma modalidade orga-
nizacional pretendida para aquele local, ou seja, a de uma organizao
semicoletiva, acompanhada da formao de pequenos grupos consitudos,
cada um deles, por 10 famlias (processo que es sendo chamando de
formao de agrovilas), cabendo a cada famlia uma parte pequena da
12 A compra de 2 mil hecares da fazenda Araupel chegou a ser anunciada pelo Incra, mas dois
quesionamentos fzeram com que as transaes fossem posergadas: a) o preo a ser pago pela
rea no valor de R$ 132 milhes, considerado oneroso aos cofres do Esado, uma vez que o cuso
de cada famlia assentada fcaria em torno de R$ 80 mil; b) a necessidade de realizao de novos
esudos de impaco ambiental, requerido pela Rede ONG da Mata Atlntica. Essa organizao,
inclusive, reivindica a no-implantao de assentamentos em reas remanescentes de Mata Atlntica.
De acordo com o Atlas dos Remanescentes Floresais da Mata Atlntica, os dois assentamentos
j realizados em rea da Araupel, o Ireno Alves e Marcos Freire, foram resonsveis pelo desma-
tamento de 20 mil hecares de vegetao primria.
13 Entrevisa concedida pela atual executora dessa unidade, no dia 19 de maro de 2004.
230 NEAD Debate 8
rea, corresondendo aproximadamente a um hecare, sendo o resante
da rea desinado organizao coletiva.
Discordando da posura at ento adotada pelo MST, denominada
por eles de autoritria, sobretudo no que se refere maneira como es
sendo defnida a organizao do esao e da produo (aseco que
ofcialmente seria defnido por ocasio do Plano de Desenvolvimento
Susentvel do Assentamento) naquele futuro assentamento, um grupo
de 159 famlias, das 800 que se encontram acampadas na rea denomi-
nada silo, romperam com as lideranas do MST e esalharam-se pela
rea, delimitando esao prprio individual para cada famlia, revelia
das determinaes do Incra para que permanecessem todos num mes-
mo local.4 Em visa disso, o superintendente esadual advertiu-os para
que retornassem ao silo. No tendo sido atendidos, a executora do Incra
(UAI) eseve no local e concedeu 24 horas para que retornassem ao silo,
ou deixassem a rea naquele prazo. As famlias dissidentes optaram pela
resisncia e procedimentos esavam sendo tomados junto ao governo
do esado visando expulso dessas famlias de agricultores. Sobre isso,
a executora do Incra argumenta:
A queso das pessoas que eso esalhadas pela rea uma queso basante
sria. Um grupo se desagregou durante o perodo do Carnaval. O que a gente
reconhece dentro da rea, o que o Incra reconhece em funo em que o gover-
nador tambm falou, o Requio falou na audincia pblica, e o minisro Miguel
Ros setto, ns reconhecemos o grupo que es no silo e o grupo que es na bacia
como pessoas ligadas ao MST e que eso conquisando aquela rea. Somente
esses dois grupos, os demais que eso em outra ponta da rea, inclusive na rea
que no vai ser reconhecida, ns no reconhecemos.
Esse depoimento, alm de ser um demonsrativo de que, na concepo
desses, somente so sem-terra os vinculados ao MST, vem corroborar
com as consataes que temos feito dessa esranha simbiose entre MST
e Incra, agravada no governo Lula quando as superintendncias e cargos
de executores (em detrimento dos funcionrios de carreira, o que seria
14 O nmero de famlias dissidentes do MST vem aumentando em todo o Paran. Consulte-se:
Jornal Hoje. Aumenta o nmero de dissidentes do MST no Paran. 2/03/2004.
Assentamentos em debate 231
prprio da burocracia esatal) foram concedidos aos quadros do Partido
dos Trabalhadores (PT) e representantes do MST, ou, em ltima insncia,
entre aqueles que receberam sinalizao positiva por parte do MST.
Essa esranha simbiose no se limita s relaes esabelecidas com o
Incra. Esende-se s relaes esabelecidas com o governo do Paran, que
inclui a produo de um vdeo publicitrio sobre os assentamentos rurais
insalados no esado. Face a gesos dessa natureza e da afrmao pblica
feita pelo governador poseriormente, de que o MST uma beno de
Deus, que se compreendem as motivaes da ocupao realizada pelo
MST de 14 praas de pedgio, no ms de fevereiro desse ano, quando, au-
torizada pela jusia, as concessionrias das rodovias paranaenses reajusa-
ram os valores de suas tarifas. As reivindicaes e presses do MST eram
referentes apenas ao preo de pedgio, portanto, alheias luta pela terra.
Isso nos leva a suseitar de uma mobilizao da militncia em prol da
causa que, obsinadamente, tem mobilizado o governo Requio, por sinal,
uma promessa de campanha: a encampao das rodovias paranaenses,
cuja adminisrao foi concedida a seis concessionrias por seu ante-
cessor. Se o governo Jaime Lerner se caracerizou pelas desocupaes
violentas e desnecessrias no esado do Paran, com fatos lamentveis
como abordei em pesquisas anteriores (Brenneisen, 2003, p.55-66), as
atitudes do governo Requio, disantes das atribuies de um chefe de
Esado, de lenincia e aquiescncia com os excessos cometidos, visas por
outro ngulo, no sero menos nefasas. Em decorrncia disso, muito
recentemente, foi decretada pelo Superior Tribunal de Jusia interven-
o federal no esado, caso o governador no cumprisse reintegrao de
posse de uma fazenda ocupada h sete anos. As afrmaes que aqui
fao, partem de uma compreenso de que em um Esado democrtico as
1 Consulte-se: Freire, Silvia. Neocompanheiro: Governo do PR produz vdeo pr-MST. Folha de
So Paulo. 10 de fevereiro de 2004.
1 MST/Informativos. Requio afrma que MST beno de Deus. Disonvel na pgina www.ms.
org.br/informativos, acessado em 29 de abril de 2004.
1 No se faz aqui apologia ou defesa prvia da cobrana de pedgios nas rodovias paranaenses,
tampouco es em discusso a legalidade dos contratos celebrados pelo governo Jaime Lerner,
apenas acredita-se, que decises judiciais, num Esado democrtico, devem ser cumpridas.
18 Cf. Tortato, Mari. Paran ignora ordem contra MST e STJ manda intervir. Folha de So Paulo,
20/0/2004.
232 NEAD Debate 8
decises judiciais devem ser cumpridas, logicamente de forma pacfca,
por meio de negociaes e remanejamento das famlias para outro local,
at que sejam providenciadas as condies legais para o assentamento
defnitivo dessas famlias.
Voltando ao caso da provvel expulso dos dissidentes acampados
na fazenda Araupel e adentrando um pouco mais referida esranha
simbiose esabelecida entre governo do esado, Incra e MST, reproduzo
o depoimento da executora do Incra quando perguntada sobre o que
aconteceria com as famlias que haviam rompido com o MST. H uma
discusso entre a Secretaria do Esado, o prprio MST e as entidades a
parceiras, de que eles vo ser desejados (grifo meu). No atenderam, foi
dado prazo Porque ns precisamos ter controle, n? ().
Observa-se aqui uma sofsicao nos mtodos. Fatos como esse an-
teriormente no ocorriam to facilmente, embora se tenham observado
tentativas dessa natureza. Na ocupao da fazenda Mitacor (atualmente
assentamento Antnio Tavares Pereira), ocorrida no ano de 1997, tambm
no oese do Paran, das 100 famlias selecionadas para aquele futuro
assentamento, 60 delas, no decorrer do processo, romperam com o MST
(jusamente pela determinao de se organizar naquele local uma coope-
rativa de produo agropecuria), delimitando esao prprio dentro da
rea. Houve tentativas de expulso. Porm, ante a resisncia, acabaram por
permanecer no local, nos seus lotes individuais como almejavam. O mesmo
ocorreu em relao aos agricultores dos assentamentos Verdum e Sep
Tiaraju. Inclusive, no que se refere a esse ltimo, curiosamente, o prazo con-
cedido foi o mesmo dado aos agricultores dissidentes da Araupel: 24 horas.
Assim como os agricultores da Mitacor, os dissidentes dos assentamentos
Verdum e Sep Tiaraju resisiram s presses e permaneceram na rea.
No que se refere aos agricultores da Araupel, resa apenas acompanhar
os novos acontecimentos. O certo que vivemos tempos obscuros (a
julgar pelos encaminhamentos que eso sendo dados para o equacio-
namento das divergncias apresentadas), agravados por essa esranha
relao esabelecida entre direo do MST e o governo do esado do
Paran (resonsvel legal pela desocupao de reas com reintegrao
de posse, o que no se aplica a essa queso). E tudo indica, consideran-
do o depoimento acima, caso no consigam demov-los da deciso de
Assentamentos em debate 233
separar-se do grupo, que os agricultores dissidentes acabaro, de uma
maneira ou de outra, compelidos a deixar a rea e, segundo a executora,
excludos do cadasro do Incra.
No que diz reseito formao de agrovilas acompanhadas da posse
coletiva da terra, a executora do Incra revela as motivaes, nesse caso
esecfco, para tal opo: A queso da agrovila jusamente para coibir
a venda de lotes, n? Como que voc vai vender o lote se o seu lote
coletivo? Ento isso uma forma que impediria, n?. Trata-se de uma
preocupao legtima, no entanto, o caminho escolhido no o mais
acertado para resolver defcincias do prprio rgo resonsvel pela
reforma agrria, que o de simplesmente cumprir e fazer cumprir a
legislao vigente.
Esse tem sido tambm um dos motivos pelos quais se tem protelado
a emancipao dos assentamentos, ou seja, evita-se, assim, a eseculao
imobiliria. Embora se reconhea que exise uma morosidade na liberao
dos crditos e na realizao da infra-esrutura, condies necessrias
emancipao dos assentamentos, h de se convir, que isso no ocorre
tambm por presso do MST, tanto por essas jusas motivaes, como
tambm, obviamente, do receio de perda de controle sobre os territrios,
aseco que se tem revelado crucial para os planos esratgicos do mo-
vimento. A meno a esses asecos, muitas vezes velados, demonsra a
exisncia de outras motivaes que contribuem para o baixo ndice de
qualidade nos assentamentos rurais, cuja resonsabilidade no somente
do Esado, tambm daqueles que realizam a mediao da luta pela terra
e, em esecial, do prprio MST.
nesse sentido que os ndices de qualidade de vida nos assentamentos
precisariam ser ponderados. Certamente h uma defcincia, facilmente
verifcvel quando se visitam esses locais, como difculdades de acesso,
morosidade no crdito, famlias habitando por meses sob lonas pretas.
Mas, por mais paradoxal (sobretudo ao nosso olhar urbano de classe
mdia, portanto, um olhar pautado por referncias e valores diferentes
dos das populaes rurais) que isso possa parecer, esses agricultores, nas
pesquisas que tenho realizado, diziam-se satisfeitos com a nova vida, prin-
234 NEAD Debate 8
cipalmente porque vislumbravam a possibilidade de um futuro melhor.
Utilizando-se da metodologia hisrias de vida, quando solicitava que
comparassem a vida no assentamento com suas vidas pregressas, eram
unnimes em afrmar que houve melhora signifcativa em suas vidas aps
o assentamento. Com um passado de perdas e enganos de toda sorte, dei-
xavam entrever o signifcado que esava tendo para eles o acesso terra e a
possibilidade de reconsruo da agricultura familiar, tal como almejavam.
Metodologias como as citadas permitem a verifcao de que qua-
lidade de vida tem implicaes subjetivas. Caso fosse perguntado para
esses sujeitos sociais o que seria para eles qualidade de vida, por certo,
as resosas surpreenderiam. Alm, obviamente, de moradia, renda,
acesso sade e educao, qualidade de vida, para essa populao,
ter autonomia sobre a produo e sobre seu desino, no ser coagido
a morar em agrovilas, desenvolver a agricultura familiar nos moldes
hisoricamente habituados, poder oferecer ajuda a parentes e amigos e
receb-los em suas casas quando e pelo tempo que julgarem necessrio
(o que no ocorria quando inseridos em modalidades cooperativisas,
como nas Cooperativas de Produo Agropecuria). possuir um bem
(a terra) que signifque um comeo de vida para os flhos, para que esses
no passem pelo mesmo que esses sujeitos sociais passaram nas suas
vidas de andanas em busca de terra para trabalho.
Alm dos asecos apontados, preciso ainda evitar interpretaes da
qualidade de vida nos assentamentos descoladas do contexto em que
eso situados. Assentamentos no so ilhas. As mesmas defcincias
consatadas nos assentamentos esendem-se aos demais agricultores
familiares situados nas proximidades desses assentamentos. A precria
esrada de acesso aos assentamentos a mesma precria esrada de acesso
19 Consataes semelhantes foram verifcadas em pesquisa nacional realizada recentemente (Leite
et alii. 2004). Nessa pesquisa, na qual foram considerados asecos de insero poltica e social dos
assentados, 91% dos entrevisados afrmaram que suas vidas melhoraram aps o assentamento e
8% deles acreditavam num futuro mais promissor.
Assentamentos em debate 235
dos demais agricultores familiares. A moradia dos agricultores familiares
no tambm, via de regra, melhor que a do assentado0.
Alm disso, parte dos ndices de depleo no devem somente ser
creditados inefcincia do Incra. Por exemplo, a ausncia de eletrifcao
rural pode ocorrer por morosidade nas insalaes por parte da com-
panhia fornecedora de energia aps contrato frmado, como observado
no Paran (Brenneisen, 2004). O mesmo se poderia dizer do acesso
educao e sade. So casos que dependem de outras variveis. O for-
necimento da educao bsica e fundamental, por exemplo, atribuio
das prefeituras municipais e depende da boa vontade do prefeito local.
Polticas adotadas nos ltimos anos, como as de nuclearizao das escolas
rurais ou a transferncia delas para os ncleos urbanos ese ltimo o
mais recorrente tm agravado essa situao, principalmente quando as
esradas so defcitrias ou quando os prefeitos no colocam disosio
da populao do campo, assentados ou no, veculos de boa qualidade
para o traslado dos esudantes.
Em sntese, asecos como os apontados por certo so de conhecimento
do MST e do prprio PT. No entanto, ambos no eso tendo o pudor de
fazer uso poltico-partidrio de uma pesquisa cientfca (isentando aqui
obviamente seus autores de qualquer resonsabilidade), identifcando os
assentamentos realizados anteriormente como de baixa qualidade e os que
seriam efetuados daqui para a frente como os de qualidade. Alis, o uso
poltico-partidrio da queso agrria assunto amplamente discutido por
Martins (2000; 2003c). exemplo disso, a acirrada oposio, por parte
principalmente do MST e da Comisso Pasoral da Terra (CPT), poltica
de reforma agrria do governo FHC (embora se reconhea equvocos nessa
poltica, j apontados) e, evidentemente, Lula foi amplamente benefciado
por essa oposio. Na atualidade, esse governo colhe o resultado daquilo
que ele mesmo plantou, ou seja, diante da sua total inrcia no que se refere
realizao de assentamentos rurais (com ou sem qualidade), encontra-
se encurralado pelo abril vermelho prometido por Joo Pedro Stdile,
20 J de longa data, a exisncia de uma linha de crdito esecfca para habitao para os assentados
e a ausncia de algo similar para os agricultores familiares tm sido objeto de quesionamento
por parte desses ltimos. Essa jusa e antiga reivindicao foi contemplada recentemente pelo
governo federal por meio do lanamento do Programa de Habitao Rural.
236 NEAD Debate 8
sendo contabilizadas, no ms de abril de 2004, um total de 109 ocupaes
de terras em diversos esados do territrio nacional.
Finalizo, regisrando aqui o geso desemido dos autores do livro A
Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira, colocando a
pesquisa desenvolvida por eles sob o olhar crtico de outros pesquisadores,
munidos de outras referncias e persecivas diversas de anlise. Resa
torcer para que atitudes similares de dilogo, franco e aberto, sejam pos-
sibilitadas por aqueles que realizam o importante trabalho de mediao
da luta pela terra. Certamente ganharamos todos: o Esado, o MST, a luta
pela reforma agrria e os trabalhadores rurais sem-terra, que arriscam
incessantemente suas prprias vidas na conquisa de uma exisncia mais
digna. Sairia, enfm, vitoriosa, a causa que mobiliza a todos ns a luta
por uma sociedade mais jusa e democrtica.
Bi bli ografia
Brennei sen, Eliane. Luta pela terra no Oese paranaense. Do movimento
ao assentamento: limites de um projeto coletivo de produo. So Paulo:
1994. Dissertao Mesrado em Cincias Sociais, PUC-SP.
Brennei sen, Eliane. Relaes de poder, dominao e resisncia. O
MST e os assentamentos rurais. Cascavel: Edunioese, 2002.
_______. Assentamento Sep Tiaraju: persisncias do passado, fragmen-
tos do presente. In: Martins, Jos de Souza (coord.) Travessias. A vivncia
da reforma agrria nos assentamentos. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003.
_______. Da luta pela terra luta pela vida. Entre os fragmentos do
presente e as persecivas do futuro. So Paulo: Annablume, 2004.
Caume, Davi Jos. A tessitura do assentamento de reforma agrria:
discursos e prticas insituintes de um esao agenciado pelo poder. Cam-
pinas: 2002. Tese de Doutorado em Cincias Sociais/IFCH/Unicamp.
Fao. Principais indicadores scio-econmicos da reforma agrria. Rio
de Janeiro: FAO/Pnud/Mara, 1992.
Lei te, Srgio et al. Impacos dos assentamentos. Um esudo sobre o
meio rural brasileiro. So Paulo: Ed. Unes, 2004.
Magalhes, Snia. Direitos e projetos: uma leitura sobre a im-
plantao de assentamentos no Sudese do Par. In: Marti ns, Jos de
Assentamentos em debate 237
Souza (coord.) Travessias. A vivncia da reforma agrria nos assentamentos.
Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003.
Medei ros, Leonilde; Lei te, Srgio (orgs.) A formao dos as-
sentamentos rurais no Brasil. Processos e polticas pblicas. Porto Alegre:
Ed. UFRGS, 1999.
Medei ros, Leonilde et al. Assentamentos rurais, uma viso multi-
disciplinar. So Paulo: Ed. Unes, 1994.
Marti ns, Jos de Souza. Reforma agrria. O impossvel dilogo. So
Paulo: Edus, 2000.
_______. A sociedade visa do abismo. Novos esudos sobre excluso,
pobreza e classes sociais. Petrpolis: Ed. Vozes, 2002.
_______. Souza, Jos de (coord.) Travessias. A vivncia da reforma
agrria nos assentamentos. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003 a.
_______. O sujeito oculto. Ordem e transgresso na reforma agrria.
Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003 b.
_______. A reforma agrria no segundo mandato de Fernando Hen-
rique Cardoso. In: Tempo social. Revisa de Sociologia da USP, So Paulo,
v.15, n.2, p.141-175, nov. 2003.
Navarro, Zander. Assentamentos rurais, formatos organizacionais
e desempenho produtivo: o caso do assentamento Nova Ramada. Anpocs,
outubro de 1994.
Romei ro, Adhemar et al. Reforma agrria: produo, emprego e renda,
o relatrio da FAO em debate. Rio de Janeiro: Vozes/Ibase/FAO, 1994.
Silva, Maria Aparecida de Moraes. Assentamento Bela Visa, a peleja
para fcar na terra. In: Martins, Jos de Souza (coord.) Travessias. A vivn-
cia da reforma agrria nos assentamentos. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003.
Souza, Maria Antnia de. As formas organizacionais de produo
em assentamentos rurais do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem
Terra MST. Campinas: Faculdade de Educao. Unicamp, 1999. Tese
de doutorado.
Sparovek, Gerd (org.) A Qualidade dos assentamentos da reforma
agrria brasileira. So Paulo: Pginas & Letras Editora, 2003.
Perei ra, Jos Roberto. De camponeses a membros do MST: os novos
produtores rurais e sua organizao social. Braslia: UnB/Programa de
Ps-Graduao em Sociologia, 2000. Tese de doutorado.
Comentrios dos autores de
A Qualidade dos Assentamentos
da Reforma Agrria Brasileira
3
Assentamentos em debate 239
3. 1 Os comentri os: organi zao e apresentao
O
s comentrios sobre as contribuies dos colaboradores no foram
organizados com a inteno de defender A Qualidade dos Assenta-
mentos da Reforma Agrria Brasileira. Procuramos o mais que a nossa
razo permitiu no apresentar juzo de valor em relao aos pontos
positivos, negativos ou complementaes sugeridas. Cada ponto refete
a opinio particular do seu autor e no cabe a ns julgar essas opinies.
No entanto, em relao a algumas crticas foram acrescentados contextos
e comentrios, mosrando a nossa viso (dos autores de A Qualidade dos
Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira).
Ressaltamos pontos importantes do conjunto das contribuies (as
colaboraes foram produzidas independentemente), possibilitando assim
sua comparao e observao agrupada. Desa observao de conjunto,
permite-se identifcao de convergncias e divergncias. Elas foram
agrupadas por temas, desmontando completamente A Qualidade dos
Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira em partes minsculas que
vo da motivao que originou a pesquisa, a qualifcao de sua equipe, o
cenrio poltico da poca, passando pelos mtodos e esratgias adotados
e forma de apresentao dos resultados. Seria como um mecnico que
desmontou um motor e es avaliando o esado de cada parafuso, biela,
retentor, cilindro, separadamente. Mas, diferente do mecnico, que ter
que montar o motor novamente de maneira exatamente igual, apenas
subsituindo as peas que no lhe agradaram, num exerccio imaginrio,
montamos a pesquisa novamente em novo formato e concepo.
Nesse exerccio, as condies de contorno foram idealizadas, no
havendo resries de oramento ou prazo, reunies entre pessoas exaus-
tas tomando decises com poucas informaes a reseito do que eso
240 NEAD Debate 8
tratando, presses de toda ordem. Essas condies provavelmente nunca
vo exisir na realidade de execuo de uma pesquisa abrangente, mas
vale o exerccio.
3. 2 Moti vao, obj eti vos e si gni fi cncia
3.2.1 Entre a confiana e a desconfiana
As inovaes metodolgicas adotadas na pesquisa A Qualidade dos As-
sentamentos da Reforma Agrria Brasileira geraram, em alguns casos, a
perseciva de abertura de novas oportunidades (confana) e, em outros,
a sensao de que as novidades vieram para moldar os resultados com
fnalidades e propsitos pr-defnidos.
Buainain e Silveira (Captulo 2.4) chegam a sugerir que os objetivos
da avaliao da qualidade dos assentamentos se confundem com o tese
de novas metodologias:
Os objetivos do esudo de Sparovek et alii (2003) se confundem, at certo ponto,
com a metodologia e insrumentos utilizados: trata-se ao mesmo tempo de um
esudo metodolgico e sobre A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria
Brasileira. (Buainain e Silveira)
Afrmam tambm que as opes metodolgicas e objetivos devem ser
considerados no contexto de cada pesquisa, no havendo um procedi-
mento ou mtodo melhor em termos absolutos:
Cada um de ns gosaria de ver contemplado, no esudo, procedimentos que
adotamos em nossas pesquisas, e no difcil ceder tentao da crtica fcil,
e apontar como defcincias o fato de o esudo no ter sido conduzido por
equipe () Todavia, nosso ponto de visa que esse tipo de crtica ajuda pouco,
at porque no h nenhuma obrigao de que cada esudo esgote o tema e ou
o examine de todos os ngulos possveis. Cada matria prioriza um aseco da
realidade e utiliza mtodos prprios de anlise. (Buainain e Silveira)
Assentamentos em debate 241
A desconfana em relao aos reais objetivos da pesquisa, a inde-
pendncia e a imparcialidade na anlise dos dados foram ressaltadas
por diversos colaboradores. Ela aparece na introduo apresentada por
Cunha et alii (Captulo 2.1) com a seguinte observao:
Nas duas ltimas dcadas, muitas pesquisas foram realizadas (Cunha et alii
citam diversos autores e obras). A Qualidade dos Assentamentos da Reforma
Agrria Brasileira, coordenada por Gerd Sparovek (2003), pretende-se inovadora
ao adotar uma metodologia de baixo cuso operacional, com uma abordagem
qualitativa, capaz de gerar informaes recentes, sisematizadas e abrangentes
sobre importantes dimenses do processo de implementao dos projetos de
assentamento, organizadas na forma de ndices () Ese artigo refete criti-
camente sobre os resultados dese empreendimento, em termos dos objetivos
explicitados e do retrato que oferecido, indicando que algumas fragilidades
tericas, conceituais e metodolgicas produzem um quadro disorcido da realidade
dos assentamentos no Brasil e da ao do poder pblico nesa rea, ocultando
os dados primrios gerados pela pesquisa e comprometendo uma iniciativa que
efetivamente pode contribuir com a refexo sobre as polticas pblicas voltadas
para resolver a queso agrria no pas. (Cunha et alii) Grifos de Sparovek.
A desconfana em relao ao posicionamento dos autores de A Quali-
dade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira aparece novamente
em Cunha et alii (Captulo 2.1) quando eles concluem um captulo que
analisa a fragilidade dos ndices sugeridos:
O debate acadmico e o campo de disuta poltica sobre o que se quer consruir,
portanto, sobre o sentido que se quer dar reforma agrria exigem que, ao se
defnir os critrios de escolha desses ndices, se esclarea o posicionamento
dessa escolha frente a esse debate. Omitir ou escamotear esse posicionamento no
garante uma hipottica neutralidade da pesquisa e no ajuda o debate avanar.
(Cunha et alii) Grifos de Sparovek.
Observao semelhante oferecida por Bergamasco e Ferrante (Ca-
ptulo 2.3), que se manifesam mais aberta e diretamente sobre a queso
nas consideraes iniciais de seu captulo:
242 NEAD Debate 8
Nese sentido, a par de algumas contribuies presentes na obra em queso,
podemos apontar contradies nos resultados apontados, que nos parecem ir na
direo de manipular dados para mosrar o sucesso do empreendimento. Afrmar,
com base nos dados apresentados, que a reforma agrria pode ser considerada
um sucesso sob o aseco da converso do latifndio improdutivo , no mnimo,
uma incoerncia, ou uma (pr)disosio para tal. (Bergamasco e Ferrante)
Grifos de Sparovek.
Na discusso das maneiras de aprofundar o debate, em sentido mais
genrico, Bergamasco e Ferrante (Captulo 2.3) observam:
De incio, um alerta. Sem a utilizao de esratgias alternativas como metodo-
logia de anlise, o objetivo de apreender a qualidade dos assentamentos corre o
risco de ser aprisionado por armadilhas que podero levar a avaliaes moldadas
por prejulgamentos. (Bergamasco e Ferrante)
Acreditamos que a queso central que alimenta a desconfana o
fato da pesquisa ter sido contratada pelo governo. Com iso, presum-
vel que possa ter havido interesse por parte do governo de interpretar
os resultados a seu favor, ressaltando os asecos positivos e ocultando
aqueles que no fossem. Seria possvel tambm presumir que ese inte-
resse fosse (ou tivesse que ser) considerado pelos autores na forma de
anlise dos dados, ou que essa abordagem tivesse passado por alguma
adaptao poserior a fm de que se enquadrasse nos interesses do gover-
no. Um julgamento objetivo dessa queso s pode ser feito por aqueles
que viveram o dia-a-dia da pesquisa, avaliao que no seria oportuna
de ser considerada nese esao. Se houve manipulao de dados, ocul-
tao de dados primrios ou disores intencionais, teriam sido muito
mal feitas. Foram sugeridos ndices integradores gerando um panorama
geral, uma visualizao nica, plsica e rpida de uma realidade muito
mais complexa e inter-relacionada da qual as variveis consideradas
para a composio dos ndices captam apenas uma parte. Confundir
ou subsituir esses ndices pela realidade (ou com as variveis isoladas e
os pesos a elas atribudas), poderia representar manipulao de dados.
Apresentar ndices mosrando claramente as variveis desagregadas e
Assentamentos em debate 243
no-ponderadas que os compem, apresentar o quesionrio utilizado
na coleta primria dos dados nos assentamentos e colocar disosio
de quem quiser o banco de dados primrio (o mesmo utilizado para a
elaborao do livro) possibilitando o (re)trabalho dos dados, validando os
nmeros ou procedendo a novas anlises, no nos parece uma esratgia
muito efciente para ser adotada por algum que queira intencionalmente
manipular dados ou resultados. Pode ter havido infelicidade na escolha
das variveis que compem os ndices, incompetncia na discusso de
seu signifcado, procedimentos imprecisos na coleta dos dados e muitas
outras defcincias, mas a manipulao intencional ou ocultao de dados
primrios (apresentando apenas dados j agregados ou ponderados) no
nos parece susentado por aquilo que veio a pblico a partir desa pesquisa
(o livro A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira e
a sua base de dados original).
Por outro lado, uma pesquisa encomendada pelo governo certamente
deve atender a seus interesses esecfcos que podem incluir rapidez de
execuo, facilidade de interpretao dos resultados por no-esecialisas,
utilidade como forma de presao de contas e aplicabilidade como fer-
ramenta de geso. Esses asecos precisam ser considerados no desenho
metodolgico e na forma de interpretao e apresentao dos resultados
por quem quer que faa o trabalho, seja ele um pesquisador acadmico
ou de uma empresa privada presadora desse tipo de servio. Atender
a essas esecifcidades no signifca que os resultados tambm tenham
sido encomendados, nem desqualifca os dados para serem utilizados
em outros contextos ou para atender a outras esecifcidades. O fato de
alguns resultados, da forma como foram apresentados, terem sido favo-
rveis posio do governo e, eventualmente, desfavorveis posio de
outros atores, no deve ser imediatamente associado manipulao de
dados ou falta de neutralidade na sua anlise. Esse juzo de valor deve
ter como fundamento no os resultados apresentados em si, mas sim a
clareza, visibilidade e abrangncia de acesso que a pesquisa oferece aos
mtodos adotados e suas bases de dados.
O carter inovador dos mtodos e procedimentos, que se por um lado
proporcionou agilidade, transarncia e viabilidade para a pesquisa, por
244 NEAD Debate 8
outro alimentou dvidas sobre preciso, aplicabilidade e consisncia.
Mattei (Captulo 2.8) sintetiza:
Porm, como todo processo que procura inovar es sujeito a alguns percalos,
o esudo em apreo tambm apresenta algumas inquietudes que gosaramos de
ressaltar em nossos comentrios, com a inteno de auxiliar no aprimoramento
de um processo analtico que tenha como objetivo aprofundar o conhecimento de
asecos cruciais dos programas de reforma agrria ainda pouco esudados. (Mattei)
3.2.2 Os objetivos norteadores
Os objetivos da pesquisa foram descritos e qualifcados de disintas ma-
neiras: Buainain e Silveira (Captulo 2.4) descrevem o cenrio do incio
do segundo semesre de 2002, poca em que se iniciou a pesquisa:
O trabalho foi contratado, em carter de emergncia, pelo MDA, visando reson-
der a uma onda de crticas veiculadas na imprensa sobre o Programa de Reforma
Agrria. As crticas atingiam a ao poltica do governo, mas atingiam tambm,
e talvez principalmente, a prpria reforma agrria. (Buainain e Silveira)
Lerrer (Captulo 2.6) vai diretamente ao mesmo ponto:
A pesquisa da Universidade de So Paulo (USP), cujos resultados comearam a
circular discretamente no incio de 2003, considerada, tambm no meio jor-
nalsico, o mais abrangente levantamento de dados realizados sobre a poltica
de assentamentos j feita no pas at hoje, mas o que a torna peculiar para esa
refexo o fato de ela ter sido provocada por um conjunto de matrias, publi-
cadas no jornal Folha de S. Paulo, em abril de 2002, que evidenciaram que os
dados que o governo usava para falar do nmero de projetos de assentamentos
eram infados. (Lerrer)
Cunha et alii (Captulo 2.1) sugerem e susentam em sua argumentao,
que os objetivos e a motivao do trabalho (que incluram a avaliao da
efcincia da ao governamental) so problemas que comprometem a
confabilidade nos resultados:
Assentamentos em debate 245
Um dos maiores problemas do trabalho coordenado por Gerd Sparovek reside
jusamente nesse ponto. Se, por um lado, h uma clara delimitao dos objetos
concretos da pesquisa (os projetos de assentamento criados em todo o Brasil no
perodo que vai de 1985 a 2001), por outro, os objetivos que nortearam o trabalho
parecem imprecisos. Ese artigo desenvolve a hiptese de que os resultados apre-
sentados (e no os dados coletados) refetem mais uma avaliao da efcincia
da ao governamental na implementao de uma poltica pblica do que uma
anlise qualitativa dos projetos de assentamento. (Cunha et alii)
Buainain e Silveira (Captulo 2.4) confrmam a percepo de que a
pesquisa preocupou-se em analisar a ao do governo:
Aqui fca evidente um ponto que de uma maneira sutil es presente em todo o
trabalho. De um lado, o objetivo avaliar a qualidade dos assentamentos, mas
de outro esse objetivo acaba sendo confundido com o de avaliar a poltica de
reforma agrria e seus insrumentos. (Buainain e Silveira)
Mattei (Captulo 2.8) tambm ressalta e qualifca a motivao e o
perodo poltico em que a pesquisa foi concebida:
A pesquisa fez uma opo metodolgica jusifcada pelos prazos e volumes de
recursos disonveis, mas tambm permeada pelos interesses do contratante (no
caso, o governo federal) () Nese caso, o esudo assume um carter implcito
de presao de contas do governo FHC, em que era necessrio mosrar so-
ciedade que efetivamente se tinha feito mais no ltimo governo que em todos
os demais governos. Mas esa apenas uma queso subjetiva que a considero
em segundo plano (Mattei)
O carter emergencial, o cenrio poltico de um ano de eleies presi-
denciais, as na poca recentes alteraes no Minisrio do Desenvol-
vimento Agrrio (MDA) inclusive com troca de minisro , a sugeso
pelo Insituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria (Incra) da
incluso na pesquisa de queses que permitissem a avaliao da efcincia
da execuo de suas aes e programas acertadamente fzeram parte do
cenrio em que os mtodos, propsitos e objetivos da pesquisa foram
246 NEAD Debate 8
delimitados. Esses elementos, no entanto, no deveriam ser utilizados
para julgar o mrito do trabalho, servem apenas para impor-lhe condies
de contorno. Seria como afrmar que todas as pesquisas encomendadas
pelo governo (usando mtodos clssicos ou inovadores) no servem para
outros propsitos seno aos interesses do prprio governo.
Ainda sobre as motivaes polticas envolvidas na pesquisa, referindo-
se agora no ao perodo de governo que a realizou (FHC) mas daquele
que a publicou e reimprimiu (Lula), Brenneisen (Captulo 2.11) afrma:
Asecos como os apontados (defcincias na qualidade dos assentamentos) por
certo so de conhecimento do MST e do prprio PT. No entanto, ambos no
eso tendo o pudor de fazer uso poltico-partidrio de uma pesquisa cientfca
(isentando aqui obviamente seus autores de qualquer resonsabilidade), identif-
cando os assentamentos realizados anteriormente como de baixa qualidade e os
que seriam efetuados daqui para a frente como os de qualidade. (Brenneisen)
3.2.3 Os significados
Alguns colaboradores ressaltaram um signifcado particular da pesquisa.
Fernandes (Captulo 2.5) ressalta a importncia da possibilidade que
A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira oferece
para esudos de territorializao:
Os dados apresentados na publicao A Qualidade dos Assentamentos da Reforma
Agrria Brasileira so uma importante contribuio para o esudo do processo
de territorializao da luta pela terra em todas as regies do pas. (Fernandes)
O papel da pesquisa agropecuria como agente e catalisador de mudan-
as nos assentamentos nem sempre reconhecido. A assisncia tcnica,
que lida com a transferncia de tecnologia, muitas vezes apontada como
tbua de salvao, como se as tecnologias exisentes fossem perfeitamente
adaptadas aos sisemas de produo adotados nas reas reformadas (ou que,
luz do conhecimento cientfco, deveriam ser adotados). Cosa Gomes
(Captulo 2.7) ressalta a importncia de A Qualidade dos Assentamentos
Assentamentos em debate 247
da Reforma Agrria Brasileira no pensar de uma abordagem da pesquisa
agropecuria voltada para a complexidade da reforma agrria:
A grande contribuio que o texto traz para a () pesquisa agropecuria() foi
a de mosrar a complexidade que exise no tratamento de temas () como ()
a reforma agrria. Um tema como ese() no pode ser viso de forma linear.
Esecifcamente para a pesquisa agropecuria, o texto evidencia o muito que
ainda h por fazer na produo de conhecimento cientfco para a viabilizao
de sisemas de produo mais susentveis, incluindo as queses ambientais, da
incluso social, da segurana alimentar, da gerao de emprego e renda, da agricul-
tura orgnica e da agroecologia, por exemplo. Nese sentido, a formatao de um
macroprograma de pesquisa esecfco para a agricultura familiar, iniciado pela
Embrapa em 2004, com certeza vai oportunizar que esse tema receba tratamento
diferenciado em relao ao que tem ocorrido hisoricamente, inclusive com a
alocao de recursos humanos e fnanceiros esecfcos. (Cosa Gomes)
3. 3 Avanos e acertos
3.3.1 O aceno para a qualidade
A base de negociao entre o governo e os movimentos sociais pautada
em nmeros (chamada tambm de guerra dos nmeros) e seus refexos
foram abordadas por Mattei (Captulo 2.8) e Meliczek (Captulo 2.10):
Ao longo da dcada de 1990, e esecialmente durante os mandatos do governo
FHC (1995-2002), o debate sobre a reforma agrria, embora extrememente denso,
fcou fortemente limitado ao horizonte quantitativo, resumindo-se quase sempre
ao nmero de famlias assentadas e ao volume de rea de terras desapropriadas.
Em grande medida, essa tendncia foi moldada pelo governo federal que dis-
seminava para a sociedade a idia de que, no Brasil, esaria sendo feita a maior
reforma agrria do mundo. () Nesse sentido, a pesquisa () se coloca como
uma alternativa aos parmetros do debate que vinha sendo travado no pas, uma
vez que apontou caminhos que podem qualifcar melhor a discusso sobre a
reforma agrria brasileira. () Avalio que a maior contribuio do esudo foi
a sisematizao de diversas informaes() focalizando suas atenes, entre
248 NEAD Debate 8
outros itens, na melhoria das condies de vida dos benefcirios da reforma
agrria, tendo em visa a inexisncia de informaes agregadas nacionalmente
sobre a efcincia das aes governamentais nesa rea, bem como sobre os
impacos das mesmas na esrutura fundiria do pas. (Mattei)
Em visa dessas informaes contraditrias (sobre nmeros e qualidade dos
assentamentos citados anteriormente) e devido falta de dados qualitativos
confveis sobre a situao real dos assentados pela reforma agrria, o presen-
te esudo uma contribuio efciente para uma anlise objetiva da reforma
agrria e suas realizaes () Enquanto o governo tem concentrado at agora
a avaliao do processo de assentamento em asecos quantitativos, o esudo
A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira se aprofunda mais
e avalia a situao socioeconmica dos benefciados pela reforma agrria. Ele
prov uma avaliao mais objetiva dos assentamentos. Formadores de polticas
devero sentir-se encorajados pelos resultados positivos dessa pesquisa para dar
continuidade e fortalecer o processo de reforma agrria no Brasil. (Meliczek)
A incluso na pauta da discusso da qualidade dos assentamentos
certamente no mrito desa pesquisa uma vez que prioridade para
os benefcirios da reforma agrria, os movimentos sociais, os pesquisa-
dores e outros segmentos da sociedade h muito tempo (principalmente
aqueles que convivem com a realidade cotidiana das reas reformadas).
Eventualmente, a deciso de criar um ttulo muito focalizado nesa ques-
to, considerado pretensioso por Fernandes (Captulo 2.5), e que ressalta
apenas um dos asecos da pesquisa (que envolveu uma avaliao da ao
operacional do Incra, uma contextualizao hisrica e temtica dos as-
sentamentos e os impacos ambientais, por exemplo) pode ter contribudo
para atrair ainda mais a ateno para a importncia da incluso desse
aseco na pauta de negociaes e no dia-a-dia das aes que procuram
viabilizar a reforma agrria no Brasil.
As observaes tm sentido se a metodologia puder comportar esses nveis de
detalhamento, considerando sua principal caracersica que conjuga amplitude
e rapidez as fzemos a partir do pretensioso ttulo da publicao A Qualidade
dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira. (Fernandes)
Assentamentos em debate 249
3.3.2 Um esudo amplo e rpido a ser detalhado
Nas consideraes fnais, Cunha et alii (Captulo 2.1) ressaltam a im-
portncia de uma base ampla de dados e, principalmente, ao fato desa
fcar disonvel, como ponto de partida para esudos mais detalhados e
precisos focando temas esecfcos:
A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira representa um
esforo importante na busca por insrumentos mais geis de diagnsico das
dinmicas sociais relacionadas poltica de assentamento de famlias de traba-
lhadores rurais sem-terra no Brasil. Esa importncia se deve, principalmente,
base de dados que a pesquisa gerou, que poder alimentar e insirar muitos
esudos sobre a problemtica e ser o passo inicial na organizao de sries his-
tricas que permitam analisar os impacos, as transformaes, avanos e recuos
desa poltica ao longo do tempo. (Cunha et alii)
A abrangncia tambm apontada por Sauer (Captulo 2.2), Bergamas-
co e Ferrante (Captulo 2.3) e Mattei (Captulo 2.8) como essencial para
a organizao do debate, evitando o risco de generalizaes indevidas
ou a desconsiderao de esecifcidade regionais:
A controvrsia disseminada na sociedade e na opinio pblica brasileira sobre
os alcances e limites da reforma agrria no Brasil demanda avaliaes abrangentes,
dados e resultados com carter nacional. Esa pesquisa censitria contribui
signifcativamente para ese debate, fornecendo um panorama abrangente dos
projetos de assentamento. (Sauer)
inegvel que uma obra desa envergadura traz obrigatoriamente contribuies
importantes ao debate da reforma agrria brasileira. () O banco de dados gerado
na pesquisa que resultou na publicao A Qualidade dos Assentamentos da Reforma
Agrria Brasileira levanta queses cruciais para serem avaliadas e repensados os
rumos dos assentamentos rurais no Brasil. No basa discutir tais expresses por
atributos de sucesso ou de fracasso. preciso dissec-las em suas diferenciaes,
expresso das enormes desigualdades que pautam a disribuio de recursos e
os modelos de produo agrcola exisentes no Brasil. (Bergamasco e Ferrante)
250 NEAD Debate 8
De modo geral, pode-se dizer que a pesquisa acabou tendo um carter quase
censitrio, no somente pela sua rea de abrangncia, mas tambm pelo elevado
nmero de variveis incorporadas () possibilitando defnir critrios de compa-
rabilidade da qualidade da reforma agrria em todo o pas. Sem dvida, essa a
principal contribuio do esudo porque ele avana por um caminho at ento
ainda pouco explorado pela literatura esecializada. (Mattei)
As persecivas abertas pelo carter expedito da metodologia empre-
gada em A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira
so tambm ressaltadas por Buainain e Silveira (Captulo 2.4), Fernandes
(Captulo 2.5) e Lerrer (Captulo 2.6):
Um dos asecos mais interessantes e inovadores da pesquisa a metodologia,
que permitiu realizar uma tarefa gigantesca em um prazo extremamente curto
e, melhor ainda, a um cuso tambm reduzido. interessante refetir sobre a
metodologia, pois a possibilidade de utiliz-la em outras pesquisas reduziria dois
problemas recorrentes na relao entre o setor pblico e o meio acadmico: o
do tempo e o do cuso. (Buainain e Silveira)
A principal vantagem dessa metodologia es na possibilidade de realizao de
uma pesquisa que conjuga amplitude e rapidez, ou seja, pesquisar em escala
nacional em um tempo breve. (Fernandes)
Sob o ponto de visa do jornalismo, que uma cincia social aplicada, o mtodo
e os procedimentos inovadores desenvolvidos para esa pesquisa so adequados
por terem se consitudo em um insrumento de levantamento gil, que radiografa
asecos mais detalhados desa poltica de modo a aferir ndices de qualidade
de vida, reordenamento fundirio, ao do Esado, nveis de organizao social
dos assentados, impacos ambientais, etc., que no tinham sido auscultados de
maneira abrangente anteriormente. (Lerrer)
Considerando que no h (e no possvel haver) a padronizao
de mtodos de pesquisa, tentar alcanar abrangncia pela somatria de
diversas pesquisas locais detalhadas ir sempre esbarrar na difculdade
(ou impossibilidade) de comparar resultados, pocas e regies disintas
Assentamentos em debate 251
sem (re)trabalho das bases originais (que pode gerar impreciso). Alm
diso, difcilmente a reunio de esforos locais e detalhados de pesquisa ir,
num dado momento, permitir a viso do todo (sempre haver reas no
cobertas ou com dados defasados). Assumindo iso, o ganho de abrangn-
cia, quando ese for necessrio, sempre vir em compromisso do detalhe.
Ser preciso escolher um ou outro. No caso da abrangncia, desejvel
haver uma certa continuidade e padronizao dos mtodos (como nos
levantamentos censitrios) para que as diversas edies sejam comparveis
e para que as variveis selecionadas para os levantamentos faam sentido
e sejam teis em toda a amplitude regional considerada. Prioriza-se assim,
agilidade, simplicidade, integrao e padronizao. O detalhe ter que ser
consrudo de outras formas, mas pode tambm se benefciar (ou intera-
gir) com a viso prvia de um panorama geral simplifcado. Entre detalhe
e abrangncia no h (ou no se deve procurar) concorrncia, um no
subsitui o outro. A busca deve ser de integrao e complementaridade.
3.3.3 Convertendo opinies em material slido
A converso de opinies, que so relativamente fceis de serem coletadas,
em ndices, que so por sua vez facilmente visualizados e compreendidos,
recebeu o seguinte comentrio de Buainain e Silveira (Captulo 2.4):
A transformao de opinies em ndices objetivos um pulo do gato, e uma vez
confrmada a consisncia do procedimento poderia alargar as possibilidades
de pesquisa na rea. (Buainain e Silveira)
Buainain e Silveira (Captulo 2.4) ressaltam ainda a importncia em se
coletar as informaes associadas a um certo nvel de certeza na resosa
(como foi feito na pesquisa):
O primeiro ponto refere-se s trs opes de resosa: quantitativa, semiquan-
titativa e qualitativa. A idia boa e tem como objetivo principal no forar
uma preciso quando o prprio entrevisado no es seguro para resonder o
quesito. (Buainain e Silveira)
252 NEAD Debate 8
Acreditamos que as possibilidades apontadas de converso de opinies
vindas de diferentes persecivas, coletadas e associadas a nveis de in-
certeza eso longe de esarem totalmente conhecidas e esgotadas. Com
certeza, facilitam a coleta de dados primrios, empresam amplitude para
a anlise ( possvel analisar persecivas e incertezas simultaneamente),
ampliando, assim, a possibilidade de mtodos e ferramentas das quais
pode-se lanar mo na anlise e interpretao dos dados. Confrontar de
maneira resonsvel e profunda essas possibilidades, comparando-as com
esudos detalhados, percepes mais concretas da realidade e com outras
abordagens metodolgicas ainda so tarefas que precisam ser feitas para
a sua validao e aprimoramento.
3.3.4 As diferenas regionais
A reforma agrria nas dimenses territoriais do Brasil e na intensidade de
sua execuo exige diferenciao territorial. Captar as variaes regionais
e desenhar mtodos que possibilitem comparaes territoriais objetivas foi
um fator essencial captado pela pesquisa. Observaes nesse sentido eso
presentes nos comentrios de Bergamasco e Ferrante (Captulo 2.3):
Em vrios desses elementos, os autores acertadamente afrmam a importncia
de serem consideradas as diferenas regionais. (Bergamasco e Ferrante)
Observao semelhante, ampliada para a coleta de diversas opinies
e cortes temporais, foi feita por Meliczek (Captulo 2.10):
O esudo utiliza muitos mtodos de pesquisa. Com relao aos asecos so-
ciais e econmicos da reforma agrria, informaes primrias so geralmente
coletadas em quesionrios preenchidos por tomadores de decises. Essas fer-
ramentas so normalmente aplicadas aos benefcirios da reforma e, s vezes,
tambm a proprietrios de terras que foram afetados pela transferncia de terras.
A equipe de pesquisa deu um passo adiante. Ela deve ser louvada por cobrir em
suas enquetes no apenas as opinies de adminisradores (agentes sociais), mas
tambm as dos benefcirios imediatos da reforma e dos lderes de associaes
nos assentamentos. Alm disso, os autores subdividiram os resultados de suas
Assentamentos em debate 253
descobertas de acordo com as regies e superintendncias regionais e com dois
perodos diferentes de tempo. Essa abordagem inclusiva amplia o mbito da
anlise. (Meliczek)
Lerrer (Captulo 2.6) ressalta a abrangncia e a diviso dos dados em
recortes territoriais representando as Unidades da Federao (UF) para
os profssionais da imprensa:
O outro aseco importante desa pesquisa seu carter nacional, por trazer
informaes detalhadas sobre alguns dos efeitos de uma poltica pblica hisori-
camente transassada por confitos e polmicas. Com dados regionais, esaduais
e nacionais, o livro d margem para pautas jornalsicas que podem ampliar o
conhecimento sobre esse aseco pouco abordado da queso agrria brasileira,
ao mesmo tempo em que evita um velho vcio da profsso que tomar o co-
nhecimento do singular e generaliz-lo com todos os preconceitos e eseretipos
possveis da decorrentes. (Lerrer)
A preocupao de cercar de maneira efciente as possibilidades de
proceder anlises territoriais e regionais deve esar presente no desenho
de levantamentos abrangentes. A incluso no banco de dados de codif-
cao precisa dos municpios onde se localizam os assentamentos e suas
coordenadas geogrfcas permite a sua integrao com outras bases (como
mapas temticos de cobertura vegetal, solos, posio de esaes de re-
gisros climatolgicas ou levantamentos censitrios). Ainda h muito por
desenvolver para aumentar a versatilidade, efcincia e possibilidade de
integrao desses tipos de levantamentos com bases geogrfcas e outras
bases de dados. No entanto, essa preocupao precisa exisir na fase ini-
cial de concepo dos mtodos de pesquisa e coleta de dados. Depois de
consolidada a base, ser muito mais difcil (e menos efciente) adapt-la
para operar anlises territoriais se ela no foi concebida para tal.
3.3.5 O acesso aos dados
Todos que j trabalharam com pesquisas abrangentes (em termos tem-
ticos e territoriais) sabem como o acesso a bases de dados difcil. Pelo
254 NEAD Debate 8
lado do pesquisador, pode haver a vontade de reter os dados at que
esejam esgotadas as possibilidades de anlise e publicaes. Pelo lado
do governo, pode haver receio em relao segurana (possibilidade de
interpretaes desfavorveis ou interferncia nas suas aes gerenciais)
ou mesmo uma tentativa de valorizao e fortalecimento insitucional
(os dados so cedidos a quem interessar computando-se dvidas em
forma de favores). Esses fatores vm muitas vezes associados falta de
documentao, organizao, ausncia ou defcincia de crtica que podem
comprometer a integridade ou a confabilidade dos regisros. Permitir
acesso irresrito base de dados imediatamente aps a publicao da sua
primeira referncia foi uma condio solicitada pelos coordenadores da
pesquisa. Esa atitude frente a dados que foram gerados com recursos
pblicos mereceu observaes. Sobre a adoo desse procedimento em
outras reas, Buainain e Silveira (Captulo 2.4) comentam:
A iniciativa da equipe de pesquisadores, de oferecer seu trabalho crtica, de
abrir de forma transarente o banco de dados (de reso pblico, pois gerado
com recursos pblicos) e de facilitar sua utilizao, elogivel e merece ser
reproduzida em outras reas () A disonibilizao dos dados para uso geral
permitir um conjunto de cruzamentos de informaes para tesar, validar ou
refutar hipteses e teses importantes sobre o comportamento dos projetos de
assentamento. (Buainain e Silveira)
3.3.6 Enfim, o meio ambiente
Apesar da rea reformada no Brasil ser equivalente ao tamanho da Ingla-
terra, o processo de criao de assentamentos prioriza regies nas quais os
recursos naturais (principalmente, os foresais) ainda eso relativamente
bem preservados e diversos biomas sensveis ou ameaados envolvidos
(Floresa Amaznica, Caatinga, Floresa Atlntica e Cerrado, como exem-
plo). Os esudos que relacionam a criao dos assentamentos com queses
ambientais so muito raros. Martins (Captulo 2.9) aponta ese aseco
de A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira:
Assentamentos em debate 255
A temtica do meio ambiente sempre eseve ausente das discusses sobre a refor-
ma agrria no Brasil. Portanto, o primeiro mrito da pesquisa A Qualidade dos
Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira foi colocar o tema como um dos
objetos de anlise. Indagar sobre as queses ambientais imanentes das unida-
des produtivas ao se esudar os assentamentos foi, sem dvida, um avano nos
conhecimentos a reseito da reforma agrria em nosso pas. (Martins)
3.3.7 A contextualizao
H dois captulos em A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria
Brasileira que procuram, mesmo que de maneira tmida e incompleta,
empresar uma moldura para os dados primrios coletados nos assenta-
mentos. Os captulos 2 (Retroseco da reforma agrria no mundo e no
Brasil, de Ranieri, S.B.L.) e 6 (Os assentamentos inseridos no contexto
nacional, de Steeg, J. et alii) so dedicados a esa fnalidade. Sobre eles,
ressaltamos os seguintes comentrios:
A publicao A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira, que
apresenta dados sobre a qualidade dos assentamentos feitos no Brasil nas duas
ltimas dcadas, traz uma contribuio muito pertinente para os profssionais
da imprensa. Em primeiro lugar porque, em sua primeira parte, o livro con-
densa informaes sobre o tema e aborda alguns dos diversos pontos de visa
exisentes no pas, tanto no debate acadmico, como no debate pblico ()
O livro contextualiza reprteres no tema, muitos deles sem conhecimento pr-
vio e mesmo experincia de trabalho sobre esse campo particular de confitos,
cosumeiramente opaco para as camadas urbanas, onde es situada a maioria
dos jornalisas. (Lerrer)
Com relao informao sobre fatores indiretos que infuenciam a qualidade
dos assentamentos de reforma agrria e que no podem ser obtidos satisfatoria-
mente por meio de quesionrios como a qualidade do solo, o clima, o acesso e
a densidade populacional os autores recorreram a fontes secundrias, como os
censos agrcolas e demogrfcos do Insituto Brasileiro de Geografa e Esatsica
(IBGE), dados do Incra e publicaes do Minisrio do Desenvolvimento Agrrio
256 NEAD Debate 8
(MDA). Assim, obtiveram sucesso em contextualizar a situao dos assentamentos
dentro da conjuntura mais ampla da situao geral. (Meliczek)
3. 4 Li mi taes e problemas
3.4.1 Omisses
Nas consideraes iniciais, Cunha et alii (Captulo 2.1) apontam omis-
so de no considerar a opinio das organizaes dos trabalhadores em
movimentos sociais:
Ao priorizar uma anlise da efcincia da ao governamental, a equipe reson-
svel pela realizao do diagnsico deixa na sombra aqueles que talvez sejam os
principais resonsveis pela formulao, defnio de prioridades e pelo ritmo
de implementao de uma poltica pblica de assentamento de trabalhadores
sem-terra no Brasil: os prprios trabalhadores organizados em movimentos
sociais. (Cunha et alii)
Esa omisso extensiva para outros segmentos nos seus nveis mais
centralizados como governo (a opinio coletada com o empreendedor
social no representa necessariamente a opinio do governo central),
setor patronal, entidades e movimentos ambientalisas, apenas para
citar alguns com interesse direto na queso agrria. Esa omisso , no
entanto, intrnseca aos objetivos e mtodos empregados. Dos objetivos,
pela preocupao ter sido retratar a realidade interna dos projetos de
assentamento. Dos mtodos, por no permitirem nos prazos e recursos
disonveis considerar as opinies dos diversos segmentos envolvidos
de forma mais abrangente.
Lerrer (Captulo 2.6) comenta omisses no Captulo 2 de A Qualidade
dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira que regisra um retros-
peco resumido da reforma agrria no Brasil e no mundo:
Tambm considero insufciente o Captulo 2, ou seja, o levantamento hisrico da
queso agrria no Brasil e no mundo. Mesmo resumido, algumas informaes
pertinentes poderiam ter sido includas. (Lerrer)
Assentamentos em debate 257
O no tratamento da queso de gnero foi apontada por Meliczek
(Captulo 2.10) como uma das omisses da pesquisa:
De acordo com a minha opinio, uma queso foi omitida. O esudo no deu a
devida ateno s queses de gnero. No fca claro, a partir do esudo, at que
ponto as mulheres se benefciaram, se tm recebido terras da reforma agrria
em seu prprio direito e se elas podem disor (vender, doar, transferir ou hi-
potecar a terra proveniente da reforma agrria). Enquanto o trabalho trata da
importante queso de conferir dignidade aos benefciados pela reforma, isso
parece aplicar-se implicitamente a todos os membros das famlias, uma anlise
do satus das mulheres, quer sejam casadas ou solteiras (divorciadas, separadas
ou vivas), parece esar faltando. (Meliczek)
Apesar de algumas das omisses apontadas terem sido intencionais,
por no ter sido considerada na poca a viabilidade de sua incluso, os
pontos elencados so todos relevantes e reforam a necessidade de esforo
no sentido de no omitir asecos importantes por difculdades de prazo
ou resries metodolgicas.
3.4.2 Escala, abrangncia e carter quantitativo
A focalizao do esudo apenas nos assentamentos e numa nica poca
impe resries de abrangncia. Na descrio dos assentamentos apre-
sentada por Sauer (Captulo 2.2), ele ressalta que:
Esa disino (do esao geogrfco do assentamento), no entanto, no signifca
isolamento das relaes sociais e polticas locais e regionais, como so tratados
os assentamentos na pesquisa em discusso. As anlises sobre a situao, ese-
cialmente sobre a susentabilidade dos projetos, devem ser feitas considerando
tambm os contextos sociais, polticos, econmicos, incluindo processos hisricos
de consituio dos projetos e de insero no seu entorno. (Sauer)
Por outro lado, esses quesionrios explicitam a ausncia de qualquer referncia
situao anterior aos assentamentos e impacos sociais, econmicos e polticos
no seu entorno. O insrumento no coletou dados para esabelecer uma base
258 NEAD Debate 8
de comparao (no h dados comparativos com o entorno, com agricultores
familiares prximos), bem como no coletou informaes para avaliar o processo
de luta que gerou os projetos de assentamento. (Sauer)
Observao semelhante apresentada por Bergamasco e Ferrante
(Captulo 2.3):
Esses indicadores, se por um lado, podem apontar resultados satisfatrios na
avaliao dos assentamentos pesquisados, por outro, podem no apreender a
diversidade e a dinamicidade dessas experincias. Da a exigncia de se buscar
captar a compreenso desse fazer-se diferenciado, sem naturalizar unidades, sem
cair em procedimentos classifcatrios ou em raciocnios empenhados em cata-
logar relaes sociais consitutivas de um processo. (Bergamasco e Ferrante)
Fernandes (Captulo 2.5) tambm aponta problemas de abrangncia
temtica e escala:
Por ser uma pesquisa predominantemente quantitativa, no aparecem as di-
ferenas dos projetos polticos em desenvolvimento. Essa uma resrio da
metodologia. Outro limite com relao escala geogrfca, pois a metodologia
no possibilita resultados confveis em escala municipal ou mesmo em escala
local (assentamento). (Fernandes)
Brenneisen (Captulo 2.11) afrma que o carter quantitativo da pes-
quisa, mesmo com sua abrangncia, impe resries que no permitem
a resosa a queses fundamentais:
No retirando os mritos e os esforos empregados pelos pesquisadores procuran-
do apresentar uma viso ampla da problemtica em queso () considero que
os mtodos adotados metodologias quantitativas de pesquisa social embora
ofeream um panorama geral da situao em que se encontram os assentamen-
tos rurais, por si s, no apresentam anlises que abarquem a complexidade da
temtica. Passa-se, assim, ao largo dos detalhes fundamentais compreenso
dos processos sociais. As caracersicas dessa modalidade de pesquisa, fun-
damentada em dados quantitativos, no leva ainda em considerao a grande
Assentamentos em debate 259
diversidade cultural do pas e os signifcados dos processos sociais para os atores
envolvidos. Em funo de seu carter amplo, no d conta, ainda, de resonder
a dois asecos fundamentais compreenso da complexidade dos processos
sociais: o como e o porqu. (Brenneisen)
Certamente os dados apresentados precisam ser complementados
com esudos detalhados do contexto hisrico, social e poltico para a sua
discusso mais aprofundada, completa e ampla, visando uma compreenso
melhor da realidade dos assentamentos. Mas ese um caminho de duas
mos: sobre esudos detalhados so imposas resries de abrangncia
que limitam a sua extrapolao. No h vantagens em considerar as
abordagens detalhadas, qualitativas e hisricas concorrentes dos m-
todos quantitativos, expeditos e insantneos. Seria melhor ressaltar os
asecos de sua complementaridade. As concluses de ambas devem ser
relativizadas e no devem extrapolar os limites imposos pelas resries
implcitas de cada uma.
3.4.3 Ausncia de uma realidade externa
Na pesquisa A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasi-
leira no foi criado um subconjunto de dados que refita uma realidade
externa (um conjunto de projetos amosrados de maneira mais detalhada)
ou um grupo de controle (agricultores familiares no benefciados pela
reforma agrria). Iso poderia ter sido feito por meio de uma pesquisa
amosral convencional. As conseqncias diso, em relao esimativa
da confabilidade (ou do seu inverso, que o erro), foram apontadas por
Buainain e Silveira (Captulo 2.4):
Esse , em nossa opinio, o principal problema metodolgico do esudo: no
apresentar nenhum parmetro para avaliar o erro das opinies. Isso poderia ser
feito por meio de uma pesquisa amosral menor, que colheria de forma mais
objetiva um subconjunto de informaes contidas no quesionrio, e as compa-
raria com as opinies qualifcadas obtidas pelo mtodo utilizado. Medir o erro
signifca avaliar a qualifcao dos entrevisados para resonder o quesionrio,
a preciso das resosas. (Buainain e Silveira)
260 NEAD Debate 8
Meliczek (Captulo 2.10) aponta tambm a necessidade da avaliao
de um grupo de controle, composo por famlias que no foram benef-
ciadas pela reforma agrria, mas que vivem em condies (agricultores
familiares) dos benefcirios. Por meio do grupo de controle, possvel
tentar isolar o efeito da interveno fundiria de outras polticas pblicas
ou processos que esejam atuando na regio.
Sem tentar diminuir a enorme quantidade de trabalho de pesquisa com a reali-
zao de 14.414 entrevisas, eu me pergunto por que no houve uma tentativa de
incluir na enquete um grupo de controle muito pequeno de famlias sem-terra
que no se benefciaram da reforma. (Meliczek)
34.4 A imparcialidade nas entrevisas
Em pesquisas de opinio, no deve haver uma relao ou vnculo es-
treito entre o entrevisado e a pessoa que coleta os dados. A opo de A
Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira foi utilizar
a esrutura logsica (carros, motorisas e pessoal de organizao) e os
empreendedores sociais do Incra para a coleta das informaes e como
fonte da opinio do governo nas entrevisas (assim o empreendedor
social assumiu o papel de entrevisador e entrevisado). Os empreende-
dores utilizados foram deslocados dos projetos sob sua resonsabilidade
(mantendo-se, no entanto, na sua regio) para a realizao das entrevisas.
A indicao dos lderes comunitrios partiu tambm dos empreendedores.
Essa esratgia foi adotada (ao invs da contratao de entrevisadores e
coordenadores externos) visando atender dois asecos importantes: prazo
e cuso. Buainain e Silveira (Captulo 2.4) comentam sobre esas decises:
Qualquer um que acompanha os assentamentos sabe que em geral exise um
esreito vnculo entre os funcionrios do Incra resonsveis pelos projetos e
os representantes das associaes. Alm disso, ao solicitar associao que
indicasse um assentado para participar da entrevisa, tambm provvel que a
indicao tenha sido de pessoa ativa na vida associativa, prxima, portanto, aos
prprios representantes da associao. At que ponto essa proximidade entre
tcnicos e representantes das associaes, e entre esses ltimos e os assentados
Assentamentos em debate 261
por eles indicados para a entrevisa, no implica tambm uma proximidade
de opinies? Ou seja, embora a idia de buscar trs fontes disintas de opinio
seja muito boa, sua aplicao deve ser cercada de alguns cuidados para evitar
os problemas j mencionados. (Buainain e Silveira)
Fernandes (Captulo 2.5) tambm quesiona a imparcialidade e a forma
de coleta das trs opinies (empreendedor social do Incra resonsvel
pelo assentamento, presidente de associao e trabalhador rural no
ligado associao) e sugere que as resosas foram semelhantes por
caracersicas intrnsecas formulao das perguntas que avaliou o
acesso a servios e no a sua qualidade:
Mesmo as famlias no vinculadas a nenhuma organizao mantm algum
tipo de identifcao com as suas proposas polticas. Portanto, colocamos em
queso a exisncia de uma tica mais neutra e individualizada de um supos-
to morador comum () Nossa hiptese que essa semelhana ocorreu no
porque os projetos das diferentes insituies so iguais, o que evidente, mas
porque a pergunta se referia apenas exisncia e no origem, funcionamento,
sufcincia e qualidade dos servios, das condies, dos equipamentos e das
infra-esruturas. (Fernandes)
Semelhante comentrio, com a sugeso de alternativas que pudesse
evitar a criao de um vis na anlise pela escolha dos entrevisados foi
apresentado por Mattei (Captulo 2.8):
A escolha dos entrevisados feita pelo esudo nos parece ser um item que, no
mnimo, deveria ser melhor discutida. () A tcnica de procurar captar vrias
opinies sobre um mesmo tema e/ou problema sempre recomendvel () No
entanto, as possibilidades de resosas diferenciadas se ampliam muito e, caso no
haja uma amosragem mais representativa, fcamos sem saber exatamente qual
o grupo de resosas refete mais adequadamente a realidade () (Mattei)
No caso do rgo executor, as entrevisas foram realizadas com empreende-
dores sociais (ES) Em Santa Catarina, consatamos que os empreendedores
sociais com os quais tivemos contato, alm de serem poucos para atender
262 NEAD Debate 8
a todos os assentamentos exisentes em Santa Catarina, ainda no esavam
preparados adequadamente para exercer a funo, desconhecendo, inclusive,
muitas queses que considero decisivas para analisar a qualidade da reforma
agrria () Entendemos que a qualidade da reforma agrria em todo o perodo
considerado poderia ter outra dimenso, do ponto de visa do rgo executor,
caso a opo metodolgica das entrevisas tivesse recado sobre outras equipes
tcnicas esecfcas das superintendncias regionais, que so as pessoas que
efetivamente executam a reforma agrria. () J do ponto de visa da opinio
dos trabalhadores, optou-se por entrevisar lideranas comunitrias indicadas
pelos empreendedores sociais. () Esse procedimento tambm uma escolha,
pois a indicao dos pseudos lderes comunitrios por parte dos ES, diminiu
muito o grau de neutralidade () porque, quase sempre, dentro dos projetos de
assentamento exise uma luta consante pela hegemonia entre o rgo executor
e as lideranas dos sem-terra. () a melhor opo teria sido a realizao ()
de amosras aleatrias dentro de cada assentamento, procurando captar toda a
diversidade exisente. (Mattei)
Meliczek (Captulo 2.10) tambm alerta para o fato dos empreende-
dores sociais do Incra terem uma tendncia de manifesar opinio com
vis favorvel posio do governo:
A colaborao dos empreendedores sociais facilitou a comunicao com os en-
trevisados pela exisncia prvia de canais de comunicao entre eses grupos.
Apesar dos empreendedores terem sido selecionados fora de suas reas de atuao,
no tendo assim contato prvio com os PA em que fzeram as entrevisas, parece
haver, pelo menos para um observador externo, dvidas sobre a sua iseno e
confabilidade de suas entrevisas uma vez que eles so funcionrios do Insituto
Nacional de Colonizao e Reforma Agrria (Incra), portanto, suposamente
mais inclinados no regisro de asecos positivos. (Meliczek)
Brenneisen (captulo 2.11) descreve a funo do empreendedor so-
cial, sua relao com os movimentos sociais e com os benefcirios dos
assentamentos. Relata tambm casos esecfcos de sua vivncia com
empreendedores sociais em suas pesquisas de campo:
Assentamentos em debate 263
Ainda que se compreendam asecos como o de prazos e de operacionalizao de
uma pesquisa dessa envergadura o conhecimento desses fatos aqui apontados,
os quais foram proporcionados pela invesigao cientfca pautada por esudos
microssociolgicos, muito provavelmente teria levado os autores a ponderar
sobre a utilizao dos empreendedores sociais para o levantamento de dados,
ainda que usando de precaues como a troca da regio de atuao do agente.
A prpria utilizao dos empreendedores sociais, portanto, representantes do
Esado, j , em si, um fato quesionvel. Se esse aseco no inviabiliza a pesquisa,
poso que es baseada em dados quantitativos, por certo, podem colocar sob
suseita a confabilidade dos dados coletados. Alm disso, foram os prprios
empreendedores sociais que indicaram os demais entrevisados, presidentes
de associaes e lderes comunitrios que no esivessem ocupando cargos
dessa natureza por ocasio da pesquisa de campo. Recebendo indicao dos
empreendedores sociais, e sabedora das imbricadas relaes que se esabelecem
no interior de determinados assentamentos, cujas divergncias no so apenas
conceituais, esse no me pareceu um procedimento correto, pois nada garante
que os indicados representem de fato a base do MST, ou seja, nada garante que
os entrevisados foram de fato pessoas no comprometidas com as lideranas
formais dos projetos, aseco pretendido pela pesquisa. Fica, ainda, uma ltima
observao: as funes para as quais os empreendedores sociais foram contratados
no incluem levantamento de dados para pesquisa cientfca, assim se sujeitam,
obviamente, porque as ordens vieram de Braslia. (Brenneisen)
No queremos esender o debate esecfco das queses apontadas,
uma vez que a deciso de utilizao dos empreendedores sociais no
foi tcnica e sim circunsancial. Optamos pela alternativa, das diversas
que foram consideradas, a maioria delas no envolveria funcionrios
do Incra na coleta de informaes. A nica deciso cabvel na poca era
encerrar o projeto como um todo ou proceder a coleta, como foi realiza-
da. A escolha pelo empreendedor social como pesquisador, pesquisado
e informante foi feita com conhecimento das implicaes que iso teria
no trabalho, em sua confabilidade e disanciamento do recomendado
em condies ideais (de prazo, qualifcao de equipes e oramento). Ao
invs de abortar a pesquisa, optamos por deixar muito claras as opes
que fzemos (sem julgamento de mrito). Cabe a quem deseja utilizar os
264 NEAD Debate 8
dados avaliar se eles so ou no confveis, teis ou dignos de comparao
com outras bases.
3. 5 ndi ces: acertos
3.5.1 Olhares mltiplos, mas objetivos
A capacidade de ndices de integrar e concentrar informaes importante
para anlises nas quais os mltiplos olhares revelam mais do que os deta-
lhes. A observao de Sauer (Captulo 2.2) reporta para esse aseco:
Um aseco metodolgico importante da pesquisa foi a opo de avaliar os
projetos utilizando ndices (e indicadores) como nveis de qualidade de vida,
de organizao social, de efccia da reorganizao fundiria e de preservao
ambiental. So elementos extremamente importantes, rompendo com a freqente
reduo da importncia (e o sucesso) dos assentamentos sua dimenso econ-
mica e produtiva (a j mencionada viabilidade econmica). (Sauer)
As concluses do trabalho refetem bem essa opo, inclusive com a consatao
de que as polticas governamentais acabam privilegiando a alocao de recursos
para a aquisio de reas (arrecadao de terras) e assentamentos de famlias
em detrimento de invesimentos em aes que contribuem para melhorar as
condies de vida ou o desenvolvimento econmico dos projetos. O resultado
desa opo um imenso passivo que difculta a vida das famlias, contribuindo
decisivamente para o baixo rendimento de muitos projetos. (Sauer)
Difcilmente esudos detalhados com a apresentao descritiva de
variveis isoladas permitiriam uma viso panormica (mesmo que su-
perfcial e enviesada pelas premissas usadas na consruo dos ndices)
que subsidiasse a anlise rpida e conjunta de um grande nmero de
variveis que devem ser consideradas nos processos de tomada de deciso
das polticas pblicas.
Os ndices sintetizam informao e deixam para um segundo plano os
detalhes. Na geso das polticas pblicas, informao essencial e deve
esar disonvel no momento em que as decises precisam ser tomadas.
Assentamentos em debate 265
A forma de apresentao deve priorizar aquela com que os gesores con-
sigam trabalhar melhor, que eventualmente difere daquela com que o
cientisa acadmico mais se identifca. Sauer (Captulo 2.2) ressalta esses
asecos dos ndices, seu poder relativo de explicao da realidade, mas
utilidade na geso pblica:
A pesquisa faz certa confuso entre uma avaliao dos assentamentos em si (sua
dinmica interna, sua capacidade de gerar renda e melhorar as condies de vida
das pessoas) e uma avaliao das prprias polticas governamentais (se assentou
o nmero de famlias que a rea comporta; se implantou escolas ou posos de
sade, etc). Prevaleceu um dos objetivos da pesquisa que era fornecer ndices
objetivos e tecnicamente jusifcados a partir dos quais a adminisrao pblica
poder vir a pautar a geso de suas polticas. (Sauer)
A integrao de informao (no caso a sua apresentao na forma
de ndices) pode tambm objetivar as discusses mais gerais, tirando o
foco dos detalhes, evitando a ruptura dos temas esecfcos com o todo.
Buainain e Silveira (Captulo 2.4) reforam esse aseco em dois trechos de
sua colaborao e Meliczek (Captulo 2.10) aponta a mesma vantagem:
Portanto, um dos pontos fortes do trabalho es em condensar, por meio de
indicadores simplifcados e sintticos de mensurao objetiva e grfcos e
mapas, um conjunto de variveis de natureza diversifcada, que refetem mui-
tos asecos das condies materiais de vida dos assentados () Desaque-se,
uma vez mais, que do nosso ponto de visa, a utilizao dos ndices a maior
contribuio do esudo. Em um debate marcado por fortes posies poltico-
ideolgico-partidrias, e alimentado por elevadas doses de wishiful thinking,
em que evidncias objetivas e at mesmo os fundamentos da lgica, s vezes,
tm escasso valor, a gerao dos ndices tem, pelo menos, o mrito, enorme,
diga-se de passagem, de organizar o debate e a refexo em torno de algo mais
objetivo. Pode-se at discordar de como os ndices foram consrudos, mas sua
publicao chama ateno para asecos cruciais da vida dos assentamentos e
es produzindo uma reao salutar para, de um lado, melhorar a metodologia
e, de outro, identifcar como possvel superar as situaes mais difceis que os
ndices revelam. (Buainain e Silveira)
266 NEAD Debate 8
Em relao ao processamento dos dados coletados, os autores usaram formas
diferentes de anlise na consruo de cinco ndices, abordando a efcincia
da organizao das terras, o padro de vida, a organizao social, a qualidade
ambiental e asecos operacionais. Esses so adequados para a avaliao da
qualidade dos assentamentos de reforma agrria. Os parmetros utilizados na
consruo desses ndices so muito amplos e cobrem a maioria das queses
importantes. (Meliczek)
A importncia de ndices para objetivar as discusses em relao
reforma agrria foi ressaltada por Mattei (Captulo 2.8):
A idia de avaliar a qualidade da reforma agrria a partir de um conjunto de
ndices extremamente salutar e um ponto relevante da pesquisa, regisre-se
novamente, uma vez que permite organizar o debate sobre a reforma agrria a
partir de novos patamares. No entanto, o risco de serem cometidos equvocos
aumenta proporcionalmente com a dimenso do esudo, fato reconhecido pelos
prprios pesquisadores. (Mattei)
3.5.2 Transarncia
A sugeso de trabalhar com ndices como meio de integrar informaes
deve sempre vir acompanhada da descrio detalhada dos critrios ado-
tados. Iso empresa credibilidade, demonsra os pressuposos adotados
e permite que o ndice seja acomodado (recalculado) a novas situaes
ou persecivas de interesse. Sobre iso, Buainain e Silveira (Captulo 2.4)
e Mattei (Captulo 2.8) comentam:
Os autores so absolutamente transarentes em relao aos fatores de ponderao
adotados e apresentam, para cada ndice, o fator de multiplicao utilizado() A
apresentao de uma breve jusifcativa dos pesos atribudos ajudaria os leitores
a melhor compreender os resultados, e em particular os efeitos de cada varivel
sobre o resultado (tratados como depleo), mas, em linhas gerais, os fatores
de ponderao eso alinhados com o senso comum e, pelo menos a ordenao,
no parece ser objeto de polmicas() (Buainain e Silveira)
Assentamentos em debate 267
Eses pesos eso explicitados na Tabela 10, pgina 51 do livro, o que revela a
transarncia dos pesquisadores quanto aos fatores de ponderao e de multi-
plicao adotados. (Mattei)
Em diversas partes do texto de A Qualidade dos Assentamentos da
Reforma Agrria Brasileira os seus autores apontaram limitaes e res-
tries que os ndices poderiam ter na sua interpretao. Cosa Gomes
(Captulo 2.7) ressalta esse aseco:
No que tange a metodologia aplicada na pesquisa em anlise, em primeiro lugar
cabe desacar que as falhas eso apontadas no prprio texto. Por exemplo ()
nas pginas 105, 126, 133 e 136 () O fato de apontar as falhas metodolgicas no
prprio texto, ajuda a enriquec-lo, ainda mais na perseciva de novos esudos,
pois, como dizia Mario Bunge, o pesquisador competente qualifca o mtodo,
recriando-o; jamais ocorrer o inverso: o bom mtodo nunca vai transformar o
pesquisador medocre num sbio pela correta aplicao das melhores tcnicas
e insrumentos de pesquisa. (Cosa Gomes)
3. 6 ndi ces: erros
A sugeso dos ndices em si, a maneira com que foram jusifcados e
as variveis que os compem receberam a ateno da maioria dos cola-
boradores e, com exceo dos comentrios favorveis apresentados no
Captulo 3.5, apontaram diversas inconsisncias e fragilidades.
3.6.1 Os ndices como opo de representao da realidade
Parte da desconfana em relao aos dados e s jusifcativas usadas para
apoiar a tese de manipulao de dados em favor do governo baseiam-se
na discusso da opo metodolgica por ndices. Cunha et alii (Captulo
2.1) ressaltam em sua introduo:
A opo esratgica de apresentar os dados na forma de ndices contribui para
alimentar a desconfana em torno da realidade revelada pelo diagnsico.
(Cunha et alii)
268 NEAD Debate 8
E concluem mais adiante:
Contrariando a crena de que os ndices sugeridos em A Qualidade dos Assenta-
mentos da Reforma Agrria Brasileira so objetivos e tecnicamente jusifcados
e que podem auxiliar a adminisrao pblica a pautar a geso de suas polti-
cas (p.3), acreditamos que eles se consituem na maior fragilidade do trabalho,
contribuindo para a consruo de imagens disorcidas e fundamentadas em
pressuposos incompletos ou simplesmente inadequados luz do conhecimento
produzido no mbito das cincias sociais nas ltimas dcadas. (Cunha et alii)
Sauer (Captulo 2.2) tambm impe limitaes intrnsecas aos ndices
como forma de retratar a realidade:
importante ter claro, no entanto, os limites e defcincias dese tipo de
levantamento.Os ndices e ponderaes resultantes do um quadro geral que
diz muito pouco sobre a realidade dos projetos em esudo. , inclusive, duvido-
so o desejo de criar ndices objetivos capazes de pautar a geso de polticas
pblicas. As diversidades regionais, e as demandas esecfcas da decorrentes
exigem polticas direcionadas, inclusive em termos da quantidade de recursos
a serem alocados nos diferentes programas. (Sauer)
Partindo de alguns pressuposos: a) a quantifcao faz necessaria-
mente parte de retratao da realidade, principalmente nos casos de
grande abrangncia (no possvel descrever e comparar com mtodos
qualitativos todos os assentamentos do Brasil); b) a quantifcao deve
ter como base slida fundamentao terica, informaes detalhadas e
qualifcadas das quais se conhecem as relaes; c) h um compromisso
entre detalhe a abrangncia. Aumentando o nmero de variveis e indi-
cadores que compem a quantifcao (via ndice, fator ou agrupamento),
mais difcil se torna levantar, criticar e disonibilizar as informaes pri-
1 A mesma resrio apresentada pela equipe para jusifcar as difculdades metodolgicas para
aferir a renda (diversidade de sisemas de produo e diferenciaes familiares e individuais)
pode ser esendida para os demais ndices e a forma diferenciada com que eses se do em cada
projeto ou em cada famlia benefciada.
Assentamentos em debate 269
mrias necessrias. Com iso, o indicador quantitativo fca mais insvel
pelas inter-relaes ou propagao de erros. Assim, h vantagens para a
abrangncia (e com grande abrangncia que a anlise quantitativa se
torna realmente necessria) em utilizar um nmero resrito de variveis
(muito bem conhecidas) para apresentar uma simplifcao da realidade.
Abaixo desa viso geral e abrangente vo esar escondidos os inmeros
detalhes. Enxergar os detalhes compromete a viso do todo, o todo s
pode ser viso se for simplifcado; d) a quantifcao pode seguir dois
caminhos: i) ndices, e nese caso, a relao com a realidade defnida
a priori por um modelo terico que parte de pressuposos ou ii) por
meio da relao esatsica das diversas variveis explicativas que podem
ser associadas a um conceito (tambm expresso a priori) que se queira
esimar. Se considerarmos um grande nmero de variveis (como o
caso do banco de dados da pesquisa A Qualidade dos Assentamentos
da Reforma Agrria Brasileira), a seleo das variveis esatsicas que
podero compor o modelo a ser tesado, parte necessariamente de um
conceito inicial (pressuposos defnidos a priori).
Nesse caso, no podemos defnir uma matriz de dados de entrada e
deixar os procedimentos de esatsica multivariada (anlises de agrupa-
mento, fatores, componentes principais, regresso) defnir a sua con-
cepo de realidade. A anlise esatsica ir apenas confrmar ou rejeitar
hipteses lanadas previamente. Assim, os pressuposos e a defnio
conceitual a priori, fazem parte das duas abordagens (ndices e esatsica).
A opo pelos ndices para quantifcao entendendo-se com iso a
simplifcao de uma realidade com base em pressuposos e fundamenta-
o terica das variveis explicativas dos principais temas que compem a
realidade que se pretende retratar apresenta a vantagem de deixar mais
claros e evidentes os pressuposos, marcos tericos e conceituais. Com iso,
amplia-se a possibilidade de sua crtica e, acima de tudo, no se permite
a possibilidade de ocultar decises atrs dos inmeros ajuses, fltragens
e transformaes de dados que so necessrios nas anlises esatsicas.
Concordamos plenamente com o fato dos ndices retratarem uma
simplifcao da realidade (que o seu objetivo) e que as sugeses apre-
sentadas no livro A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria
Brasileira eso longe de ser ideais e ainda precisam ser aprimoradas
270 NEAD Debate 8
e revisas para serem utilizadas de maneira segura e efciente como
ferramenta para tomada de decises. Vemos com cautela as afrmaes
de que os ndices no so teis na retratao da realidade (simplifcada
e padronizada) porque essa forma de tentar se aproximar dela pode ser
a nica possvel em determinados nveis de abrangncia de dados. Ela
pode tambm ser a mais acessvel para determinados servios aos quais a
pesquisa se desina. No conseguimos ver fundamentao nas afrmaes
de que os ndices sugeridos servem para alimentar desconfana sobre a
pesquisa, e que eles tenham como objetivo manipular resultados. Iso teria
resaldo se as equaes que resultaram nos ndices no fossem claramente
indicadas, os ponderadores omitidos ou se as variveis desagregadas que
os compem no fossem reveladas. Disorcer a realidade por ndices feitos
na forma de conta de chegada, ou pela ocultao de procedimentos e
bases primrias de dados, com certeza pode ser feito (as mesmas possi-
bilidades eso abertas nos mtodos esatsicos). Mas essa possibilidade
(ou a percepo de que ela j foi utilizada em outras situaes similares
de avaliao de polticas pblicas) no deve servir de argumento para
desqualifcar todas as pesquisas que utilizaram ese mtodo.
3.6.2 Os mais criticados: IF e IS
O ndice de efccia da reorganizao fundiria (IF) foi o mais criticado
e quesionado. A maioria dos colaboradores apontou defcincias, que
vo de quesionar a confabilidade da pesquisa (tendo como base a forma
sugerida para esse ndice), passando por dvidas sobre a sua imparciali-
dade, a exemplos que retratam sua fragilidade conceitual e terica. Diante
disso, evidente que h problemas na sua concepo.
Cunha et alii (Captulo 2.1) afrma que h diferenas entre o IF e
a situao global apenas confrmando dados da prpria publicao
A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira que em
seu Captulo 2 (Retroseco da reforma agrria no mundo e no Brasil, de
Ranieri, S.B.L.) contm informaes que indicam claramente a evoluo
hisria da concentrao de terras no Brasil:
Assentamentos em debate 271
A esrutura fundiria brasileira no parece passar por transformaes to
signifcativas como as que so indicadas pelos valores do ndice de efccia da
reorganizao fundiria. (Cunha et alii)
Fernandes (Captulo 2.5) apresenta a mesma observao de maneira
mais clara e problematizada:
Na verdade, o IF no avalia o sucesso da interveno do governo em alterar
a esrutura fundiria, mas sim se com a formao do assentamento, ocorreu a
otimizao da reorganizao fundiria. Como o prprio nome do ndice diz,
trata-se da reorganizao do territrio, ou poderia se chamar de reordenamento
territorial. A alterao da esrutura fundiria acontece em escalas mais amplas,
como demonsramos na parte anterior dese texto. (Fernandes)
Cosa Gomes (Captulo 2.7) argumenta no mesmo sentido:
() No que toca ao ndice de efccia da reorganizao fundiria (IF), parece
pretensioso avaliar o sucesso da interveno do governo em alterar a esrutura
fundiria apenas pelo cumprimento do potencial de ocupao da rea dos
assentamentos. Esse indicador refete to somente a situao interna dos as-
sentamentos no tendo a menor expresso como indicador para reorganizao
fundiria. (Cosa Gomes)
Mattei (Captulo 2.8) apresenta comentrio enftico:
Sobre esse ndice, esecifcamente, gosaramos de fazer trs comentrios.
O primeiro diz reseito s variveis que o compem. Na verdade, o IF, da forma
como foi consrudo, acaba sendo um mero indicador de desempenho do projeto
de assentamento, uma vez que no considera o volume de terras agricultveis
em desuso na localidade onde se encontra o PA e a porcentagem de reduo
das terras improdutivas aps as aes governamentais sobre a esrutura agrria.
Assim, se em um determinado municpio com elevada concentrao de terra, a
implantao de projetos de assentamento no provoca efeitos sobre os latifn-
dios improdutivos, do ponto de visa de reduzir os ndices de concentrao, isso
272 NEAD Debate 8
indica que apenas eso ocorrendo pequenas modifcaes e no reorganizao
e, muito menos, reforma na esrutura agrria. (Mattei)
Os dados primrios de A Qualidade dos Assentamentos da Reforma
Agrria Brasileira a partir dos quais foram calculados todos os ndices
retratam apenas os assentamentos. No foi objetivo do IF retratar a es-
trutura fundiria brasileira. Ela foi descrita, como moldura no Captulo 2
do livro (Retroseco da reforma agrria no mundo e no Brasil, Ranieri;
S.B.L.) e, nesse captulo, a anlise apresentada concorda com a afrmao
de que, em grandes nmeros, a esrutura fundiria brasileira ainda no
passou por transformaes signifcativas. No IF, a efccia da reorgani-
zao se remete evidentemente aos projetos de assentamento avaliados
(de maneira amosral basante ampla e privilegiando os projetos criados
pelo Incra) e no totalidade da situao fundiria brasileira. O nome
sugerido, se retirado do contexto das explicaes metodolgicas, pode
dar margem a esse tipo de interpretao.
Iso aparece inclusive, de certa forma, evidenciado no prprio livro
A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira. No pref-
cio do ex-minisro Jos Abro utilizada a seguinte citao: No que diz
reseito queso fundiria, o esudo afrma, em suas concluses: Sob
ese aseco (IF), a reforma agrria pode ser considerada um programa
de grande sucesso.
O IF, pelas variveis que o compem, avalia a converso do latifndio
improdutivo (ou outra categoria de origem que o imvel arrecadado
tenha) num imvel em que predomina a matriz produtiva familiar con-
forme planejada pelo governo. Seu nome completo poderia ser: ndice de
efccia da reorganizao do imvel arrecadado numa matriz fundiria
baseada em agricultura familiar conforme o projeto inicial ou reviso
do governo uma vez que seus principais componentes so: alcance da
capacidade de assentamento, exisncia de aes que indicam a rever-
so da matriz produtiva baseada em agricultura familiar (abandono ou
aglutinao de lotes, reas remanescentes no parceladas) e utilizao
plena do imvel. Na abreviao que descreve o IF de ndice de efccia
da reorganizao do imvel arrecadado numa matriz fundiria baseada
em agricultura familiar conforme o projeto inicial ou reviso do governo
Assentamentos em debate 273
fcou ndice de efccia da reorganizao fundiria. O ndice de efccia
da reorganizao do imvel arrecadado numa matriz fundiria baseada
em agricultura familiar conforme o projeto inicial ou reviso do governo
poderia (e hoje acreditamos que deveria) ter fcado ndice de reorgani-
zao do imvel arrecadado.
A reverso da elevada concentrao de terras desejvel e necessria
num plano maior (fora do alcance e objetivos do livro A Qualidade dos
Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira). A infelicidade foi do nome
e no do conceito. Isso aliado ao fato (de certa forma ineserado) de que
o valor do IF foi basante elevado, permitiu eseculaes indevidas e fez
com que, se retiradas do contexto do trabalho, as declaraes e concluses
apresentadas soassem um tom mais alto e com certa complacncia com
a posio do governo. No se deve confundir os objetivos e a posura de
quem excluiu o contexto do que es escrito no livro com a posura e os
objetivos de seus autores.
Ainda sobre o IF:
No caso do livro aqui analisado, o ndice de reorganizao apreendido pelo
movimento das famlias, pelo abandono ou no dos lotes, queses importantes
no esudo e no acompanhamento dos assentamentos que no so, em si mesmas,
representativas de persecivas de reorganizao fundiria. Ao fazermos tais res-
salvas, esamos reforando a necessidade de se discutir assentamentos nas suas
relaes com o entorno e quesionando os fatores apresentados no livro como
expresso do ndice de efccia de reorganizao fundiria. (Bergamasco e Ferrante)
Um primeiro ponto sobre o qual vale refetir se efccia da reorganizao
fundiria pode ser avaliada apenas a partir da consatao de que o latifndio
improdutivo foi redisribudo em um nmero maior de parcelas () Ou seja, do
nosso ponto de visa, um ndice de efccia da reorganizao fundiria deveria
incorporar, em alguma medida, variveis que refetissem a utilizao dos recursos
no novo regime, os resultados alcanados em termos de gerao de riqueza e
renda, e que pudessem ser comparados com uma esimativa dos rendimentos
produzidos antes da desapropriao. A disribuio, do nosso ponto de visa, no
pode ser tratada como um fm em si mesmo, mas apenas como um meio para
melhor ocupar as terras e para que as famlias benefcirias alcancem melhor
274 NEAD Debate 8
nvel de vida. Pelo menos esse o argumento para jusifcar a desapropriao das
terras consideradas improdutivas. Esse ponto es no cerne do prprio debate
sobre a reforma agrria, e o ndice de reorganizao, tal como es concebido,
refete a viso de que o objetivo da reforma disribuir as terras, e que a efccia
da reorganizao pode ser avaliada apenas pela performance redisributiva e no
pelo resultado da redisribuio. (Buainain e Silveira)
Os fatores utilizados no clculo do IF, e em todos os outros ndices,
refetem apenas a realidade dos assentamentos (todos ligados ao Incra).
As relaes desses projetos com o seu entorno, bem como com outras
variveis que assumem importncia quando o interesse esiver voltado
para a esrutura fundiria global, no eso includas no IF. Novamente
cabe a observao do nome do ndice ser retirado do seu contexto ese-
cfco utilizado no livro.
O ndice de articulao e organizao social (IS) proposo em
A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira recebeu os
seguintes comentrios relacionados a omisses, falta de embasamento
cientfco e inconsisncias tericas:
O ndice de articulao de organizao social (IS) certamente o que apresenta
maiores problemas. A composio do ndice privilegia o que muitos esudiosos
tm chamado de relaes verticais, ou seja relaes (normalmente de autori-
dade e dependncia) entre indivduos com diferentes posies sociais globais,
em detrimento das relaes horizontais de reciprocidade e cooperao entre
os prprios assentados, como meio de desenvolver a habilidade das pessoas
dentro da comunidade em trabalhar juntas para alcanar objetivos comuns e
das lideranas locais em facilitar a comunicao e o trabalho coletivo (Putnam
et alii, 1994; OBrien et alii, 1998). (Cunha et alii)
Qualquer ndice que busque informar sobre articulao e organizao social
no pode deixar de levar em conta um elemento fundamental: os processos de
tomada de deciso. (Cunha et alii)
A articulao e a organizao no deveriam visar somente busca de benefcios
sociais e servios, mas tambm a defnio prvia do compromisso e do papel
Assentamentos em debate 275
de agncias pblicas que tm interface com a reforma agrria, como o caso
da pesquisa agropecuria e da assisncia tcnica, que poderiam, de imediato,
contribuir com diversas queses, inclusive com a defnio da melhor opo
tecnolgica para o assentamento, o que determinaria a prpria rea a ser explo-
rada e sua melhor utilizao, por exemplo. (Cosa Gomes)
Sobre esse ndice (IS), possvel se fazer comentrios de diversas ordens. Em
primeiro lugar, gosaramos de relativizar essa dicotomia entre parcerias externas
e organizao interna do projeto de assentamento. Portanto, da forma como
foram ponderados os pesos das variveis na composio do IS poder ter ocorrido
uma subesimao da importncia da organizao dos agricultores. Em segundo
lugar, entendemos que as variveis que compem o IS so basante limitadas
Em terceiro lugar, o IS priorizou a participao em cooperativas e associaes e
a produo e comercializao coletiva como indicadores de organizao social.
No entanto, no procurou qualifcar que tipo de trabalho essas associaes e/ou
cooperativas desenvolvem em termos produtivos, de modo a compreender se
a organizao social dos agricultores ou no determinante para a insero
produtiva desse sujeito transformado em um novo agricultor, ao qual so co-
bradas resosas efcientes e rpidas. Ao dividir o IS em dois asecos, um ligado
busca de benefcios sociais e outro voltado obteno de benefcios para os
sisemas produtivos, e ao consatar que a organizao para o segundo aseco
foi bem menos importante, o esudo acabou consatando o bvio. Iso porque,
no horizonte em que se realizam os programas de assentamentos de agricultores,
os problemas relacionados ao atendimento de servios bsicos () sempre apa-
recero de forma prioritria, em detrimento dos asecos produtivos, os quais
os agricultores acabam resolvendo individualmente, quer por suas tradies ou
pelas suas relaes comunitrias que vo se esabelecendo, sem necessitar de
outros agentes como no primeiro caso. Na verdade, os asecos citados acabam
revelando as difculdades para se avaliar um quesito to complexo como o caso
da articulao e organizao social dos assentados. (Mattei)
A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira inovou
em considerar opinies sobre o assentamento como um todo (e no de
uma amosra de famlias que vivem no local). Fazendo isso, ganhou-se
agilidade na coleta e na anlise dos dados primrios, condio essencial
276 NEAD Debate 8
defnida pelo Incra (demandante da pesquisa) para a sua realizao.
Infelizmente, essa opo metodolgica, inviabiliza (ou torna muito im-
preciso) o regisro das queses particulares ou individuais (como perfl
familiar, migraes, renda familiar), nas quais podemos incluir as relaes
horizontais (entre os assentados) e os processos de tomada de deciso.
Novamente, o nome do ndice pode ter sido infeliz, por no representar
adequadamente a organizao social. Um nome mais adequado poderia
ter sido ndice de articulao insitucional do assentamento, por focar
predominantemente as parcerias e a forma trabalho no assentamento.
3.6.3 Omisses na qualidade de vida
A queso de qualidade de vida nos assentamentos deve levar em conta
asecos gerais e outros esecfcos das reas reformadas. O ndice de
qualidade de vida apresentado foi considerado incompleto e inadequa-
do para retratar os assentamentos devido a um vis urbano contido nas
variveis que o compe. Buainain e Silveira (Captulo 2.4) observam:
Podem-se levantar dois tipos de problemas em relao ao ndice de qualidade de
vida. O primeiro, mais srio, no levar em conta duas variveis absolutamente
fundamentais na determinao da qualidade de vida: renda e segurana alimentar
() O segundo tipo de problema refere-se a uma certa confuso entre acesso a
servios pblicos e qualidade de vida, que refete um vis urbano. Por exem-
plo, o cidado pode ter acesso a servio de sade regular (um tanto indefnido
o signifcado desse acesso) e ter uma pssima sade. Pode tambm ter acesso a
servio emergencial de sade (outra varivel de signifcado complicado) e isso
no se refetir diretamente em sua qualidade de vida cotidiana. Esecialmente no
meio rural, em assentamentos disantes dos centros urbanos, com esradas que
funcionam s parte do ano, qual o signifcado de acesso a servio emergencial
de sade? E o transorte coletivo? () Em nossa opinio, o melhor teria sido
a consruo de um ndice mais reduzido de qualidade de vida, focando algu-
mas poucas variveis relevantes e com comparabilidade com as bases de dados
mais gerais, como a Pesquisa Nacional por Amosra de Domiclios (PNAD) e
Censo Demogrfco. Isso permitiria situar a qualidade de vida dos assentados
no conjunto da populao rural do pas. (Buainain e Silveira)
Assentamentos em debate 277
3.6.4 O ndice de meio ambiente
A queso ambiental ligada reforma agrria , provavelmente, o seu aseco
mais vulnervel em relao oferta de conhecimento bsico necessrio para
a avaliao de passivos e impacos, bem como na geso das solues para o
seu equacionamento. Os marcos legais so importantes insrumentos na ges-
to dos recursos naturais. Queremos ressaltar apenas dois marcos recentes:
i) a Resoluo do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) n
o
289,
de 25 de outubro de 2001, que regulamenta o licenciamento ambiental dos
projetos de assentamento de reforma agrria, e ii) o Termo de Compromisso
de Ajusamento de Conduta (TAC) entre MDA/Incra e MMA/Ibama, de 17
de outubro de 2003, que regulamenta a execuo das regras e princpios do
licenciamento por trs anos (a partir da assinatura) e rege, inclusive, a recupe-
rao dos passivos (em termos de licenciamento) dos assentamentos antigos.
As observaes apresentadas pelos colaboradores sero discutidas
no contexto da falta de informao dos marcos legais e do crescente
quesionamento do impaco ambiental da reforma agrria:
Cunha et alii (Captulo 2.1) argumentam:
O ndice de qualidade do meio ambiente (QA) considera basicamente o esado de
conservao das reas de Preservao Permanente (APP) e de Reserva Legal (RL),
tomadas como reas de interesse prioritrio na preservao dos recursos naturais.
Ainda que seja importante saber como se encontra a conservao das APP e das
reas de reserva, esses dois elementos no so sufcientes como indicadores de
qualidade do meio ambiente, mesmo levando em conta o grande impaco dos
servios ecolgicos presados pela cobertura foresal. (Cunha et alii)
O ndice proposo para o meio ambiente considera prioritria (e no
basicamente como afrmado) a porcentagem de preservao das reas
de Preservao Permanente (APP) e Reserva Legal (RL). So tambm
contabilizadas a extrao ilegal de produtos foresais, a eroso do solo e
as aes de recuperao ambiental (entenda-se recuperao dos recursos
foresais) nos assentamentos.
Nese captulo, diferente dos demais, foram apresentadas tabelas com
variveis auxiliares (no includa na composio do ndice, mas inseridas
278 NEAD Debate 8
na discusso do tema), contendo caa e captura de animais, salinizao
do solo e rea desmatada (ilegal ou legalmente) aps a criao dos as-
sentamentos. Priorizar recursos foresais, considerando os marcos legais,
parece jusifcvel, uma vez que a exisncia de legislao esecfca (C-
digo Floresal) agiliza aes na sua recuperao. Outros asecos tambm
relevantes na qualidade ambiental dos assentamentos, mas que no so
objeto de leis esecfcas (como solos), so de geso mais difcil. Os as-
sentamentos vo ser quesionados, inicialmente, quanto ao cumprimento
da lei (exemplo do TAC) e, poseriormente, por asecos tambm (ou
mais) relevantes como susentabilidade, interferncia na biodiversidade
e eroso gentica (referente a escies cultivadas tradicionalmente).
Informaes capazes de posicionar os passivos e impacos da reforma
agrria em relao aos marcos legais exisentes nos parecem prioritrias
quando o objetivo for direcionado geso e execuo de programas de
governo. O ndice de meio ambiente procura sintetizar essa preocupao
e as informaes complementares aprofundar alguns temas correlatos,
como a reas desmatadas nos assentamentos.
Martins (Captulo 2.9) impe resries no tratamento das queses
ambientais na forma de ndices e de maneira quantitativa, sugerindo
mtodos qualitativos para as queses ligadas ao meio ambiente:
Os resultados obtidos foram preocupantes, embora as causas de tais situaes
no tenham sido devidamente explicadas, dadas as limitaes metodolgicas
da pesquisa Aplicando esse tipo de metodologia qualitativa, a riqueza da
pesquisa seria bem maior e as possibilidades de resosas s queses ambientais
exisentes nos assentamentos seriam bem mais concretas e poderiam indicar
novas medidas governamentais para retirar os assentados do processo em que,
ao produzirem seus alimentos, depois de tanta luta pela terra, acabam por re-
produzirem as relaes insusentveis entre homem e natureza, caracersica
do modelo agrcola brasileiro. (Martins)
O esudo realizado foi eminentemente quantitativo. Embora no trate de
externalidades, mas sim de ndices de qualidade ambiental, abordar as queses
ambientais de forma quantitativa um srio problema. (Martins)
Assentamentos em debate 279
3. 7 reas descobertas e necessi dade
de complementaes
As reas no cobertas e necessidades de complementao de esudos como
as apresentadas em A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria
Brasileira revelam as suas limitaes como metodologia que se mosrou
efciente para gerar um retrato dos assentamentos de maneira rpida e
de cuso relativamente baixo. As principais sugeses aparecem lisadas e
foram algumas vezes acompanhadas de comentrio dos autores do livro
sobre possibilidade de integrao com os mtodos proposos.
Nos asecos descritos na qualidade de vida Cunha et alii (Captulo
2.1) ressaltam a importncia de:
Poder-se ia dizer que imprescindvel numa pesquisa de cunho qualitativo a
contextualizao da trajetria de vida dos sujeitos, na medida em que o acesso
terra (morar e trabalhar) e aos servios sociais bsicos implica em melhoria
concreta da qualidade de vida se comparada situao anterior, em geral sem
terra, sem teto e sem trabalho. (Cunha et alii)
A trajetria de vida das famlias no pode ser apreendida por nenhuma
pesquisa que avalie os assentamentos como um todo. Uma possvel com-
plementaridade pode vir de um desenho de gerao de dados primrios
com dois quesionrios. Um deles reservado para as queses em que
possvel o regisro das informaes para o coletivo do assentamento.
Por exemplo, no necessrio percorrer todas as casas de um assenta-
mento para avaliar quantas famlias moram no projeto. Para isso, basa
perguntar a uma (ou algumas) pessoa(s) bem informada(s). O esforo
de amosragem (refetido diretamente nos cusos e no tempo da pesqui-
sa) para coletar essa informao famlia-a-famlia muito grande e no
garante maior preciso. A famlia pode esar ausente do lote na poca da
sua visita ou pode haver problemas na localizao de todas as casas, por
parte dos entrevisadores.
H vantagens e resries metodolgicas na gerao de informaes
agregadas para a totalidade dos assentamentos. Regisrar o que for pos-
svel no coletivo alivia aquilo que precisa ser levantado individualmente.
280 NEAD Debate 8
Contabilizar casas, energia eltrica, forma de acesso ao projeto, parcerias
insitucionais no coletivo evita que seja necessrio um levantamento in-
dividual (famlia-a-famlia) para inventariar a situao global do projeto,
reduzindo as perguntas a serem feitas e reservando para ese quesionrio
um menor nmero de perguntas capazes de regisrar o que limitado
pela metodologia agregada. Nessas perguntas cabem temas como traje-
tria de vida, renda, perfl familiar e situao anterior ao assentamento.
A metodologia proposa em A Qualidade dos Assentamentos da Reforma
Agrria Brasileira pode, sob esse aseco, ser considerada complementar
a esudos mais detalhados, aliviando o nmero de queses que precisam
ser resolvidas em abordagens (famlia-a-famlia), mas detalhadas. A pos-
sibilidade de integrao total, possvel trabalhar com a mesma equipe
dois quesionrios simultaneamente, um complementando o outro, um
validando (criticando) as informaes do outro. Vale lembrar que os cus-
tos logsicos so enormes em pesquisas nos assentamentos. Aproveitar o
fato de esar l essencial. Aplicar um ou dois tipos de quesionrio no
ir agregar signifcativamente cusos ou tempo pesquisa.
Quanto ao acesso s informaes coletadas, Cunha et alii (Captulo
2.1) afrmam que:
Mesmo porque os ndices que so apresentados na publicao encerram im-
portantes fragilidades, contribuindo para disorcer a realidade que se pretende
retratar. Ainda assim, o esforo j feito pode ser aperfeioado e servir de base
para futuros diagnsicos. Os dados devem ser apresentados no relatrio-sntese
agregados, mas no na forma de ndices. Esses ndices podem ser proposos em
artigos cientfcos, mas no podem ocultar o mais importante nesse trabalho,
que so as informaes coletadas. (Cunha et alii)
Em relatos como A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria
Brasileira realmente h necessidade de agregar os dados para a sua apre-
sentao. Arriscamos o palpite de que iso ser necessrio em qualquer
meio de divulgao (relatrio, livro, artigo cientfco) para trabalhos que
utilizem um banco de dados com cinco milhes de regisros, como o que
foi utilizado. A agregao, ponderao, crtica e fltragem dos dados do
chance a sua manipulao ou moldagem a certos objetivos ou expeca-
Assentamentos em debate 281
tiva de resultados pr-defnidos. A maneira de afasar essa hiptese (de
manipulao inescrupulosa) deixar absolutamente claros os critrios
utilizados na agregao, ponderao, crtica e fltragem, alm de permi-
tir acesso s bases originais. Todos esses cuidados foram tomados em
A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira inclusive
o acesso base original. Diversos grupos de pesquisa tiveram acesso
base de dados, mesmo considerando a demora do NEAD em fazer com
que esse acesso seja possvel diretamente de servidor. Atualmente, o banco
de dados completo da pesquisa es disonvel para acesso pblico na
pgina do Consrcio de Informaes Sociais (CIS), no site http://www.
nadd.prp.us.br/cis/index.asx. Nessa pgina tambm h insrues para
o acesso base.
Acreditamos que esa seja a melhor maneira de tratar dados gerados a
partir de pesquisas feitas com recursos pblicos, mesmo que iso interfra
nos interesses dos pesquisadores de manter as bases por mais tempo sob
sua anlise exclusiva ou do governo de evitar a possibilidade de crtica
por anlises das bases que no passaram por sua intermediao. Infeliz-
mente, no assim que a maioria dos pesquisadores trata as informaes
primrias nem o governo abre suas bases. O banco de dados da pesquisa
A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira, nesses
asecos, ainda es dentro das excees regra.
No aseco da utilidade da pesquisa como forma de avaliao das
polticas governamentais, Sauer (Captulo 2.2) afrma:
Resumidamente, esa preferncia no se consitui em um grave problema da
pesquisa. Uma vez assumida essa perseciva, no entanto, deveria levar a busca de
dados capazes de realmente avaliar a efccia e a efcincia das aes governamen-
tais de reforma agrria. Signifcaria incluir, ainda, outros asecos e dados como,
por exemplo, montante de recursos pblicos aplicados, formas de aplicao (em
que aes, perodos de liberao dos recursos etc), adminisrao pblica dos
projetos, grau de participao dos interessados nas decises sobre prioridades
(quais aes implementar, quando e como implementar), etc. (Sauer)
2 Os arquivos referentes s fontes do banco de dados gerados nesa pesquisa sero disonibilizados
pelo MDA por meio do NEAD (pgina 39 do livro A Qualidade dos Assentamentos da Reforma
Agrria Brasileira).
282 NEAD Debate 8
As informaes complementares apontadas podem dar uma nova di-
menso para a anlise, permitindo inferir sobre o impaco e os resultados
das disintas opes gerenciais feitas pelo governo (como, onde, quanto e
quando liberar crditos; forma, perodo e gesores dos projetos e formas
de participao dos benefcirios nas decises). Esa possibilidade, no
entanto, depende exclusivamente da forma e transarncia com que o
prprio governo trata as suas bases de dados e sisemas gerenciais.
Integrar o esao do assentamento com o seu entorno essencial para
a sua anlise sob disintos asecos. Nese sentido, Bergamasco e Ferrante
(Captulo 2.3) e Fernandes (Captulo 2.5) observam:
Igualmente, faz-se necessrio buscar as mediaes dos assentamentos com a
dinmica regional. As pesquisas voltadas qualidade dos assentamentos preci-
sam absorver sua diferenciao consitutiva, a desconsruo/reconsruo de
esratgias, os confitos internos, os laos de reconhecimento social que passam
pela reapropriao de cdigos nese novo modo de vida. Olhares internos se
imbricam a olhares externos, entendidos como a compreenso das mediaes
com o poder local e com as caracersicas regionais. (Bergamasco e Ferrante)
Se considerarmos que os resultados das pesquisas aplicadas devem servir tambm
para a implementao de polticas pblicas de desenvolvimento territorial dos
assentamentos, mesmo que em escala esadual, algumas queses deveriam ter
sido contempladas na realizao da pesquisa. Um exemplo a composio dos
membros das famlias, sexo, esado civil, faixa etria, escolaridade, analfabetismo
etc. Com relao educao, para os movimentos socioterritoriais o acesso
educao bsica no signifca apenas o acesso escola, mas principalmente
escola no assentamento e com projeto pedaggico da educao do campo
o ndice de qualidade de vida teve como elementos as condies de acesso edu-
cao, sade, moradia e infra-esrutura social. Esses so os elementos bsicos para
uma pesquisa rpida, que identifca a exisncia ou no dos servios. Todavia, se
pensarmos a utilizao dessa pesquisa para a realizao de polticas pblicas de
desenvolvimento rural, pode-se enfrentar problemas. Para o tema assentamen-
tos rurais no sufciente trabalhar somente com a exisncia dos servios, mas
tambm com a relao esaos e tempos polticos dos projetos. (Fernandes)
Assentamentos em debate 283
As preocupaes so procedentes, mas fora do alcance da abrangncia
dos mtodos empregados em A Qualidade dos Assentamentos da Reforma
Agrria Brasileira devido a queses de competncia, prazo e oramento.
O importante ressaltar que houve uma movimentao muito positiva
nesa direo capaz de revitalizar os olhares sobre os assentamentos num
futuro muito prximo. Os assentamentos foram includos como setor
censitrio nas prximas pesquisas do Censo Demogrfco, Censo Agro-
pecurio e Censo Escolar. Esse recorte ir abrir persecivas de anlise
importantes e abrangentes, expondo novas realidades e proporcionando
uma visibilidade das reas reformadas (e agora comparadas com seu en-
torno ou com os agricultores familiares no benefciados), como nunca
foi possvel. Esses novos olhares podem servir para objetivar as discusses
diminuindo a subjetividade eseculativa, sempre muito presente na mesa
de negociao do tema reforma agrria.
A possibilidade de continuidade de pesquisas com mtodos expeditos
e de cuso baixo como sugeridos em A Qualidade dos Assentamentos
da Reforma Agrria Brasileira foi condicionada por Buainain e Silveira
(Captulo 2.4) a sua comparao com esudos detalhados:
A elaborao do esudo e a abertura do banco de dados para uso pblico criam
grandes oportunidades para anlises futuras sobre queses relevantes para a
compreenso da reforma agrria no Brasil. Uma primeira linha de trabalho, que
deveria ser assumida pelo prprio Esado, a realizao de esudos amosrais
para gerar parmetros de validao da metodologia. Isso permitiria a reproduo
do esudo no futuro, seja na totalidade ou parte dele, com maior confabilidade
e segurana. (Buainain e Silveira)
A falta de detalhamento tambm foi apontada por Cosa Gomes (Ca-
ptulo 2.7) como resritiva para que A Qualidade dos Assentamentos da
Reforma Agrria Brasileira possa apoiar programas desinados gerao
de pesquisa e desenvolvimento na rea agropecuria:
Do ponto de visa da pesquisa agropecuria, mais esecifcamente, o texto no
apresenta muitos detalhes sobre os formatos tecnolgicos ou nas opes tec-
nolgicas adotadas nos assentamentos, o que ajudaria na defnio de projetos
284 NEAD Debate 8
mais esecfcos para a consolidao do tema da susentabilidade em suas vrias
dimenses. Tambm no que toca a queso ambiental, a opo metodolgica de
avaliar eroso, sem esudar hisrico das reas, por exemplo, no permite aferir
a complexa realidade ambiental dos assentamentos Iso tambm ocorreu no
que afeta a biodiversidade () (Cosa Gomes)
Cosa Gomes (Captulo 2.7) tambm aponta a falta de incluso de
multiplicidade nas anlises que pudesse representar a adoo de esratgias
esecfcas de produo nas reas reformadas nos diferentes momentos
e contextos dos assentamentos:
Ainda que o esudo tenha pretendido uma certa completude analtica, o tema da
tecnologia adequada para os assentamentos, considerando a multiplicidade de
propsitos e a diversidade exisente no mbito da agricultura familiar brasileira,
esecialmente a da reforma agrria, foi escassamente abordado. Outro esudo
talvez deva contemplar as diferentes esratgias tecnolgicas nos diferentes
momentos da vida de um assentamento. Ainda que o tema da susentabilidade
dos sisemas de produo seja relativamente recente no mbito dos movimentos
sociais ligados diretamente reforma agrria, como o caso esecfco do MST,
a necessidade de trabalhar na produo de cincia e tecnologia que consolide
eses esilos de agricultura vem tendo importncia crescente nos ltimos anos e
apresenta-se como um grande desafo no s para a pesquisa agropecuria como
para todas as entidades ligadas agricultura, em geral, e a agricultura familiar,
esecifcamente. (Cosa Gomes)
Os impacos que os assentamentos produzem tambm foram ressal-
tados como tema importante na sua avaliao. As reas reformadas no
so vias de uma nica mo, ou seja, ao mesmo tempo em que so afetadas
pelo avano das fronteiras e do interesse do agronegcio ou pelos humores
da conjuntura social e poltica de seu entrono de centrais, elas tambm
modifcam e produzem impacos na diversidade e quantidade de oferta de
alimentos, na oferta de empregos e nos mercados fornecedores de insumos
e servios. Captar eses impacos certamente faz parte da avaliao dos
assentamentos como sugerido por Meliczek (Captulo 2.10):
Assentamentos em debate 285
Entretanto, a queso referente a se os assentamentos possuem algum efeito
macroeconmico, ocasionando mudanas no Produto Interno Bruto (PIB), no
abasecimento de alimentos para centros urbanos, no comrcio internacional
e no invesimento na agricultura, ainda no foi coberta. Embora uma anlise
dessa natureza tivesse sido bem-vinda, teria ultrapassado o escopo do esudo.
O mesmo se aplica a um levantamento da reao de proprietrios cujas terras
tenham sido expropriadas. (Meliczek)
Por meio de um exemplo apoiado em resultados de pesquisas microsso-
ciolgicas, Brenneisen (Captulo 2.11) demonsra as vantagens da integrao
de esudos expeditos e abrangentes com esudos detalhados e pontuais.
Ambos se benefciam, o porqu e o como podem ser melhor defnidos e
a abrangncia dos esudos de caso pode fcar melhor delimitada:
Os dados (que compem o ndice de reordenao fundiria) apontam, em
primeiro lugar, para a possibilidade de erros de avaliao no dimensionamento
de projetos, por parte do Insituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria
(Incra), ocorrendo, em alguns casos, a alocao de um nmero maior de famlias
alm da capacidade do assentamento, sobretudo no primeiro perodo esudado
(1985-1994). H ainda uma variao nos nmeros, dependendo da regio. Essa
consatao conduziu os autores (Sparovek et alii, 2003, p.93-94) a uma tentativa
de interpretao desses dados, o que levou busca das possveis causas para tal
ocorrncia entre elas, a atrao exercida sobre outras famlias com a insalao
do assentamento, o j mencionado dimensionamento do projeto realizado de
maneira equivocada pelo rgo resonsvel e a exisncia de infra-esrutura do
assentamento como fator de atrao de outros parentes ou agregados. Contudo, a
pesquisa concluiu tendo em visa o seu objetivo, que era o de gerar uma anlise
preliminar dos dados que esse trabalho esecfco no permitiria isolar um ou
outro dado explicativo sobre a superao da capacidade de assentamento nos
projetos. nesse ponto esecfco que os esudos de caso ou esudos represen-
tativos de uma dada realidade regional poderiam resonder de maneira mais
satisfatria a essa queso (segue um relato de diversos esudos de caso)
O conhecimento das esecifcidades hisricas e culturais resonde de maneira
mais satisfatria a asecos relativos aos ndices de efccia da reorganizao
fundiria, alm de servir de orientao para a ao dos agentes governamentais
286 NEAD Debate 8
ou mediadores do movimento. Ou seja, os nmeros precisam ser interpretados
luz de outras metodologias de pesquisa, que, levando-se em considerao o
contexto sociocultural em que se encontram insalados esses assentamentos,
permitam uma interpretao mais abrangente desses dados. (Brenneisen)
3. 8 Novos olhares e formas de i nterpretao
Diversos colaboradores lanaram novos olhares sobre os dados. Esses
novos olhares quando crticos ou quando quesionaram aqueles apre-
sentados em A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira
foram tratados nos captulos anteriores deses comentrios. No caso de
trazerem luz novas informaes, foram lisados a seguir.
A escolha das variveis que compem o ndice de reorganizao fun-
diria (IF) e seu peso na avaliao da converso dos latifndios foram
complementados por Buainain e Silveira (Captulo 2.4):
Um segundo ponto sobre a composio do ndice de efccia da reorganizao
fundiria diz reseito ao tratamento dado a algumas das variveis. Por exemplo,
a aglutinao de parcelas parece entrar como fator negativo no ndice, quando
em muitos casos , jusamente, um sinal de que a reorganizao fundiria es
sendo bem-sucedida. Em muitos casos referncia ao Programa Esecial de
Crdito para a Reforma Agrria (Procera) , a aglutinao, feita sempre por
baixo do pano, corrigia problemas de seleo de benefcirios, de diviso arti-
fcial de lotes e permitia aos assentados mais empreendedores, e com melhores
condies, expandir sua produo. (Buainain e Silveira)
A anlise da qualidade do acesso aos servios de educao e sade
ressaltada por Cunha et alii (Captulo 2.1):
Por outro lado, o acesso educao, segundo dados apresentados no diagnsico
(p.103), por exemplo, no signifca efetivamente melhoria da qualidade de vida.
Pesquisa realizada entre jovens de assentamentos localizados no municpio de
Piles, no Brejo paraibano, revelou um atraso escolar mdio de quatro anos
entre os esudantes matriculados no ensino fundamental e precrias condies
em termos da qualidade de ensino oferecido a esses jovens. No entanto, os flhos
Assentamentos em debate 287
apresentam nveis de escolaridade mais elevados que os de seus pais (Menezes,
Oliveira e Miranda, 2004). Na sade, tambm identifcam-se melhorias no acesso
aos servios, contudo preciso esclarecer que o acesso no implica necessaria-
mente um servio de boa qualidade. (Cunha et alii)
Sobre a concentrao dos assentamentos nas regies Norte e Nordese,
Sauer (Captulo 2.2) afrma que:
A equipe no problematizou esses dados, mas so signifcativos por, pelo menos,
dois motivos bsicos. Primeiro, corroboram e reafrmam as opes governamentais
de desapropriar reas em detrimento de outras aes complementares. Esa opo
tem sido executada na regio com o maior esoque de terras conseqentemente
terras com preos mais baixos , resultando em gasos pblicos com um maior
retorno (maior nmero de famlias benefciadas). (Sauer)
Em segundo lugar, essa regio apresentou os piores ndices gerais de qualidade
de vida com mdia de 49 para os projetos implantados at 1994, e de 42 para
os implantados de 1995 a 2001 (contra 63 e 54, resecivamente, para o mbito
nacional). A regio Norte apresentou baixos ndices de acesso (falta de esradas),
de eletricidade, de servios de sade, demonsrando a falta de invesimentos em
aes complementares reforma agrria. (Sauer)
Fundamentalmente, os dados revelam uma lgica perversa de concentrar as
aes em desapropriaes de reas na regio que tem terras baratas, mas que
mais necessita invesimentos complementares. Essa lgica d visibilidade s
aes governamentais (aes que benefciam muitas famlias), mas penaliza as
famlias e impede avanos importantes no processo geral de democratizao do
acesso terra, esecialmente porque mantm intocada a concentrao fundiria
do Sul e Sudese. (Sauer)
A presso sobre quantidade exisiu e, provavelmente, continuar exis-
tindo. Os acampamentos, ocupaes e uma organizao social de base forte
impulsionam nese sentido. Conciliar (ou no ceder incondicionalmente)
a presso quantitativa por meio da arrecadao de terras, onde mais
fcil, pode envolver mudanas profundas na forma com que o governo
288 NEAD Debate 8
e a sociedade organizam suas aes. A forma de geso do oramento,
o aparato legal, a capacitao de seus quadros funcionais, os sisemas
gerenciais podem prescindir adaptaes que permitam incluir (e avaliar,
monitorar, tornar efcientes) metas de qualidade ou impaco. Deve-se, no
entanto, tomar o cuidado de no deixar de contar famlias e passar a
simplesmente contar oramento, inauguraes ou programas.
Lerrer (Captulo 2.6) analisa de maneira conclusiva a trajetria de
A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira nos meios
de comunicao, expondo uma opinio corajosa e embasada em sua
experincia de jornalisa, militncia nos movimentos sociais e pesquisas
de cunho acadmico:
Em suma, apesar da riqueza de interpretaes possveis sobre os dados da pes-
quisa, que deveriam ter sido reverberados com muito mais impaco nos meios
de comunicao de massa, importante desacar que a maioria das matrias que
abordaram a pesquisa singularizam a precariedade dos assentamentos criados,
a inefcincia do Esado (que no entanto ainda es efetivamente desaparelhado
para lidar com esse problema), a improdutividade dos lotes ou o pssimo hbito
dos assentados de abandon-los ou vend-los. Ou seja, muito mais do que au-
xiliar no aumento da compreenso da sociedade brasileira e mesmo contribuir
para a consruo de consensos sobre medidas que venham a aplacar a profunda
desigualdade social do pas, essas matrias reproduzem as foras hegemnicas
da sociedade altamente vinculadas com os interesses da grande propriedade
rural associadas a uma leitura descolada da realidade das populaes pobres do
campo, de suas necessidades e de suas persecivas limitadssimas de ascenso
social. Desse modo, salvo honrosas excees, boa parte da produo jornalsica
brasileira colabora para a manuteno de um imaginrio social impotente diante
das razes seculares da desigualdade social, centrada na concentrao fundiria,
o que em face da abundncia de terras frteis e ociosas exisentes no pas, deveria
soar como um enorme absurdo. (Lerrer)
3 Edio da revisa Carta Capital, de 28 de abril de 2004, que aborda o resultado da pesquisa realizada
por uma equipe coordenada por pesquisadores em regies de concentrao de assentamentos,
publicada no livro Impacos dos assentamentos: um esudo sobre o meio rural brasileiro, de
Srgio Leite, Beatriz Heredia, Leonilde Medeiros, Moacir Palmeira e Rosngela Cintro (coord.),
Incra/NEAD/MDA/Unes, Braslia, 2004.
Assentamentos em debate 289
Cosa Gomes (Captulo 2.7) analisa de maneira crtica os avanos
que a pesquisa e desenvolvimento voltados para a agricultura familiar,
demonsrando a preocupao com o modelo proposo e seus impacos
na susentabilidade dos sisemas produtivos:
A intensifcao tecnolgica levada a cabo pelos agricultores familiares quando
do incio do processo de modernizao da agricultura brasileira foi, exatamente
ela, uma das resonsveis pela excluso de um grande nmero desses agricul-
tores, que mais tarde viriam a formar o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem-Terra (MST), jusamente o principal pblico-alvo da reforma agrria. Ento,
assumir que o processo de desenvolvimento se d pela incorporao tecnolgica,
sem sequer discutir que esilo de tecnologia e em que situao, pode representar
a reedio do equvoco Um primeiro aseco importante a levantar o da
possibilidade real de que em muitos casos os assentados esejam tentando a
implantao de esilos de agricultura convencional, ou seja, baseado no mesmo
modelo que ajudou a expuls-los do campo. (Cosa Gomes)
Martins (Captulo 2.9) ressalta o mesmo aseco sob a tica ambiental:
Os assentados no sairo dessa lgica (pacote tecnolgico desruidor dos
ecossisemas) exclusivamente por fora prpria. Trata-se, ento, de se consruir
um ambiente propcio em que os agentes econmicos no processo de busca e
seleo de novas tecnologias possam ser induzidos a optar por tecnologias que
sejam ambientalmente corretas. Quando as resries de ordem ambiental se
tornarem resries de primeira ordem s atividades econmicas, a sim no mais
esaremos numa sociedade capitalisa, e o processo de consruo da sociedade
susentvel esar no seu apogeu. (Martins)
Cosa Gomes (Captulo 2.7) tambm ressalta a importncia de um
urgente equacionamento da queso ambiental nos assentamentos e do
papel da pesquisa cientfca na busca de solues:
Um outro aseco digno de observao o que se refere ao ndice de qualidade
do meio ambiente (QA), quando aponta que os maiores ndices foram regis-
trados nos assentamentos novos, dando margem a duas interpretaes: a) a
290 NEAD Debate 8
qualidade do meio ambiente diminui com o desenvolvimento do projeto e com
a intensifcao dos sisemas de produo ou b) as atitudes conservacionisas
tm sido intensifcadas em tempos mais recentes (p.122). Para a anlise do
ponto de visa da pesquisa agropecuria, no importa a concluso. A manu-
teno da capacidade produtiva dos recursos naturais, do meio ambiente em si,
uma condio intrnseca prpria susentabilidade da relao da sociedade
com a natureza, ou seja, da possibilidade da continuidade da vida sobre a Terra.
O aumento do reconhecimento dessa necessidade o que faz a intensifcao das
atitudes conservacionisas. Se por um lado as duas possibilidades so concretas,
tambm ambas merecem aes esecfcas da pesquisa agropecuria. O que
importa no caso a evidente necessidade de que esse tema seja defnitivamente
incorporado ao rol dos projetos e programas de pesquisa e desenvolvimento de
forma geral e no somente naquela mais direcionada reforma agrria. A busca
da base cientfca para a consolidao dos formatos tecnolgicos que garantam
a susentabilidade no uso dos recursos naturais uma tarefa urgente para todos
os que tm qualquer tipo de relao com a agricultura, o esao rural e o seu
desenvolvimento. (Cosa Gomes)
A anlise de Mattei (Captulo 2.8) sobre o conjunto de dados apre-
sentado revela uma preocupao mais geral, superior escala adotada
na pesquisa das reas reformadas:
Assim sendo, vislumbramos uma perseciva no muito favorvel para o pas
nese campo, pois a poltica de assentamentos, alm de no modifcar em quase
nada a esrutura agrria, nem sequer es sendo capaz de atender aquelas camadas
de agricultores que so expulsos do setor agropecurio. Ese cenrio nos obriga
a afrmar que no exise efetivamente uma poltica de reforma agrria em curso
no Brasil. Dentre as razes que susentam esa afrmao, desacam-se:
a poltica de assentamento dos ltimos perodos es direcionada, fundamen-
talmente, ao processo de regularizao fundiria e ao atendimento seletivo das
regies de maior confito agrrio;
a poltica agrcola em curso no impede a contnua expulso de trabalhadores
rurais do setor agropecurio, processo que nas ltimas dcadas representou
numericamente a mesma proporo e/ou at mais que as famlias assentadas
pelos governos;
a)
b)
Assentamentos em debate 291
a criao de assentamentos rurais, geralmente em reas extremamente insi-
tas e no acompanhada por uma rede de infra-esrutura bsica, tem levado ao
fracasso muitas iniciativas governamentais;
o incentivo ao uso do mecanismo de compra, em subsituio aos insrumentos
consitucionais de desapropriao das terras para fns de reforma agrria, acaba
privilegiando os movimentos eseculativos, que se expressam atravs da elevao
dos preos das terras em praticamente todas as regies do pas. (Mattei)
Martins (Captulo 2.9) avalia o impaco de A Qualidade dos Assenta-
mentos da Reforma Agrria Brasileira ter revelado passivos ambientais
signifcativos ligados criao dos assentamentos:
S essa concluso (da exisncia de passivos ambientais signifcativos) j jusi-
fca uma mudana na forma como o Esado vem conduzindo a reforma agrria,
sempre pelo lado produtivisa e, como tal, altamente degradador em termos
ambientais. Por iso, as pesquisas nesse campo devem continuar, para que se
possa modifcar a forma de produzir nos assentamentos, a fm de no reprodu-
zir o modelo dominante na produo agrcola brasileira. Enfm, precisamos
captar se do ponto de visa da organizao da produo, os assentados, depois
de muita luta para conseguirem suas terras, acabam por reproduzir no s o
pacote tecnolgico prevalente, mas tambm se se integram ao modelo de de-
senvolvimento agrcola dominante, que um dos susentculos desa sociedade
insusentvel em que vivemos. (Martins)
Alguns resultados chamam a ateno de Meliczek (Captulo 2.10)
que aprofunda observaes feitas em A Qualidade dos Assentamentos
da Reforma Agrria Brasileira:
O esudo chega concluso de que a reforma tem sido bem-sucedida. A maioria
dos benefciados es em melhor situao do que anteriormente. Eles gozam
da dignidade de viver em sua prpria terra e da esabilidade que garante suas
necessidades bsicas. Um nmero considervel de famlias tem superado a linha
da pobreza desde que obteve acesso terra. Ademais, o esudo revela que os
indicadores de abandono e venda ilegal de lotes de terra so insignifcantes. Isso
ainda mais digno de louvor, considerando-se que os assentamentos tm sido esa-
c)
d)
292 NEAD Debate 8
belecidos em terras anteriormente improdutivas e por pessoas que tinham pouca
ou nenhuma experincia em adminisrar sua prpria produo. (Meliczek)
Uma revelao muito signifcativa do esudo o alto valor do ndice de efccia
da reorganizao fundiria, se comparado a outros ndices como o de qualidade
de vida e o ndice de ao operacional. Os autores chegam concluso que, para
os assentados, o acesso terra o aseco mais importante da reforma agrria.
mais importante do que o acesso a outros servios adicionais, tais como sade,
educao ou crdito. Esse dado no dever, entretanto, levar complacncia por
parte do governo. Para facilitar o esabelecimento de assentamentos viveis, o
Esado dever assegurar o acesso dos assentados a outros mercados, incluindo
o crdito, insumos e tecnologia. Os autores enfatizam, com propriedade, a ne-
cessidade de uma ao complementar do governo na implementao de projetos
de assentamento, e enfatizam que a disribuio de terras apenas o primeiro
passo no processo de melhora de vida da populao rural pobre. (Meliczek)
As difculdades de determinao da renda familiar, as resries de
sua utilizao como medida do bem-esar das famlias e procedimentos
alternativos foram discutidos por Meliczek (Captulo 2.10):
Considerando que as entrevisas foram realizadas em nvel de assentamento, e
no com indivduos assentados, os autores decidiram apresentar os dados sobre
renda familiar na forma de valores numricos e no em forma de um ndice.
Eles reconhecem, entretanto, as limitaes metodolgicas de uma anlise de
renda familiar para projetos inteiros, por meio de entrevisas. Com base em
minhas experincias na realizao de pesquisas de campo socioeconmicas,
tenho dvidas quanto a dados sobre renda obtidos por meio de quesionrios e
tendo a me basear muito mais em indicadores secundrios, como moradia, bens
domsicos, presena das crianas na escola, etc. (Meliczek)
Os assentamentos consituem um esao geogrfco claramente deli-
mitado, mas no eso isolados do seu entorno. Brenneisen (Captulo 2.11)
comenta a importncia de no particularizar demais as reas reformadas,
polarizando a discusso de pobreza rural para esse foco e assim desconsi-
derar outros agricultores que vivem em condies similares ou piores:
Assentamentos em debate 293
Alm dos asecos apontados, preciso ainda evitar interpretaes da qualidade
de vida nos assentamentos descoladas do contexto em que eso situados. As-
sentamentos no so ilhas. As mesmas defcincias consatadas nos assentamentos
esendem-se aos demais agricultores familiares situados nas proximidades desses
assentamentos. A precria esrada de acesso aos assentamentos a mesma precria
esrada de acesso dos demais agricultores familiares. A moradia dos agricultores
familiares no tambm, via de regra, melhor que a do assentado (por sinal, a
exisncia de uma linha de crdito para habitao esecfca para os assentados
e ausncia de algo similar para os agricultores familiares, tem sido objeto de
quesionamento por parte desses ltimos, j de longa data). (Brenneisen)
3. 9 A contri bui o parti cular das
colaboradoras e dos colaboradores
Os colaboradores foram convidados a apresentar complementaes, em
discurso livre, ressaltando dados, experincias e relatos derivados de sua
trajetria ou perseciva. Esses captulos acabaram gerando um retrato
rico e diversifcado de diversos asecos da reforma agrria brasileira,
de forma resumida e condensada pelo pequeno esao oferecido a cada
colaborador. Ressaltamos o que cada colaborao signifcou para ns:
Cunha et alii (captulo 2.1) apresentam dados de esudos detalhados
feitos em assentamentos da Paraba. Esses esudos ajudaram a demonsrar
as limitaes que pesquisas abrangentes e expeditas tm na compreenso
da realidade sob a tica local, bem como a difculdade da extrapolao
dos dados produzidos localmente na gerao de um panorama global.
Sauer (Captulo 2.2) enriquece, com base em seu nomadismo geogr-
fco e social pelas reas reformadas, o conceito de delimitao geogrfca
dos assentamentos, da motivao e do signifcado do acesso terra. Ese
depoimento refora a reforma agrria como poltica focalizada em exclu-
so e de forma no-compensatria, por realmente marcar a trajetria de
vida dos benefciados. Valores como liberdade de escolha, perseciva de
vida, auto-esima, unidade familiar e tantos outros de difcil quantifcao
aparecem desilados na fala de Gloraci (GO) citada por Sauer: Terra
tudo; terra paz, vida! A luta pela terra uma coisa muito clara: o
susento da vida!.
294 NEAD Debate 8
Bergamasco e Ferrante (Captulo 2.3) contribuem com uma refexo
sobre o uso de indicadores e ndices nas pesquisas sobre assentamentos.
Fica evidente que se por um lado eles no resolvem todas as queses e a
sua concepo e interpretao necessita de esudos detalhados, difcil
imaginar que a geso de uma poltica com a abrangncia da reforma
agrria brasileira possa ser feito sem eles. A queso achar a melhor
complementaridade entre as escalas e mtodos, procurando sinergia e
no concorrncia.
Buainain e Silveira (Captulo 2.4) exploram as possibilidades e pers-
pecivas que a metodologia proposa (expedita e de baixo cuso relativo)
abrem para a anlise e geso no contexto da execuo da reforma agrria
como poltica de governo. As observaes so enriquecidas com diversas
referncias a dados e pesquisas prprias que avaliaram reas reformadas
em outros contextos.
Fernandes (Captulo 2.5) apresenta uma tica dos assentamentos em
relao sua evoluo hisrica posicionando as diferentes opes tomadas
pelo governo frente evoluo dos movimentos sociais. O relato deixa
muito claro que a queso de acesso terra es longe de esar resolvida
no Brasil: Filhos de assentados consituram famlias, ocuparam a terra
e foram assentados. Es em formao uma segunda gerao de flhos
de assentados sem que a queso da terra tenha sido resolvida, mas no
deixa de ter eserana para o futuro: A qualidade dos assentamentos de
reforma agrria es diminuindo. Esa uma concluso que a publicao
nos apresenta. A qualidade dos assentamentos pode melhorar. Es outra
concluso que a leitura da publicao nos oferece..
De forma sinttica, sisemtica e ordenada em poucas pginas, Lerrer
(Captulo 2.6) conseguiu traar usando a trajetria de A Qualidade dos
Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira nos meios de comunicao
como pano de fundo um panorama atual da profsso de jornalisa, dos
interesses e esrutura de poder que movem a abordagem do tema reforma
agrria nos meios de comunicao. A coragem embutida nas afrmaes
que quesionam as motivaes e a imparcialidade na profsso e nas
empresas que detm o setor impressiona. Que exemplo!
Cosa Gomes (Captulo 2.7) ressalta a necessidade de transversalidade,
parcerias e integrao insitucional na abordagem do tema reforma agrria.
Assentamentos em debate 295
Demonsra que as polticas pblicas voltadas para a queso fundiria
no pertencem a um ou a outro minisrio ou entidade, ressaltando os
desafos que a gerao e transferncia de pesquisa e desenvolvimento
ainda tm pela frente:
Para as unidades de pesquisa da Embrapa o desafo seria esabelecer aes de
parceria com as agncias pblicas que atuam na reforma agrria, utilizando como
ponto de partida a viso do esao territorial. Aes de desenvolvimento com
essa concepo j teriam impacos imediatos na qualidade dos assentamentos,
dado o grande esoque de tecnologias geradas ou adaptadas prontas para o uso,
mas que sequer chegou at eles () Vrios minisrios e muitas insituies
pblicas do esado e da sociedade tm na reforma agrria a interface para seus
trabalhos. Ocorre que hisoricamente cada um ou cada uma tem tentado cumprir
seu papel de forma isolada, resultando em ao desconexa e perda de energia,
para no falar de pulverizao de recursos. (Cosa Gomes)
Mattei (Captulo 2.8) enriquece o debate com sugeses objetivas de
como melhorar os mtodos e procedimentos adotados em A Qualidade
dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira. Sua refexo sobre a
queso agrria e as polticas de assentamentos refora a necessidade
atual de se manter o tema em debate, que deve ser qualifcado objetivo e
focalizado no benefcio daqueles que podem assumir uma nova trajetria
de vida se tiverem acesso terra e aos meios de nela produzir:
Nesse sentido, a resosa queso se a reforma agrria ainda pertinente para a
sociedade brasileira no incio do sculo XXI parece ser bvia, sobretudo se admitir-
mos a exisncia da queso agrria. Nossa viso que, em um pas com mais de
90 milhes de hecares de terras improdutivas e com mais de quatro milhes de
famlias de sem terras, alm de apresentar ndices de desigualdades econmicas
e sociais alarmantes, no se pode prescindir do uso de um insrumento efcaz
como o caso da reforma agrria para tentar reverter esse cenrio, como o
fzeram a maior parte dos pases hoje considerados desenvolvidos. Entretanto,
o carter da reforma agrria (massiva, econmica, social ou produtivisa), bem
como os insrumentos necessrios, que precisam ser melhor debatidos com a
sociedade brasileira. (Mattei)
296 NEAD Debate 8
A queso ambiental o cerne da argumentao apresentada por
Martins (Captulo 2.9). Concordamos com ele que o desafo atual (ou o
prximo desafo dada a quase insignifcncia de aes efetivas j imple-
mentadas) consruir um modelo, uma maneira de benefciar milhes
de famlias com terra, meios de produo, uma vida digna e segura sem
aumentar a presso sobre os recursos naturais ou presentear as futuras
geraes com vergonhosos passivos ambientais. Esse o assunto menos
debatido no mbito dos esecialisas, executores e militantes da reforma
agrria. Perdem com iso as futuras geraes, das quais esamos reduzin-
do as opes de escolha e o direito a um meio ambiente ecologicamente
digno. Apesar da magnitude do problema, todos ns, ligados de alguma
forma reforma agrria, temos o dever de tratar o meio ambiente com
mais seriedade, prioridade e profundidade.
Meliczek (Captulo 2.10) nos empresa o olhar de um observador ex-
terno. Sua experincia vem de trabalhos realizados na Turquia, Filipinas,
frica do Sul, Afeganiso, de muitos anos de academia em Goettingen
(Alemanha) e como consultor da Organizao das Naes Unidas para
Alimentao e Agricultura (FAO) para reforma agrria. Sua anlise obje-
tivou esecifcamente o livro A Qualidade dos Assentamentos da Reforma
Agrria Brasileira com importantes sugeses que podem possibilitar ga-
nhos de abrangncia e qualidade em pesquisas semelhantes que podero
ser realizadas no futuro.
Brenneisen (Captulo 2.11) fnaliza a sua contribuio, que deixa
evidente o carter complementar de diversos mtodos e esecialidades
necessrios para retratar os assentamentos, com a seguinte afrmao:
Finalizo, regisrando aqui o geso desemido dos autores do livro A Qualidade
dos Assentamentos da Reforma Agrria Brasileira, colocando a pesquisa desen-
volvida por eles sob o olhar crtico de outros pesquisadores, munidos de outras
referncias e persecivas diversas de anlise. Resa torcer para que atitudes si-
milares de dilogo, franco e aberto, sejam possibilitadas por aqueles que realizam
o importante trabalho de mediao da luta pela terra. Certamente ganharamos
todos: o Esado, o MST, a luta pela reforma agrria e os trabalhadores rurais
sem-terra, que arriscam incessantemente suas prprias vidas na conquisa de
Assentamentos em debate 297
uma exisncia mais digna. Sairia, enfm, vitoriosa, a causa que mobiliza a todos
ns a luta por uma sociedade mais jusa e democrtica. (Brenneisen)
Esas ltimas palavras confrmam a convico que nos motivou a
sugerir ao NEAD a organizao de Assentamentos em Debate, tarefa que
foi mais difcil e gratifcante do que prevamos a princpio.
Um novo proj eto de desenvolvi mento para o pa s
passa pela transformao do meio rural em um esao com qualidade
de vida, acesso a direitos, susentabilidade social e ambiental.
Ampliar e qualifcar as aes de reforma agrria, as polticas de for-
talecimento da agricultura familiar, de promoo da igualdade e do
etnodesenvolvimento das comunidades rurais tradicionais. Esses so os
desafos que orientam as aes do Ncleo de Esudos Agrrios e Desen-
volvimento Rural (NEAD), rgo do Minisrio do Desenvolvimento
Agrrio (MDA) voltado para a produo e a difuso de conhecimento
que subsidia as polticas de desenvolvimento rural.
Trata-se de um esao de refexo, divulgao e articulao insi-
tucional com diferentes centros de produo de conhecimento sobre
o meio rural, nacionais e internacionais, como ncleos universitrios,
insituies de pesquisa, organizaes no governamentais, centros de
movimentos sociais, agncias de cooperao.
Em parceria com o Insituto Interamericano de Cooperao para
a Agricultura (IICA), o NEAD desenvolve um projeto de cooperao
tcnica intitulado Apoio s Polticas e Participao Social no Desen-
volvimento Rural Susentvel, que abrange um conjunto diversifcado
de aes de pesquisa, intercmbio e difuso.
Eixos articuladores
Construo de uma rede rural de cooperao tcnica e cientfca para o de-
senvolvimento
Democratizao ao acesso s informaes e ampliao do reconhe-
cimento social da reforma agrria e da agricultura familiar
298
O NEAD busca tambm
Estimular o processo de autonomia social
Debater a promoo da igualdade
Analisar os impactos dos acordos comerciais
Difundir a diversidade cultural dos diversos segmentos rurais
Projeto editorial
O projeto editorial do NEAD abrange publicaes das sries Estudos
NEAD, NEAD Debate, NEAD Especial e NEAD Experincias, o Portal
NEAD e o boletim NEAD Notcias Agrrias.
Publicaes
Rene estudos elaborados pelo NEAD, por outros r-
gos do MDA e por organizaes parceiras sobre varia-
dos aspectos relacionados ao desenvolvimento rural.
Inclui coletneas, tradues, reimpresses, textos cls-
sicos, compndios, anais de congressos e seminrios.
Apresenta temas atuais relacionados ao desenvolvi-
mento rural que esto na agenda dos diferentes atores
sociais ou que esto ainda pouco divulgados.
Difunde experincias e iniciativas de desenvolvimento
rural a partir de textos dos prprios protagonistas.
299
Portal
Um grande volume de dados atualizado diariamente na pgina eletr-
nica www.nead.org.br, estabelecendo, assim, um canal de comunicao
entre os vrios setores interessados na temtica rural. Todas as infor-
maes coletadas convergem para o Portal NEAD e so difundidas por
meio de diferentes servios.
A difuso de informaes sobre o meio rural conta com uma biblio-
teca virtual temtica integrada ao acervo de diversas instituies parceiras.
Um catlogo on line tambm est disponvel no Portal para consulta de tex-
tos, estudos, pesquisas, artigos e outros documentos relevantes no debate
nacional e internttacional.
Boletim
Para fortalecer o fuxo de informaes entre os diversos setores que atuam
no meio rural, o NEAD publica semanalmente o boletim NEAD Notcias
Agrrias. O informativo distribudo para mais de 10 mil usurios, entre
pesquisadores, professores, estudantes, universidades, centros de pes-
quisa, organizaes governamentais e no governamentais, movimen-
tos sociais e sindicais, organismos internacionais e rgos de imprensa.
Enviado todas as sextas-feiras, o boletim traz notcias atualizadas so-
bre estudos e pesquisas, polticas de desenvolvimento rural, entrevistas,
experincias, acompanhamento do trabalho legislativo, cobertura de
eventos, alm de dicas e sugestes de textos para fomentar o debate sobre
o mundo rural.
Visite o Portal www.nead.org.br
Telefone: (61) 3328 8661
E-mail: nead@nead.gov.br
Endereo: SCN, Quadra 1, Bloco C, Ed. Braslia Trade Center, 5
o
andar, Sala 506
Braslia/DF CEP 70711-901
300
Você também pode gostar
- Zolpidem 10 MGDocumento2 páginasZolpidem 10 MGjuan.alipioAinda não há avaliações
- Livro - Sistemas de Abastecimento de ÁguaDocumento152 páginasLivro - Sistemas de Abastecimento de ÁguaArcelio Feitosa Castelo BrancoAinda não há avaliações
- Relatório 4 Teste Duo - TrioDocumento6 páginasRelatório 4 Teste Duo - TrioKamilla Dias100% (1)
- Brasil Rural A Virada Do MilênioDocumento74 páginasBrasil Rural A Virada Do Milêniomarcos_cassinAinda não há avaliações
- CASSIN Lenin e A Questão AgráriaDocumento9 páginasCASSIN Lenin e A Questão AgráriaLuis CookAinda não há avaliações
- Funções e Medidas Da Ruralidade No Desenvolvimento Contemporâneo OKDocumento37 páginasFunções e Medidas Da Ruralidade No Desenvolvimento Contemporâneo OKmarcos_cassinAinda não há avaliações
- Rural e UrbanoDocumento84 páginasRural e Urbanomarcos_cassinAinda não há avaliações
- Educação e o Mundo Do TrabalhoDocumento7 páginasEducação e o Mundo Do Trabalhomarcos_cassinAinda não há avaliações
- Controle de Amônia em AviáriosDocumento62 páginasControle de Amônia em AviáriosMarcia_JacobAinda não há avaliações
- TV Samsung Modo de ServiçoDocumento5 páginasTV Samsung Modo de ServiçoRoque Ciro Di Cesare100% (1)
- Resumos de MatematicaDocumento97 páginasResumos de Matematicaj84fzbf22cAinda não há avaliações
- BoletoDocumento1 páginaBoletoleonardo macielAinda não há avaliações
- ContranDocumento71 páginasContranGabriela MariaAinda não há avaliações
- Mapa Da FraudeDocumento24 páginasMapa Da FraudemarcusAinda não há avaliações
- Das Sociedades Comunais Ao Modo de Produção FeudalDocumento64 páginasDas Sociedades Comunais Ao Modo de Produção FeudalflordelisclaraAinda não há avaliações
- Magic ItensDocumento3 páginasMagic ItensLeonnardo CruzAinda não há avaliações
- Introducao A Seguranca InformaticaDocumento4 páginasIntroducao A Seguranca InformaticaJoselito CoutinhoAinda não há avaliações
- Ipr - 743 - André Belem e Lucas CassiniDocumento42 páginasIpr - 743 - André Belem e Lucas CassiniAndré BelemAinda não há avaliações
- Pós-Lapsarianismo - Acesso TeológicoDocumento4 páginasPós-Lapsarianismo - Acesso TeológicoErick ValdevinoAinda não há avaliações
- Componentes SMDDocumento12 páginasComponentes SMDAbner GirotoAinda não há avaliações
- 3º - História Da América IndependenteDocumento3 páginas3º - História Da América IndependenteBruna Mara SanturbanoAinda não há avaliações
- Matemática - Intercalar 1.º PeríodoDocumento5 páginasMatemática - Intercalar 1.º PeríodoSílvia RochaAinda não há avaliações
- Airbus Extended Manual Vol6 StepbyStep PT PDFDocumento65 páginasAirbus Extended Manual Vol6 StepbyStep PT PDFjoeAinda não há avaliações
- Daemon - Anime RPG - Supers - Monstros e VilõesDocumento55 páginasDaemon - Anime RPG - Supers - Monstros e VilõesJonasDanielLimaAinda não há avaliações
- Material de Apoio Fund 4 e 5Documento16 páginasMaterial de Apoio Fund 4 e 5Leandro SilvaAinda não há avaliações
- Ginástica de SoloDocumento4 páginasGinástica de SoloMargarida GranjaAinda não há avaliações
- 01 ApresentaçãoDocumento8 páginas01 ApresentaçãoLegacy PPJJAAinda não há avaliações
- Rede Ramificada e ReservatorioDocumento18 páginasRede Ramificada e ReservatorioIsaias ChereneAinda não há avaliações
- Factores BióticosDocumento8 páginasFactores BióticosJose Chavez FloresAinda não há avaliações
- NiobitaDocumento4 páginasNiobitaWayne ViniciusAinda não há avaliações
- Publicado 82797 2021-01-01Documento47 páginasPublicado 82797 2021-01-01Pedro SilvaAinda não há avaliações
- Profundus98 18 11 2022Documento29 páginasProfundus98 18 11 2022Muamine BenujamimAinda não há avaliações
- Lesões ReversíveisDocumento37 páginasLesões ReversíveisFamilia Monge VillanuevaAinda não há avaliações
- Arco OgivaDocumento93 páginasArco Ogivajcrba2Ainda não há avaliações
- ManualDocumento35 páginasManualBruno BenicioAinda não há avaliações