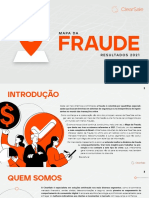Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
MIP Pinus
MIP Pinus
Enviado por
mperesc13Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
MIP Pinus
MIP Pinus
Enviado por
mperesc13Direitos autorais:
Formatos disponíveis
Manuteno de Florestas e Manejo Integrado de Pragas
MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS
EM PLANTIOS DE PNUS
Edson Tadeu Iede1. Susete do Rocio
Chiarello Penteado2,
Wilson Reis Filho3
INTRODUO
Entre os principais fatores que proporcionam o aumento do
potencial bitico dos insetos destaca-se os monocultivos, visando altas
produtividades. Os plantios florestais, normalmente estabelecidos com
materiais homogneos, em termos de espcie, procedncia, prognie ou
clone, tendem a gerar impactos diferenciados sobre a entomofauna. Os
insetos fitfagos so favorecidos pela maior disponibilidade de alimento
e pela diminuio da resistncia ambiental, devido ausncia de inimigos
naturais, os quais no encontram condies favorveis, principalmente
hospedeiros alternativos e/ou intermedirios, para sobreviver no
ambiente modificado. Desta forma, os insetos fitfagos tornam-se
pragas.
O surgimento de complexos de pragas nas principais espcies
utilizadas para reflorestamento no Brasil, tm despertado o setor florestal
para a necessidade da elaborao de programas de controle de pragas
racionais e econmicos.
O homem, em sua luta contra as pragas e doenas, tem utilizado
medidas errneas de combate s pragas, que algumas vezes criam
Pesquisador, Doutor em Entomologia Embrapa Florestas. email: edson.iede@embrapa.br
2
Pesquisadora, Doutora em Entomologia Embrapa Florestas.
e-mail: susete.penteado@embrapa.br
3
Pesquisador, Doutor em Entomologia Epagri/Embrapa Florestas. e-mail: wilson.reis@colaborador.embrapa.br
1
195
3 Encontro Brasileiro de Silvicultura
problemas maiores do que aqueles que deveriam ser resolvidos, devido
ao desconhecimento das relaes que ocorrem no ecossistema, com as
medidas de controle. Desta forma, para resolver problemas de pragas e
doenas, deve-se conhecer todos os fatores que agem no ecossistema, a
fim de que seja utilizado, racionalmente, todos os meios disponveis para
resolv-los, minimizando impactos ambientais.
Uma das estratgias que recebeu maior apoio entre os
entomologistas, por sua flexibilidade em selecionar uma srie de
tcnicas de controle em funo de cada situao em particular, surgiu
a quase 50 anos e chamada Manejo Integrado de Pragas (MIP). O
desenvolvimento de um programa de MIP requer um exame profundo
das tticas de monitoramento e controle das espcies, a fim de
determinar as estratgias mais adequadas a cada regio. O programa deve
ser necessariamente flexvel e dinmico, comeando com a utilizao das
tticas mais promissoras e com adio contnua de outras resultantes
de pesquisas e desenvolvimento de novos mtodos medida que o
cenrio muda. Deve haver tambm um balano entre solues de curto
e longo prazo, desde que ambas se complementem e sejam eficientes.
necessrio dispor de diversas estratgias e ferramentas para que o
programa no fique dependendo de poucos mtodos, os quais podem ao
longo do tempo tornar-se ineficientes ou inadequados.
O MIP surgiu como uma estratgia de controle de pragas, aps
um longo perodo de uso intensivo de produtos qumicos. Neste perodo,
estes produtos por serem de baixo custo e de certo modo eficientes,
foram usados de forma indiscriminada, no levando em considerao
os seus efeitos colaterais. Em funo do aparecimento de problemas,
como resistncia de insetos a esses produtos, ressurgncia de pragas
e contaminao devido a resduos desses produtos no ambiente, foi
necessrio repensar e renovar as estratgias para o controle de pragas.
A execuo de um Programa de Manejo Integrado de Pragas
requer, inicialmente, um sistema de monitoramento adequado, visando
a deteco precoce dos surtos, sua distribuio geogrfica, assim
como, para a avaliar a densidade populacional da praga e a efetividade
das medidas de controle. Num sentido mais amplo, um sistema de
monitoramento um processo de avaliao de variveis necessrias para
196
Manuteno de Florestas e Manejo Integrado de Pragas
o desenvolvimento e uso de prognsticos para predio de surtos de
pragas e tomada de deciso para seu controle. Um sistema eficiente deve
ser preciso e sensvel a fim de acusar variaes na densidade populacional
de diferentes espcies daninhas. Isto propiciar elementos para a tomada
de deciso do momento em que se deve utilizar diferentes mtodos de
controle para evitar danos econmicos. A tcnica de monitoramento
deve ser precisa, de fcil execuo e de certa forma flexvel, para adaptarse a diferentes locais.
Um dos pontos mais difceis a definio do momento em
que se deve intervir, para evitar o crescimento populacional da praga
e as consequentes perdas econmicas. Este momento, para insetos
desfolhadores, que causam danos indiretos, relativamente mais fcil
de se estabelecer. Porm, para as pragas crnicas, principalmente em
cultivos perenes que proporcionam um ambiente mais estvel ao inseto,
fica mais difcil de se estabelecer este momento. As perdas ocorridas
pela ao crnica da praga passam despercebidas, mascaradas pelo dano
direto e, principalmente, pela ausncia de termo de comparao. Desta
forma, perdas aparentemente sem significado econmico, num primeiro
instante, vo intensificando-se com as sucessivas geraes da praga, e
quando o problema se torna evidente, normalmente o reflorestamento
j est comprometido.
Num Programa de Manejo Integrado de Pragas, todos os mtodos
de controle tm seu espao e importncia, entretanto, quando se trata
de plantios florestais, o uso de agrotxicos apresenta srias restries,
devendo ser utilizado apenas como ltimo recurso, em reas de alto valor
comercial. Por outro lado, o controle biolgico natural e o aplicado, assim
como os mtodos fsicos, silviculturais, mecnicos e os biotcnicos so
os que apresentam grande potencial de uso e de integrao.
A utilizao de produtos fitossanitrios no Manejo Integrado de
Pragas Florestais est condicionado existncia de inseticidas que sejam
de baixa toxicidade para o homem e animais, que apresentem um baixo
impacto ambiental e que no gerem subprodutos txicos.
Dentro do manejo integrado de pragas, o controle biolgico
apresenta papel de destaque, sendo uma das tticas mais recomendadas
para manter as pragas em baixos nveis populacionais, principalmente,
197
3 Encontro Brasileiro de Silvicultura
pela fcil harmonizao com outros mtodos de controle e pela pequena
possibilidade de que ocorram grandes impactos ambientais. Consiste
na regulao da populao alvo pela utilizao de inimigos naturais
(parasitos, parasitoides, predadores e patgenos). O controle biolgico
natural aquele em que no existe a interveno do homem. J o aplicado,
resulta da manipulao pelo homem dos inimigos naturais (introduzidos
ou nativos), num determinado ecossistema (Soares & Iede, 1997).
A existncia de cerca de 1,7 milhes de ha de Pinus spp., no Brasil,
normalmente com uma base restrita de espcies e procedncias por
regio bioclimtica, facilitam a colonizao, estabelecimento e disperso
de pragas exticas, assim como fornecem condies para surtos de pragas
nativas. Hoje o complexo de pragas associado ao pnus envolve a vespada-madeira (Sirex noctilio), os pulges-gigantes-do-pnus (Cinara atlantica
e Cinara pinivora) e o gorgulho-do-pnus (Pissodes castaneus), para os quais
foram desenvolvidos programas de MIP, que sero descritos nesse artigo.
Espcies de insetos nativos como, Naupactus spp., Diloboderus abderus,
aparecem em surtos fortuitos, favorecidos por prticas silviculturais
inadequadas. As formigas cortadeiras dos gneros Acromyrmex e Atta, j
fazem parte dos programas de manejo florestal dos produtores de pnus.
ESTUDO DE CASO I.
MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS PARA Cinara spp.
(HEMIPTERA: APHIDIDAE) EM PLANTIOS DE Pinus
spp. (PINACEAE)
Os pulges-gigantes-do-pnus, Cinara pinivora e C. atlantica,
introduzidos no Brasil em 1996 e 1998, respectivamente, podem provocar
perdas econmicas significativas em plantios mais jovens.
Foi desenvolvido um Programa de Manejo Integrado Pragas
para Cinara spp., no Brasil, com nfase no controle biolgico. Estudos
multidisciplinares e multi-institucionais intensivos de laboratrio
e campo precederam a implantao do programa. Estas pesquisas
198
Manuteno de Florestas e Manejo Integrado de Pragas
envolveram estudos biolgicos e ecolgicos da praga, assim como tticas
de monitoramento e controle, com prioridade para o estabelecimento do
controle biolgico clssico.
A introduo de pragas exticas em um novo ambiente florestal
pode causar distrbios ambientais, perdas econmicas e sociais
considerveis. Os efeitos ocorrem, geralmente, na fase inicial da
introduo quando a praga no encontra resistncia ambiental nem
inimigos naturais durante seu processo de colonizao e estabelecimento,
normalmente acompanhados de surtos que causam danos econmicos
em plantios florestais.
C. pinivora e C. atlantica, so originrios da Amrica do Norte e
foram registrados a partir de 1996 (Iede et al. 1998; Lazzari & Zonta de
Carvalho 2000), infestando diversas espcies de Pinus no sul do Brasil,
espalhando-se para a regio sudeste. Como as demais pragas exticas,
na ausncia de seus inimigos naturais especficos, atingiram nveis
populacionais elevados e causaram danos severos nesse novo ambiente.
As colnias de Cinara ocorrem em altas densidades populacionais,
provocando a reduo do desenvolvimento das plantas, a queda das
acculas, a morte dos brotos, murchamento de ramos e algumas vezes a
morte das rvores.
No caso de Cinara spp., uma grande ateno deve ser dada aos
mtodos biolgicos e silviculturais de controle, evitando o aumento
dos riscos ambientais e de resistncia da praga, resultantes do controle
qumico contnuo. O controle silvicultural de pragas pode ser implantado
gradualmente, usando espcies alternativas de Pinus, plantios multiclonais
ou uma mistura de espcies nas reas de cultivo, alm de investir na
resistncia gentica de plantas s pragas. Outras solues, como poca
de plantio, escolha de stios para o plantio, adoo de tratos silviculturais
emergenciais, tambm podero ser utilizadas. O controle biolgico com
inimigos naturais presentes no ecossistema e com eventuais introdues
de parasitoides da regio de origem da praga uma das estratgias mais
eficientes e permanentes de MIP.
O programa de MIP consiste na aplicao de medidas
ecologicamente aceitveis, baseadas no monitoramento das pragas e
199
3 Encontro Brasileiro de Silvicultura
dos inimigos naturais, como medidas biolgicas, culturais, genticas
e mecnicas, usadas isoladamente ou em combinao para reduzir a
populao de pragas a nveis tolerveis (Mills 1990), que sero discutidas,
brevemente, a seguir:
1. CONTROLE QUMICO
Apesar de o controle qumico apresentar uma ao rpida e
eficiente, este no deve ser considerado como uma medida de controle a
longo prazo, visto que seu custo bastante elevado, alm dos problemas
de contaminao ambiental e segurana dos aplicadores, aumentando
tambm o processo de resistncia aos ingredientes ativos. O controle
qumico no seletivo tambm afeta o estabelecimento dos agentes de
controle biolgico (Mills 1990).
Estudos realizados na Itlia (Inserra et al. 1979) indicam que os
tratamentos qumicos com aficidas, aplicados no incio da colonizao
dos afdeos sobre as plantas, podem prevenir os danos nas rvores.
Essa observao refora a necessidade do monitoramento para indicar
o momento certo de se fazer o tratamento, visto que, aqueles autores
constataram tambm, que aplicaes aps o perodo de colonizao,
foram eficientes, mas incapazes de evitar os danos. Desta forma,
importante definir a poca de aplicao de inseticidas qumicos.
Alguns ingredientes ativos apresentam um controle efetivo de
afdeos que atacam espcies florestais, porm sua utilizao deve ser
planejada cuidadosamente para minimizar os efeitos indesejveis. Como
vantagem de sua utilizao, destaca-se a rapidez de ao para a proteo
das rvores. As desvantagens so muitas e incluem o efeito potencial
adverso sobre a populao de parasitoides e predadores, contaminaes
ambientais, ressurgncia de pragas, surgimento de pragas secundrias e
presso de seleo para a resistncia de pragas (Weiss 1991). Entretanto,
novas tcnicas de manejo de inseticidas podem reduzir estes efeitos
indesejveis.
200
Manuteno de Florestas e Manejo Integrado de Pragas
2. CONTROLE SILVICULTURAL
A manipulao silvicultural, de acordo com Weiss (1991), inclui
o uso de espcies alternativas, a seleo de stios desfavorveis aos
afdeos, o aumento do vigor das rvores, entre outras prticas. A maior
vantagem do mtodo silvicultural a melhoria no equilbrio ecolgico do
ecossistema silvicultural.
Como os afdeos respondem direta ou indiretamente a fatores
climticos e microclimticos, necessrio entender quais os componentes
que operam nos locais de origem destes insetos, quando da elaborao e
implantao de programas de MIP.
Nas regies planas, os solos so relativamente mais profundos,
demonstrando a uma importncia da seleo de stio como fator
de resistncia ao ataque dos afdeos. Em Ruanda, verificou-se que a
gravidade do ataque de Cinara cupressi (Buckton) estava relacionada ao
grau de fertilidade do solo, portanto, a disponibilidade de gua outro
fator relevante na escolha do stio (Claude & Fanstin 1991).
O estabelecimento de plantaes em stios onde os solos so mais
pobres, ou existe uma umidade insuficiente expe as rvores hospedeiras
ao estresse nutricional, tornado-as mais sensveis ao ataque. Os fatores
presentes nos stios que tornam certas rvores mais suscetveis ao ataque
devem ser identificados, e no devero ser utilizados para o plantio de
espcies suscetveis ao ataque dos afdeos, no futuro.
O grau de resistncia ou suscetibilidade da praga tambm varia
em funo da espcie e da idade das rvores. Desta forma, o manejo
adequado desses fatores pode minimizar os riscos de uma disperso
rpida da praga.
A manipulao de tcnicas silviculturais, como a limpeza dos
plantios para evitar a mato-competio, deve ser mais bem avaliada, para
que se criem condies favorveis de abrigo, alimentao e reproduo
para os inimigos naturais presentes no momento, como os predadores e
patgenos, esses necessitando de uma proteo do solo para se manterem
no campo e causar epizootias.
201
3 Encontro Brasileiro de Silvicultura
A pesquisa demonstrou que a poca de plantio associada idade,
representa um fator importante na susceptibilidade das plantas de pnus
ao ataque do pulgo-gigante-do-pnus.
3. CONTROLE MECNICO
No caso do controle de pulges que atacam plantas em viveiros,
ou plantios para produo de rvores de natal, pode-se recomendar a
lavagem da fumagina provocada pelos fungos, pulverizando as partes
afetadas das rvores com uma soluo de detergente lquido dissolvido
em gua, aplicado com alta presso no final da tarde, deixando passar
a noite e, na manh seguinte, enxaguar com gua (McCullough et al.
1998). No caso de mudas de pnus atacadas por C. atlantica e C. cupressi,
esta medida poderia ser adotada para materiais de valor destinados aos
programas de melhoramento e conservao gentica, por exemplo.
4. RESISTNCIA DE PLANTAS
Observaes de campo indicam que algumas plantas so
relativamente livres de afdeos em zonas bastante infestadas. Isto pode
ser devido, entre outros fatores, resistncia fisiolgica da planta, ou
seja, habilidade da mesma em repelir as pragas durante o perodo de
rpido crescimento; s defesas dinmicas da rvore hospedeira, tal como
liberao de fenis txicos; tolerncia, que a capacidade da rvore
desenvolver-se apesar da infestao.
Vrias observaes foram feitas a respeito da variao da
susceptibilidade dos hospedeiros em relao a afdeos ou entre espcies,
sugerindo que existe um potencial para a seleo e plantio de espcies
alternativas (Weiss 1991). A maior vantagem da seleo dentro da espcie
seria o potencial para continuar utilizando a(s) espcie(s) hospedeira(s) e
a possibilidade de capitalizar sobre a resistncia observada, em rvores j
estabelecidas. Existe uma incerteza nas observaes, no sabendo se as
rvores so resistentes ao ataque, no caso do afdeo encontrar a rvore
no palatvel, ou tolerncia ao ataque, quando o afdeo ataca, mas a rvore
no danificada. Isto sugere a necessidade de se fazer observaes a
202
Manuteno de Florestas e Manejo Integrado de Pragas
longo prazo, antes de iniciar um programa de melhoramento gentico
(Weiss 1991). O problema de se substituir uma espcie, que a espcie
candidata troca, muitas vezes, no tem a mesma qualidade industrial da
espcie que est sendo utilizada, no caso da Regio Sul do Brasil, P. taeda
e P. elliotti.
A fim de esclarecer os mecanismos de resistncia, recomendvel
selecionar procedncias e prognies resistentes e/ou tolerantes ao ataque
de Cinara spp., no Brasil.
5. CONTROLE BIOLGICO
Em geral, as possibilidades de controle biolgico clssico so
maiores para pragas exticas do que para pragas nativas, pois a maioria
dos inimigos naturais especficos j est presente no ambiente da praga
nativa. No complexo de inimigos naturais de afdeos, os parasitoides
so, geralmente, os agentes de controle mais eficientes, principalmente
devido sua especificidade. As pragas que mantm populaes
moderadamente altas de forma constante, so melhores para ser
controladas biologicamente do que aquelas que so escassas por um
determinado perodo, mas, repentinamente, manifestam surtos.
O fator econmico o nico determinante do uso do controle
biolgico, porque virtualmente impossvel predizer os custos e a
durao necessria para a concluso satisfatria de um programa de
controle biolgico.
O controle biolgico clssico tem sido visto como uma alternativa
barata ao uso de inseticidas, o que verdade para a supresso das
populaes de C. atlantica que tem se dispersado rapidamente no Sul e
Sudeste do Brasil. Ademais, algumas vezes, o controle biolgico a nica
forma factvel para o controle de uma praga. Entretanto, em um programa
de controle biolgico clssico, outras formas de manejo populacional da
praga tambm devem ser consideradas, focando a relao gentipo x
ambiente x praga x inimigos naturais.
As espcies de Cinara, em Pinus, so atacadas por um grupo de
predadores que incluem os coccineldeos, sirfdeos, hemerobdeos,
203
3 Encontro Brasileiro de Silvicultura
crisopdeos e heterpteros, sendo mais abundantes em plantios j
estabelecidos, ou seja, a partir do segundo ano, mas, que sua presena
seria fundamental desde o primeiro ano. Desta forma, deve-se criar
mecanismos para facilitar a colonizao dos predadores desde a
implantao dos reflorestamentos.
O registro de Lecanicillium lecanni, provocando eventuais epizootias,
principalmente em plantios um pouco mais velhos, de 3 a 5 anos, tambm
deve ser considerado para inclu-lo como um patgeno potencial no
programa de MIP.
Existem muitos casos precedentes de sucesso de controle
biolgico de pragas florestais exticas, segundo Dahlsten & Mills (1990).
Dentro desses programas, alguns j so consagrados, como o controle
de Pineus pini (Macquart) (Adelgidae) e P. laevis (Maskell), em diferentes
regies do mundo. Um surto devastador de P. pini, no Hava, que ocorreu
nos anos de 1960 foi controlado com bastante sucesso pela introduo
de dois Chamaemyiidae (Diptera) Leucopis obscura Haliday, da Europa e
Leucopis nigraluna (McAlpine), do Paquisto. Da mesma forma, P. laevis foi
controlado com sucesso, na Nova Zelndia pela introduo de Leucopis
tapiae (Blanchard) e, no Chile, pela introduo de L. obscura (Zuniga 1985).
Sucesso singular de controle biolgico foi atingido para um
nmero grande de espcies de afdeos da famlia Lachninae associados
ao Pinus, como Cinara cronartii Tissot & Pepper, uma espcie da Amrica
do Norte que foi encontrada infestando Pinus na frica do Sul, no final
de 1970 e foi controlado com sucesso pela introduo do parasitide
especfico Pauesia, do sudeste dos Estados Unidos (Kfir et al. 1985). Mais
tarde, esta espcie foi identificada como Pauesia bicolor (Ashmead) (Mills
1990). Duas espcies de Pauesia, P. cupressobii (Stary) e P. junipterorum tm
sido registradas em Cinara juniperi De Geer, um afdeo ligado a C. cupressi,
que infesta Juniperus communis. Estes dois parasitoides so considerados
especficos das espcies de Cinara que se alimentam de plantas da famlia
Cupressaceae. Outro parasitoide, Aphidius sp. (Hymenoptera: Aphidiidae)
foi registrado em C. cupressi, na Alemanha.
A inspeo visual das plantas de pnus e o monitoramento
com armadilhas realizados no Brasil, no registraram a presena de
nenhum parasitoide; contudo, foram registrados predadores das famlias
204
Manuteno de Florestas e Manejo Integrado de Pragas
Coccinellidae, Syrphidae e Chrysopidae e alguns mais generalistas, como
mantdeos, hempteros e aranhas, provavelmente, vindos das redondezas
para os plantios de Pinus.
Para garantir o sucesso do controle biolgico de Cinara spp. em
plantios de Pinus, no Brasil, foi introduzido o parasitoide da regio de
origem, alm da conservao e aumento da populao dos predadores j
existentes.
Foram envolvidas diversas Instituies: Embrapa Florestas,
Epagri, Funcema (Fundo Nacional de Controle de Pragas Florestais),
Universidade Federal do Paran (Departamento de Zoologia e de
Florestas), Universidade do Estado de So Paulo (UNESP-Botucatu)
e o Museu de Histria Natural e Universidade de Illinois, Champaign,
Estados Unidos.
Foram utilizados dois critrios para analisar o potencial de controle
biolgico para C. atlantica e C. pinivora: a ocorrncia de inimigos naturais
nas respectivas reas de origem dos afdeos e o resultado de outros
programas de controle biolgico contra Lachninae, em outras regies
com condies climticas semelhantes.
Os afdeos da sub-famlia Lachninae so atacados por parasitoides
monfagos da famlia Braconidae, dentre os quais destacou-se a espcie
Xenostigmus bifasciatus (Ashmead), introduzido em 2002 no Brasil.
Para o estabelecimento do controle biolgico, entre os anos de
200 a 2002 foi realizada a coleta de parasitoides nos Estados Unidos,
regio de origem da praga. A primeira etapa foi a explorao de inimigos
naturais no leste, sul e sudeste dos Estados Unidos, principalmente na
Flrida, Carolina do Sul, Georgia e Tennessee, para coleta de parasitoides
de C. atlantica, e em Illinois e Michigan para a coleta de parasitoides de C.
pinivora. Essas coletas foram conduzidas por um pesquisador americano,
especialista em Cinarini e um pesquisador brasileiro, especialista em
controle biolgico. A segunda etapa foi a quarentena dos parasitoides
introduzidos, realizada no Quarentenrio Costa Lima da Embrapa
Meio Ambiente e finalmente, as etapas de criao massal, liberao e
monitoramento, que foram realizadas pela Embrapa Florestas.
A implementao do programa teve como resultado o
205
3 Encontro Brasileiro de Silvicultura
restabelecimento do equilbrio ecolgico e favorecendo os predadores,
melhorando o manejo silvicultural e, consequentemente, reduzindo o
prejuzo econmico que esses afdeos vinham causando ao setor florestal.
ESTUDO DE CASO II.
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE
VESPA-DA-MADEIRA NO BRASIL
O Brasil possui cerca de 7 milhes de hectares de florestas
plantadas, dos quais, aproximadamente 1,7 milhes com espcies de Pinus.
Na regio Sul concentram-se 1 milho de hectares, basicamente com as
espcies P. taeda e P. elliottii. A alta densidade de plantio e a no adoo
de regimes de manejo florestal adequados, proporcionam as condies
ideais para o aparecimento de surtos de pragas e doenas, alm claro,
da base gentica restrita das espcies plantadas no Brasil. O fator que
despertou o interesse do setor florestal brasileiro para a necessidade de
prevenir e monitorar a presena de pragas nos povoamentos de Pinus foi
o registro, em 1988, de Sirex noctilio (vespa-da-madeira), no estado do Rio
Grande do Sul (Iede et al. 1988,). Atualmente ela est presente tambm
nos estados de Santa Catarina, Paran, So Paulo e Minas Gerais (Iede
& Zaneti, 2007).
Na Europa, sia e Norte da frica, regio de origem de S.
noctilio, ela considerada uma praga secundria. J na frica do Sul,
Argentina, Austrlia, Brasil, Chile, Nova Zelndia e Uruguai, tornou-se
a principal praga das florestas de Pinus. No Canad e Estados Unidos
onde foi introduzida em 2005, no manifestou-se ainda como praga de
importncia.
A utilizao de agentes de controle biolgico a medida mais
eficaz para o controle desta praga, destacando-se a ao de Deladenus
siricidicola, um nematide que esteriliza as fmeas, podendo atingir, em
mdia, 70% de parasitismo. O manejo florestal, associado utilizao
destes agentes, tem possibilitado o controle da praga (Iede et al. 1988).
206
Manuteno de Florestas e Manejo Integrado de Pragas
Face ameaa que esta praga significa para o patrimnio florestal
brasileiro, foi criado em 1989, o Fundo Nacional de Controle de Pragas
Florestais (FUNCEMA), pela integrao da iniciativa privada e rgos
pblicos, para dar suporte ao Programa Nacional de Controle Vespada-Madeira (PNCVM). Esse programa contempla atividades de pesquisa
para a gerao e adaptao de tecnologias de controle da praga e, em uma
primeira fase, priorizou a introduo e liberao de D. siricidicola (Iede et
al. 1988).
O PNCVM contempla ainda: 1) o monitoramento para a
deteco precoce e disperso da praga, pela utilizao de rvoresarmadilha, que consiste no estressamento de rvores com a utilizao
de um herbicida a fim de atrair os insetos; 2) adoo de medidas de
preveno, com a utilizao do manejo florestal, principalmente, a
realizao de desbastes, visando a melhoria das condies fitossanitrias
dos plantios, minimizando a intensidade do ataque; 3) adoo de medidas
quarentenrias, visando controlar e retardar ao mximo a disperso
da praga; 4) introduo dos parasitoides Rhyssa persuasoria e Megarhyssa
nortoni a fim de aumentar-se a diversidade de inimigos naturais. As
duas espcies foram introduzidas nos anos de 1996-97, com o apoio
do Instituto Internacional de Controle Biolgico e do Servio Florestal
do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ibalia leucospoides,
outra espcie de parasitoide, foi introduzida junto com seu hospedeiro
e detectada em 1990 no estado do Rio Grande do Sul, estando presente
em quase todos os povoamentos atacados pela vespa-da-madeira; 5)
aes de divulgao, utilizando-se a mdia e os pesquisadores envolvidos,
em um amplo programa de treinamento e palestras para produtores e
tcnicos, propiciando a capacitao e obteno da informao por parte
da comunidade (Iede et al. 1988). A integrao dentro do PNCVM tem
sido um exemplo poltica de P&D em nvel nacional, visto que, alm
dos rgos pblicos esto envolvidas mais de uma centena de empresas
da regio sul do Brasil. Estas, alm de adotarem as tecnologias, fornecem
tambm assistncia tcnica a pequenos reflorestadores, a fim de que as
medidas de controle atinjam todos os plantios atacados pela vespa-damadeira.
207
3 Encontro Brasileiro de Silvicultura
ESTUDO DE CASO III.
O
GORGULHO-DO-PNUS,
Pissodes
castaneus
(Coleoptera: Curculionidae) - UMA PRAGA ASSOCIADA
A PROBLEMAS SILVICULTURAIS
O gorgulho-do-pnus est intimamente ligado condio
silvicultural do plantio, como: a qualidade do stio, condio fsica do
solo, tcnica de plantio, qualidade da muda, deficincia nutricional,
ocorrncia de fenmenos fsicos de natureza abitica, como chuvas de
granizo, geadas fortes, secas prolongadas, etc. Fatores de natureza bitica,
como o ataque de pragas primrias, tambm podem estressar as plantas,
favorecendo o aparecimento de plantas atacadas por Pissodes castaneus.
A avaliao de plantas atacadas no campo e a experincia tm
demonstrado que, em pelo menos 90% dos casos, as plantas apresentam
srios problemas de enovelamento ou encachimbamento das razes,
que ocorreram na fase de produo de mudas ou no plantio. Ou seja,
verifica-se que, em muitos casos, esto sendo plantadas mudas passadas,
cujas razes j enovelaram no tubete e/ou, casos de enovelamento e
de encachimbamento provocados pelo espelhamento ou vitrificao
do solo, pelo uso do chacho em solos rasos ou argilosos, impedindo o
desenvolvimento normal das razes.
Percebe-se que as empresas, no intuito de reduzir os custos de
produo, reduziram ou simplificaram, de forma drstica, as operaes
silviculturais, muitas vezes, em detrimento qualidade. Entretanto isso
ir refletir tambm na resistncia ou susceptibilidade das plantas aos
fatores biticos e abiticos a que forem expostas. Alm disso, como
estamos tratando de cultivos de longa rotao, fundamental que se faa
uma implantao com o menor nmero de inconformidades tcnicas
possveis, pois os resultados sero obtidos a longo prazo, sendo de 20
anos, em mdia, no caso do pnus,
A escolha do stio outro fator extremamente importante para
que se tenha um plantio que seja resistente ou suporte o ataque de pragas. No adianta plantar em stios ruins que apresentam solos rasos com
afloramento de rocha, solos mal drenados, pois esses plantios sero alvos
208
Manuteno de Florestas e Manejo Integrado de Pragas
de pragas. Durante muitos anos isso no foi levado em considerao na
silvicultura do pnus no Brasil. Porm, aps a introduo da vespa-damadeira no pas, em 1988, dos pulges do gnero Cinara e Essigella, do
adelgidae, Pineus boerneri e de Pissodes castaneus, isso tornou-se uma condio indispensvel, para propiciar condies de resistncia aos plantios.
Plantas danificados por chuvas de granizo tornam-se predispostas
ao ataque de P. castaneus, devido emisso de aleloqumicos que iro
atrair o gorgulho. Da mesma forma, o estresse hdrico provocado por
secas prolongadas e danos causados por geadas fortes, podem predispor
as plantas ao ataque da praga.
As prticas silviculturais bastante importante, como a poda e o
desbaste, quando realizados em poca inadequada, podero comprometer
o plantio. As plantas com ferimentos provocados por estas prticas,
exalam compostos qumicos que atraem a praga, e por essa razo, devero
ser executadas somente nos perodos de baixa densidade populacional
da praga, ou seja, no inverno. Alm disso, os restos destas operaes
devero ser eliminados e se possvel picados, para evitar a proliferao
do insetos.
A aplicao de herbicidas para o controle de ervas daninhas, em
plantios jovens, dever ser realizada de forma criteriosa, em horrios que
evitem possveis derivas, com o uso de bicos de pulverizao regulados,
mantendo-se a velocidade do trator constante, caso contrrio, podero
estressar as plantas e predisp-las ao ataque do gorgulho. fundamental
tambm, que se mantenha a vegetao nativa, entre linhas de plantio,
visto que elas fornecero locais de abrigo, alimentao e reproduo
de inimigos naturais, que ajudaro no controle biolgico da praga,
principalmente no primeiro ano. Para isso deve-se controlar as plantas
invasoras que concorrem com o cultivo, somente na linha, deixando-se a
vegetao secundria entre linhas de plantio.
Outro fator importante a ser observado, que as plantas atacadas
por Sirex noctilio, so tambm um substrato ideal para o desenvolvimento
de P. castaneus.
De modo geral, pode-se afirmar que a presena do gorgulhodo-pnus um indicativo importante de que h algum problema
209
3 Encontro Brasileiro de Silvicultura
silvicultural no plantio, o qual dever ser identificado e corrigido, para
conferir sanidade ao plantio. Dessa forma, durante a elaborao de
um Programa de Manejo Florestal, na sua fase de planejamento, devese analisar todos os fatores biticos e abiticos que possam favorecer
o ataque da praga. Neste particular, somente os fatores climticos no
podem ser manipulados; porm, sabe-se que a distribuio geogrfica
das espcies/procedncias tambm devem ser consideradas, visando o
plantio daquelas adaptadas a cada regio bioclimtica, ou seja, aquelas
adequadas ecologicamente na regio onde ser realizado o plantio.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
BEDDING, R. A. 1972. Biology of Deladenus siricidicola (Neotylenchidae)
an entomophagous-micetophagous nematode parasitic in siricidae
woodwasps. Nematologica, Leiden v. 18, p. 482-493.
CARVALHO, A. G; PEDROSA-MACEDO, J.H., SANTOS, H.R. 1993.
Bioecolgia de Sirex noctilio Fabricius, 1793 (Hymenoptera: Siricidae) em
povoamentos de Pinus taeda L.. In: Conferncia regional da vespada-madeira, Sirex noctilio, na Amrica do Sul (1992: Florianpolis).
Anais. Colombo: EMBRAPA/FAO/USDA/FUNCEMA. p.85-96.
CLAUDE, N.J., & FANSTIN, M. 1991. The case of cypress attack by
Cinara cupressi in Rwanda. In: Exotic aphid pests of conifers: A crisis in
African Forestry. Muguga, Kenya, 3-6 June 1991. Kenya Forest Research
Institute, Muguga, Kenya and FAO, Rome Italy, pp 76-80.
DAHLSTEN, D.L., MILLS, N.J. 1999. Biological control of forest
insects. In: Bellows, T.S., Fisher, T.W. (Eds.), Handbook of Biological
Control. Academic Press, San Diego, pp. 761788.
HAUGEN, D.A.; UNDERDOWN, M.G. 1990. Sirex noctilio control
program in response to the 1987 Green Triangle outbreak. Australian
Forestry, Melbourne v.53, n.1, p.33-40.
IEDE, E.T.; PENTEADO, S.R.C.; BISOL, J.C. 1988. Primeiro registro
de ataque de Sirex noctilio em Pinus taeda no Brasil. Colombo:
EMBRAPA-CNPF, 12p. (EMBRAPA-CNPF, Circular Tcnica, 20).
210
Manuteno de Florestas e Manejo Integrado de Pragas
IEDE, E.T.; PENTEADO, S.R.C; GAIAD, D.C.M; SILVA, S.M.S. 1992.
Panorama a Nvel mundial da ocorrncia de Sirex noctilio F.(Hymenoptera:
Siricidae). In: Conferncia regional da vespa-da-madeira, Sirex
noctilio, na Amrica do Sul (1992: Florianpolis). Anais. Colombo:
EMBRAPA/FAO/USDA/FUNCEMA. p. 23-33.
IEDE, E.T.; LAZZARI, S.M.N.; PENTEADO, S.R.C.; ZONTA
DE CARVALHO, R.C. & RODRIGUEZ-TRENTINI, R.F. 1998.
Ocorrncia de Cinara pinivora (Homoptera: 85 Aphididae:Lachninae) em
reflorestamentos de Pinus spp. no sul do Brasil. Congresso Brasileiro
de Zoologia. Recife, PE. Anais . p. 141.
IEDE ET, ZANETTI R, 2007. Occurrence and management
recommendations of Sirex noctilio Fabricius (Hymenoptera, Siricidae) on
Pinus patula (Pinaceae) plantations in the state of Minas Gerais, Brazil.
(Ocorrncia e recomendaes para o manejo de Sirex noctilio Fabricius
(Hymenoptera, Siricidae) em plantios de Pinus patula (Pinaceae) em
Minas Gerais, Brasil.) Revista Brasileira de Entomologia, 51(4):529531. HTTP://www.scielo.br/rbent
INSERRA, R.N., N. LUISI AND N. VOVLAS. 1979. Il roulo delle
infestazioni dell afide Cinara cupressi (Buckton) nei deperimenti de
cipresso. Informatore Fitipatologico 29: 7-11.
KFIR, R.; KIRSTEN, F.; VAN RENSBERG, N.J. 1985. Pauesia sp.
(Hymenoptera: Aphididae), a parasite introduced into South Africa for
control of the black pine aphid, Cinara cronartii (Homoptera: Aphididae).
Environmental Entomology 14(5): 597-601.
LAZZARI, S.M.N.; CARVALHO, R.C.Z. 2000. Aphids (Homoptera:Ap
hididade:Lachninae: Cinarini) on Pinus spp. and Cupressus sp. In: Southern
Brazil. In: International Congress of Entomology, XXI. Foz do Iguau,
PR. Anais. p. 493.
MADDEN, J.L.1974. Oviposition behavior of the woodwasp Sirex
noctilio F. Australian Journal of Zoology, Melbourne, v.22, p. 341-351.
MCCULLOUGH, D. G., R. A. WERNER, AND D. NEUMANN. 1998.
Fire and insects in northern and boreal forest ecosystems of North
America. Annual Review of Entomology 43:107-127.
211
3 Encontro Brasileiro de Silvicultura
MADDEN, J. L. Sirex in Australia. 1988. In: BERRYMAN, A. A. Dynamics of forest insects populations. New York: Plenum, p. 407-429.
MILLS, N.J.1990. Biological control of forest aphid pests in A frica.
Bull. Entomol. Res. , 80: 1-36.
NEUMANN. F.G.; MOREY, J.L; MCKIMM, R.J. 1987. The sirex wasp
in Victoria. Department of Conservation. Forest and Lands, Victoria.
41p. (Bulletin 29).
SOARES, C.M.S. ; IEDE, E.T. 1997. Perspectivas para o controle da
broca da erva-mate, Hedypathes betulinus (Klug, 1825) (Col.: Cerambycidae).
In: CONGRESSO SUL-AMERICANO DA ERVA-MATE, 2., E
REUNIO TCNICA DO CONE-SUL SOBRE A CULTURA DA
ERVA-MATE, 1. 1997, Curitiba. Anais ... Colombo: EMBRAPACNPF, 1997. p. 391-400.
SPRADBERY, J.P. 1973. A comparative study of the phytotoxic effects
of siricid woodwasp on conifers. Annual applied Biology, Camberra,
v.75, p. 309-320.
TAYLOR, K.L. 1981. The Sirex woodwasp: ecology and control of an introduced forest. In: KITCHING, R.L.; JONES, R.E. The ecology of
pests; some australian case histories. Melbourne: CSIRO. p. 231-248.
TRIBE, G,D.1995. The woodwasp Sirex noctilio Fabricius (Hymenoptera),
a pest of Pinus species, now established in South Africa. African
Entomology, 3, p. 215-17.
WEISS, M. J. 1991. Compatibility of tactics: An overview. Pages
133135 in Ciesla, W. M., J. Odera and M. J. W. Cock (Eds.) Proceedings
Workshop on Exotic aphid pest of conifers: A crisis in African forestry.
Sponsored by Food and Agriculture Organization of the United Nations
at the Kenya Forestry Research Institute, Muguga, Kenya. 36 June 1991.
ZUNIGA, E. 1985. Ochenta anos de control biologico en Chile, revision
historcia y evaluacion de los proyectos desarrollados (1903-1983).
Agricultura Technica (Chile) 45:175-183.
212
Você também pode gostar
- Resolução - Lista de Execícios III Unid - Mecânica GeralDocumento18 páginasResolução - Lista de Execícios III Unid - Mecânica GeralPedro BrandãoAinda não há avaliações
- Mapa Da FraudeDocumento24 páginasMapa Da FraudemarcusAinda não há avaliações
- Técnica de Retirada RápidaDocumento2 páginasTécnica de Retirada RápidaCesar Nitschke100% (1)
- Introducao A Seguranca InformaticaDocumento4 páginasIntroducao A Seguranca InformaticaJoselito CoutinhoAinda não há avaliações
- NiobitaDocumento4 páginasNiobitaWayne ViniciusAinda não há avaliações
- 5ºs Anos - Caderno de Atividades - Fevereiro - 2021Documento32 páginas5ºs Anos - Caderno de Atividades - Fevereiro - 2021Juliana PereiraAinda não há avaliações
- 3º - História Da América IndependenteDocumento3 páginas3º - História Da América IndependenteBruna Mara SanturbanoAinda não há avaliações
- Análise de Alimentos Aula 5Documento33 páginasAnálise de Alimentos Aula 5backupmods19100% (1)
- BAD Economia Do Mar - CompletoDocumento206 páginasBAD Economia Do Mar - CompletoRosalvo De Oliveira JuniorAinda não há avaliações
- Catálogo Sonax - 2019Documento22 páginasCatálogo Sonax - 2019Bruno VieiraAinda não há avaliações
- Guindaste XCMG Modelo QY 50KDocumento8 páginasGuindaste XCMG Modelo QY 50KLeonardo SperandioAinda não há avaliações
- Das Sociedades Comunais Ao Modo de Produção FeudalDocumento64 páginasDas Sociedades Comunais Ao Modo de Produção FeudalflordelisclaraAinda não há avaliações
- Aula Atividade 2Documento4 páginasAula Atividade 2Rômulo CésarAinda não há avaliações
- Volksbus 8.150E OD / 9-150E OD: RevisãoDocumento2 páginasVolksbus 8.150E OD / 9-150E OD: RevisãohldAinda não há avaliações
- Profundus98 18 11 2022Documento29 páginasProfundus98 18 11 2022Muamine BenujamimAinda não há avaliações
- 2-Geometria Movimentos Classificação ISO Ferramentas-2017 - V2Documento42 páginas2-Geometria Movimentos Classificação ISO Ferramentas-2017 - V2Felipe SouzaAinda não há avaliações
- Paleossolos e AmbienteDocumento28 páginasPaleossolos e Ambientescalibor14Ainda não há avaliações
- A Era Da BurriceDocumento5 páginasA Era Da BurriceMarco AntonioAinda não há avaliações
- Introd MecSol 7Documento21 páginasIntrod MecSol 7Gilberto NetoAinda não há avaliações
- Ginástica de SoloDocumento4 páginasGinástica de SoloMargarida GranjaAinda não há avaliações
- 123445-Texto Do Artigo-235834-1-10-20161221Documento10 páginas123445-Texto Do Artigo-235834-1-10-20161221Amanda NogueiraAinda não há avaliações
- Tabela de ValoresDocumento7 páginasTabela de ValoresTatiane FigueiredoAinda não há avaliações
- Comunicação LiteráriaDocumento2 páginasComunicação Literáriamario191Ainda não há avaliações
- Material de Apoio Fund 4 e 5Documento16 páginasMaterial de Apoio Fund 4 e 5Leandro SilvaAinda não há avaliações
- The Comic Toolbox - How To Be Funny Even If You'Re Not (PDFDrive) (1) (008-012) .En - PTDocumento5 páginasThe Comic Toolbox - How To Be Funny Even If You'Re Not (PDFDrive) (1) (008-012) .En - PTDonDiablo94 TMAinda não há avaliações
- TABELA CARGA DE GAS2.pdf-1Documento22 páginasTABELA CARGA DE GAS2.pdf-1cleverson ferreiraAinda não há avaliações
- MIB e GeosminaDocumento20 páginasMIB e GeosminaVanessa VianaAinda não há avaliações
- SCX-6545N PartsDocumento108 páginasSCX-6545N PartsdoranlucaAinda não há avaliações
- Sintegra-Ind e Com de Prod Alim Cepera LtdaDocumento1 páginaSintegra-Ind e Com de Prod Alim Cepera Ltdajasson meggaAinda não há avaliações
- O Potencial Da Geração de Energia Fotovoltaica No Brasil e A Viabilidade Econômica de Sua Implementação para o Empreendedor.Documento21 páginasO Potencial Da Geração de Energia Fotovoltaica No Brasil e A Viabilidade Econômica de Sua Implementação para o Empreendedor.Super TecAinda não há avaliações