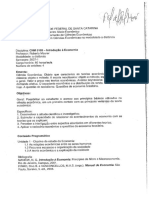Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Octavio Ianni - A Crise de Paradigmas Na Sociologia
Octavio Ianni - A Crise de Paradigmas Na Sociologia
Enviado por
Ubirajara Santiago0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
14 visualizações21 páginasO texto aborda questões de epistemologia na área de ciências sociais.
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoO texto aborda questões de epistemologia na área de ciências sociais.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
14 visualizações21 páginasOctavio Ianni - A Crise de Paradigmas Na Sociologia
Octavio Ianni - A Crise de Paradigmas Na Sociologia
Enviado por
Ubirajara SantiagoO texto aborda questões de epistemologia na área de ciências sociais.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 21
Revita Critza de Clic Secale
Junho 1981
OCTAVIO IANNI
Universidade Estadual de Campinas
A Crise de Paradigmas
na Sociologia
Assiste-se, no presenie, a um ques-
ionamento da. problematica socio-
I6gica, & afirmagio de que o objeto
da socoiogia mudou e ao apareci-
mento de ‘novos paradigmas. Numa
rellexdo larga sobre a ciica ea
crise actual dos paradigmas na
Sociologia, abordam-se algumas
das singularidades desta ciéncia
social: uma ciéncia que se_pensa
criticamenta; um objeto em continua
translormagio que envolve 0. pré-
prio sujeito; uma_relacao_indisso-
cidvel entre teoria @ pratica; um
pensamento embebido nas ' con-
digdes de existéncia social: um
sujeito do. con! "No a0 mesmo
tempo individual @ coletivo,
195
crise da sociologia pode ser real ou imaginaria,
mas n&o ha duvida de que tem sido proclamada por mui-
tos. Em diversas escolas de pensamento, em diferentes
paises, uns e outros colocam-se o problema da crise de
teorias, modelos ou paradigmas. Desde o término da
segunda guerra mundial, e em escala crescente nas déca-
das posteriores, esse 6 um problema cada vez mais cen-
tral nos debates. Além dos éxitos reais ou aparentes, das
modas que se sucedem, dos desenvolvimentos efetivos do
ensino e pesquisa, da produgao de ensaios e monografias,
manuais e tratados, subsiste a controvérsia sobre a crise
da explicagao na sociologia.
Fala-se na decomposicao dos modelos classicos e na
obsolescéncia de nogSes como as de sociedade, comu-
nidade, capitalismo, divisAo do trabalho social, consciéncia
coletiva, classe social, consciéncia de classe, nag&o, re-
volugo. Critica-se a abordagem histérica, globalizante
ou holistica e preconiza-se a sistémica, estrutural, neo-
-funcionalista, fenomenoldgica, etnometodolégica, herme-
néutica, do individualismo metodolégico e outras. Consi-
1. Problemas
de explicagéo
196
Octavio lanni
dera-se que os conceitos formulados pelos classicos ja
nao respondem as novas realidades. Agora, 0 objeto da
sociologia deveria ser 0 individuo, ator social, ago social,
movimento social, identidade, diferenga, quotidiano, es-
colha racional.
Em 1946, na aula inaugural pronunciada na London
School of Economics and Political Sciences, T. H. Marshall
se mostrou preocupado com a ‘encruzilhada” na qual se
encontrava a sociologia. As tarefas praticas eram urgentes
e os recursos tedricos pareciam inadequados. As interpre-
tagdes herdadas dos classicos seriam insuficientes para
fazer face as urgéncias da reconstrugao social. Em lugar
das teorias globalizantes, caberia formular pontos de apdio
intermediario», de modo a atender aos desafios imediatos,
localizados, setoriais, quotidianos, de normalizago e orde-
namento dos problemas sociais. “Os socidlogos nao de-
viam despender todas as suas energias na procura de
generalizagoes amplas, leis universais e uma compreen-
$40 total da sociedade humana como tal. Talvez cheguem
1 mais se souberem esperar. Nem recomendo o caminho
arenoso das profundezas do turbilhao dos fatos, que
enchem os olhos e ouvidos até que nada possa ser visto
ou ouvido claramente. Mas acredito que haja um meio-
ctermo que se localiza em chao firme. Conduz a uma
regio cujas caracteristicas nao s4o nem gargantuanas
nem liliputianas, onde a sociologia pode escolher unidades
de estudo de um escopo manejavel, nao a sociedade, pro-
gresso, moral e civilizagao, mas estruturas sociais especifi-
cas nas quais as fungdes @ processos bésicos tém signifi-
cados determinados” (Marshall, 1967:32).
Seja em termos de “pontos de apoio intermediario” con-
forme Marshall, de “principia media” segundo Mannheim,
ou ‘teorias de alcance médio” na versao de Merton, 0 que
esta em curso 6 o debate sobre a insuficiéncia ou obso-
lescéncia das teorias classicas (Merton, 1951 e 1967:
cap. Il; Mannheim, 1949: Il, cap V e VI; Marshall, 1967:
cap |). Debate no qual aos poucos se propdem outros
temas e metodologias. A problematica socioldgica é posta
em causa por representantes de diferentes escolas de pen-
samento, em diversos paises.
Essa controvérsia prossegue e generaliza-se. Torna-se
uma onda. Em 1975, Bourticaud critica o “socialismo”, o
“hiperfuncionalismo” e © “realismo totalitario”. Afirma, entre
outras observagdes semelhantes, que ‘o realismo totali-
A Crise de Paradigmas
tario continua a constituir 0 modo de interpretagao ao qual,
expontanea e implicitamente, recorre a maioria dos so-
cidlogos radicais” (Bourricaud, 1975:584). Para superar
essas limitagdes, proconiza a recriagao do “individualismo
atomistico” herdeiro do |iberalismo e do marginalismo, con-
forme as contribuigSes de Mancur Olson, Albert Hirschman
e outros. PropSe o conceito de “neo-individualismo”,
no qual se admite a existéncia de “grupos”, “classes” e
*sociedades", entre aspas. Esté a caminho das teorias do
“individualismo metodoldgico” e “escolha racional”, vistas
como aspectos basicos de um novo paradigma sociolégico,
posto sobre os escombros dos classicos.
Em 1984 Touraine da continuidade & critica dos “mode-
los classicos". Alega que se acham em ‘decomposigao”, j4
que se baseiam em conceitos insatistatérios, tais como
“funcionalismo”, “modernizacéo”, “sociedade” e outros. “Na
tealidade, 0 que esta sociologia denomina sociedade nao
@ sen&o a confus&o de uma atividade social, definivel em
termos gerais—como a produgdo industrial ou o mer-
cado —e de um Estado nacional. A unidade da sociedade
& aquela que Ihe da e impde um poder legitimo. Suas fron-
teiras nao sao tedricas, mas reais: as dos postos de
aduana. A sociedade é 0 pseudonimo da patria” (Touraine,
1984:22). Os conceitos elaborados pelos classicos pare-
cem nao deixar espaco para os individuos, os atores
sociais. “Um dos aspectos mais importantes da sociologia
classica 6 que, ao criar grandes conjuntos histéricos porta-
dores de sentidos em si mesmos, reduzem a analise da
agao social & pesquisa da posigéo do ator no sistema’
(ibid.:35). Cabe eleger como objeto da sociologia a acao
social, o ator social, 0 movimento social. E abandonar o
sistema, os grandes conjuntos, os conceitos abrangentes,
a visao macro da sociedade. Mesmo porque essas nogdes
corresponderiam a uma realidade social passada, supe-
tada, que ja nao mais se constitui como objeto da sociolo-
gia. “A sociologia da ado recusa esta explicagéo do ator
pelo sistema. Ao contrario, vé em toda a situagao o resul-
tado das relagdes entre atores, definidos tanto por suas
orientagdes culturais como por seus conflitos sociais”
(ibid.:35-36) Nesses termos 6 que Touraine desenvolve a
idéia de que a “decomposigao” do pensamento sociolégico
herdado do passado parece irreversivel. Trata-se da “crise
de um modelo classico de representagdo da vida social”,
acompanhada da “formagéo de um novo modelo, a partir
na Sociologia
197
198
Octavio anni
do qual pode desenvoiver-se uma orientagao sociolégica
mais especifica e mais coerente” (Touraine, 1985:16).
Entre os criticos que estao propondo novos modelos,
teorias ou paradigmas, 6 frequente a insisténcia na idéia
de que o objeto da sociologia mudou. Os classicos esta-
tiam apoiados em nogées que, se foram cabiveis no pas-
sado, ja nao atendem as peculiaridades do século 20.
Ao criticar as nogdes de capitalismo e industrialismo, que
seriam importantes nas sociologias de Marx e Weber,
Giddens sublinha a “informagdo»”, o “poder administrativo’,
© “poder militar’ a “guerra”, a ‘racionalizagao” e outras,
como aspectos basicos da “modernidade” do século 20.
Portanto, no se trata mais, como se fazia anteriormente,
de continuar a explicar a realidade social em termos de
industrialismo e capitalismo. “A dissolugao do mundo tradi-
cional, sob o impacto da modernidade, nao é 0 resultado
do capitalismo, do industrialismo, ou mesmo da concen-
tragao dos instrumentos administrativos pelos Estados
modernos. E 0 resultado de tudo isso, em combinagao com
os meios modernos de uso da forga militar e de fazer a
guerra” (Giddens, 1988-28). A modernidade é muito mais
complexa e fundamental do que sugerem as nogdes de
capitalismo e industrialismo. Cabe acrescentar outros
“parametros de modernidade’, dentre os quais se destaca
a parafernalia da informatica, “um dos mais caracteristicos
tragos da época moderna. Os Estados modernos, e o sis-
tema mundial moderno como um todo, envolvem uma tre-
menda aceleragao na produgéo e organizago de infor-
magao. Embora seja habitualmente suposto que apenas
agora, no final do século 20, estamos entrando na era da
informagéo, as sociedades modernas tém sido socieda-
des de informacdo desde os seus inicios” (ibid.:27). Em
sintese, trata-se de superar a “teoria da sociedade indus-
trial”, um residuo do século 19, um “mito” ultrapassado.
E “reconciliar uma epistemologia da ciéncia social, revista,
com novos esquemas para a anélise do desenvolvimento
das sociedades avangadas” (Giddens, 1976:703).
Uma parte importante dessa historia esta sinteti-
zada em livros e artigos de T. H. Marshall, Merton,
Mannheim, Florestan Fernandes, Gurvitch, Sorokin, Cuvil-
lier, C. W. Mills, Barrington Moore Jr., Gouldner, Giddens,
Collins, Bourricaud, Bourdieu, Touraine, Piaget, Lukacs,
Goldmann, Horkheimer, Adorno, Habermas, Gadamer, Ri-
coeur, Morin, Elster e outros. Uns se colocam radicalmente
A Crise de Paradigmas
em favor de novos paradigmas. Outros propdem reno-
vagdes ou desenvolvimentos dos classicos, incorporan-
do-se ai contribuigdes contemporaneas. E ha os que
reconhecem que a criagao de novos paradigmas nao
implica necessariamente na desqualificagéo dos outros.
Mesmo porque, na histéria do pensamento sociolégico,
ao lado das oposigdes e rupturas, registram-se também
convergéncias e continuidades. No conjunto, discutem-se
problemas relacionados tanto ao método como ao objeto
da sociologia. Discutem-se prioridades, ou acomodagées,
quanto & indugao quantitativa e qualitativa, a andlise sin-
cronica e diacrénica, ao contraponto das partes e 0 todo,
@ dinamica e @ estabilidade sociais, ao individuo e socie-
dade, ao objetivo e subjetivo. Aos poucos, formulam-se
novas teorias sociolégicas, tais como estruturalismo(s),
neo-funcionalismo, estrutural-funcionalismo, fenomenolo-
gia, etnometodologia, hermeneutica, sociologia da ago ou
acionalismo, individualismo metodolégico e outras. Formu-
lam-se outros temas e outros métodos de explicagao ou
compreensao, ao mesmo tempo que se inauguram outras
linguagens.
Ha algo de imaginario no debate sobre a crise da socio-
logia. Se 6 verdade que ha impasses reais no pre-
sente, também é verdade que as controvérsias sobre o seu
objeto séo mais ou menos permanentes. Dizem respeito
as exigéncias da produgao intelectual. Com a singulari-
dade de que a sociologia @ uma ciéncia que sempre
se pensa, a0 mesmo tempo que se realiza, desenvolve,
enfrenta impasses, reorienta. Talvez mais do que outras
ciéncias sociais, ela se pensa de modo continuo, criti-
camente. Hé uma espécie de sociologia da sociologia em
toda a produgo sociolégica de maior envergadura.
Entretanto, algumas vezes colocam-se problemas reais.
Gurvitch perguntou certa vez se a sociologia fez outra
coisa se nao passar por crises. E disse que algumas delas
colocaram quest6es basicas. “Crise das relagdes entre
filosofia da histéria @ sociologia, crise da procura do ‘fator
predominante”, crise do evolucionismo, crise do raciona-
lismo social, crise da “compreenséo” que rejeita a expli-
cago, ctise do formalismo, crise do psicologismo a Pareto,
a Freud e, mais recentemente, 4 Moreno, crise da relacao
entre a teoria sociolégica e a investigacéo empirica em
sociologia, avivando-se, segundo as caracteristicas espi-
na Sociologia
2. Classicos
@ contem-
poraneos
199
200
Octavio lanni
ituais de Sorokin, em testomania e quantofrenia.... Impor-
tante sobretudo aqui insistir no fato de todas as crises em
sociologia, independentemente da sua correspondéncia
com as crises sociais, as quais serviam de réplicas,
sempre terem estado ligadas ao problema da explicacao.
Ou que se tenha pretendido explicar demasiado, ou que
se tenha dado explicagdes falsas; reduzisse-se em de-
masia a explicagao a favor de uma simples constatagao,
ou, enfim—como nas investigagdes empiricas de hoje,
sobretudo nos Estados Unidos e entre os imitadores fran-
ceses dos americanos—tenha renunciado quase por
completo a explicagéo, transformando, no melhor dos
casos, a sociologia em sociografia” (Gurvitch, 1986, II:
525-526).
Alias, conforme lembra Merton, cada geragéo de so-
cidlogos tende “a identificar a sua epoca como um mo-
mento decisivo no desenvolvimento da disciplina, para
melhor ou para pior” (Merton, 1979:149). Em certos casos,
no entanto, a crise pode ser real, relativa a problemas de
explicagéo, impasses tedricos. Inspirado nas reflexdes de
Kuhn, sobre “ciéncia normal” e “revolugdes cientificas”,
Merton chama a atencdo dos socidlogos para problemas
de cunho epistemoldgico. “Os aspectos da sociologia que
supostamente fornecem os sinais @ sintomas da crise sao
de natureza familiar—uma mudanga e choque da doutrina
acompanhadas de uma tensdo aprofundada, e algumas
vezes conflito exaltado, entre os praticantes do oficio.
O choque implica a forte reivindicagao de que os paradig-
mas existentes so incapazes de resolver os proble-
mas que deveriam, em principio, ser capazes de resolver”
(ibid.:1.49) (1)
A controvérsia sobre os classicos e os contempora-
neos, em certos casos, envolve a tese de que a sociologia
€ uma ciéncia pouco amadurecida. A importancia dos tex-
tos classicos e a frequente volta a eles seriam indicios de
imaturidade, ciéncia em formacao, ainda nao constituida,
pre-paradigmatica. Dada essa imaturidade e, portanto, a
reduzida incorporago daqueles textos a0 corpus tedrico
da sociologia, os socidlogos contemporaneos s4o obriga-
dos a voltar continuamente a eles. Por isso, diz Merton, a
sociologia reluta em abandona-los. Todo socidlogo precisa
demonstrar um conhecimento de primeira mao daqueles
(*) Note-se que algumas reflexdes de Merton sobre paradigmas na
sociologia esttio inspiradas em Kuhn (1962)
A Crise de Paradigmas
que deixaram a sua marca na sociologia. “Embora 0 fisico,
enquanto fisico, nao precisa apoiar-se no Principia de
Newton, ou o bidlogo, enquanto tal, a ler e reler A Origem
das Espécies de Darwin, 0 socidlogo, enquanto socidlogo
antes do que historiador da sociologia, tem ampla razdo
para estudar as obras de Weber, Durkheim e Simmel e,
pelo mesmo motivo, a voltar ocasionalmente as obras de
Hobbes, Rousseau, Condorcet ou Saint-Simon... Os dados
mostram que a fisica e a biologia tem em geral sido mais
bem sucedidos do que as ciéncias sociais em recuperar 0
conhecimento acumulado e relevante do passado @ incor-
pora-lo nas formulagdes subsequentes. Este processo de
enriquecimento pela absorgdo é ainda raro na sociologia.
Como resultado, informagSes que n&o foram previamente
recuperadas estao ainda l4, pata serem empregadas de
forma adequada, como novos pontos de partida” (ibid.:
34-35).
© argumento parece forte, mas sustenta-se pouco.
Primeiro, esté baseado na idéia de que a sociologia
deveria pautar-se pelo modelo “paradigmatico” das cién-
cias naturais. Um argumento de origem positivista, reno-
vado com o neo-positivismo. Supée que a légica do conhe-
cimento cientifico 6 unica. E que dada ciéncia social se
constitui e amadurece na medida em que atinge os niveis
aleangados pelas mais desenvolvidas, no caso as naturais,
ou a fisica, a biologia. Essa é apenas uma posigao, no
Ambito das reflexes sobre epistemologia. Ha outras e
bastante elaboradas. As conquistas cientificas realizadas
por Weber e Simmel, Marx, Lukacs e Gramsci, Horkheimer,
Adorno e Marcuse, Habermas e Gadamer, além de outros,
abrem diferentes horizontes para a epistemologia das
ciéncias sociais, e ndo apenas para a sociologia. As dife-
rengas entre ciéncia natural e ciéncia social sao essenciais
e itreversiveis. Salvo © positivismo que informa algumas
tendéncias do funcionalismo, estrutural-funcionalismo e
estruturalismo, a dialéctica hegeliana e marxista, bem
como as diversas orientagdes de fenomenologia, esta-
belecem nitidas diferengas entre ciéncia da natureza e
ciéncia social. Em termos epistemolégicos, a sociologia,
e as outras ciéncias sociais, nao podem prescindir da
compreensdo, da explicagao compreensiva. As possibi-
lidades da pesquisa, experimentagdo, descrigao e expli-
cacéo, abertas pela ciéncia da natureza, pouco servem
para o estudo da realidade social. O conceito, categoria,
na Sociologia
201
202
Octavio lanni
lei de causa e efeito, lei de tendéncia, condigéo de possi-
bilidade ou previsao, somente se constituem na medida em
que apanham, codificam, taquigrafam, as singularidades e
universalidades envolvidas nas configuragSes e nos movi-
mentos da realidade social.
Segundo, ha 0 oposto propriamente ontolégico da
questdo. O objeto da sociologia, bem como das outras
ciéncias sociais, envolve o individuo e a colectividade,
as relagdes de coexisténcia e sequéncia, diversidades e
antagonismos. Diz respeito a seres dotados de vontade,
querer, devir, ideais, ilusdes, consciéncia, inconsciente,
racionalidade, irracionalidade. Os fatos e acontecimentos
sociais s4o sempre materiais e espirituais, envolvendo
relagées, processos e estruturas de dominagao, ou poder,
apropriagéo, ou distribuigao. Implicam em. individuos,
familias, grupos, classes, movimentos, instituigdes, pa-
drées e comportamento, valores, fantasias. Esse 6 0
mundo da liberdade e igualdade, trabalho e alienagao,
sofrimento e resignacao, ideologia e utopia.
Terceiro, a sociedade burguesa, industrial, capitalista,
moderna ou informatica, moditica-se ao longo do tempo.
Mas guarda algumas caracteristicas essenciais. E diferente
@ mesma. No comego, falava-se no “individualismo posses-
sivo", descoberto pela economia classica e os primeiros
pensadores sociais interessados em explicar a emergéncia
2 0 tecido da sociedade civil. Em fins do século 20, fala-se
no “individualismo metodoldgico’, acompanhado da “es-
colha racional’, duas descobertas das ciéncias sociais
nos tempos da modernidade, compreendendo o margina-
lismo hedonista, 0 neo-liberalismo e o marxismo analitico.
O dilema individuo e sociedade continua a ser essencial,
se queremos entender a trama das relagdes sociais, os es-
pagos da liberdade, as condigdes da opressao. O mundo
formado com a sociedade moderna, industrial, capitalista,
nao € o mesmo no século 19 e no 20. Modificou-se subs-
tancialmente, esta informatizado. Os meios de comuni-
cago, em sentido amplo, revolucionaram as condigdes de
produgo, distribuigéo, trocas e consumo, em termos mate-
riais e espirituais. As burocracias pUblicas e privadas
ampliaram muito 0 seu raio de acao, influéncia, indugao.
Tudo mudou. Mas muita coisa subsiste, ainda que re-
criada, necessariamente recriada. Em esséncia, a socie-
A Crise de Paradigmas
dade moderna, burguesa, informatica, baseia-se em alguns
principios que se reiteram no largo da historia. Nem a
ciéncia nem a técnica, ou informatica, alteraram a natureza
essencial das relages, processos e estruturas de apro-
priagdo, ou distribuic&o, e dominag&o, ou poder. No limiar
do século 21, guardam-se aspectos essenciais do 19:
liberdade e igualdade, trabalho e alienagao, sofrimento e
resignagao, ideologia e utopia. “A auséncia de espirito,
caracteristica da modernidade racionalizada, nado @ apenas
refletida nas paginas finais de A Etica Protestante de
Weber; é criada por ele, Para entender a modernidade
racionalizada, néo se pode apenas observarla: precisa-se
voltar ao trabalho pioneiro de Weber, a fim de aprecia-lo e
experiencia-lo outra vez. Semelhantemente, 0 que é@ opres-
sivo e sufocante na modernidade nao sera nunca suficien-
temente formulado como em O Homem Unidimensional de
Marcuse” (Alexander, 1987). Ocorre que alguns classicos
tevelam de forma particularmente exemplar, privilegiada,
visionaria, nao sé 0 que viram, mas também o que vemos.
Em seu tempo, Weber dizia que “o mundo em que espiri-
tualmente existimos é¢ um mundo assinalado, em grande
parte, pelas marcas de Marx e Nietzsche” (*). Ocorre que
© mundo que Weber conheceu ainda tinha muito daquele
que Marx e Nietzsche haviam conhecido. Da mesma ma-
neira que a modernidade racionalizada, revelada por
Weber, tem muito da modernidade opressiva e sufocante
tevelada por Marcuse.
Ha momentos légicos da reflexdo sociolégica sem os
quais 0 ensino e a pesquisa contemporaneos dificilmente
poderiam desenvolver-se. Estes sao alguns desses mo-
mentos: aparéncia e esséncia, parte e todo, singular e uni-
versal, sincrénico e diacrdnico, histérico e ldgico, passado
e presente, sujeito e objeto, teoria @ pratica. E claro que a
teflexao cientifica pode basear-se maiormente em alguns,
deixando outros em segundo plano, Nem sempre a mono-
grafia e o ensaio mobilizam todos. Entretanto, necessa-
tiamente mobilizam alguns. Dizem respeito a razao cien-
tifica. Caso contrario, 0 produto da atividade intelectual
corre o risco de ficar no meio do caminho, realizar-se
apenas como descriga0, foclorizagao, ideologizagao. Ou
apresentar-se como sucedaneo da ficgo, nem sempre
com talento artistico.
@) Weber, citado por Josyr-Kowalski (1971264)
na Soci
3. Teoria e
paradigma
logia
203
204
Octavio lanni
Um dos requisitos légicos fundamentais da interpre-
tac&o na sociologia diz respeito a historicidade do social.
O contraponto passado e presente é essencial, se se trala
de explicar ou compreender a realidade social. Toda inter-
Pretagao que perde, minimiza ou empobrece 0 momento
do real, sacrifica uma dimensao basica desse mesmo real.
Esta 6 uma conquista importante do pensamento socio-
légico e das outras ciéncias sociais. A realidade social é
um objeto em movimento, As suas configuragdes estaveis,
normais, estaticas, sincrénicas, representam momentos,
sistemas, estruturas da mudanga, dinamica, modificagao,
transformacao, historicidade, devir.
Precisamente ai esta uma das limitagées de algumas
teorias sociolégicas contemporaneas. Nao levam em conta
essa conquista do pensamento sociolégico. Em busca de
novas linguagens e da redefinigao do objeto da sociologia,
sactificam as tensGes diacrénicas do real. Imaginam que
as configuragGes resolvem a diacronia, captando 0 mo-
mento do real, perdendo 0 movimento do real.
Uma parte da controvérsia sobre paradigmas classicos
e contemporaneos passa pelo problema da historicidade
da realidade social. Entre os contemporaneos s40 frequen-
tes as propostas tedricas que simplesmente abandonam ou
empobrecem a perspectiva histérica. Como se fosse pos-
sivel eliminar das relag6es, processos e estruturas, de
dominagéo e apropriacdo, os seus movimentos e as suas
tensdes. Como se a tealidade social pudesse sempre
resolver as suas diversidades, desigualdades e antagonis-
mos no Ambito das configuragdes sincrénicas. Como se
© real nao estivesse essencialmente atravessado pela
relagéo de negatividade. Dai a imagem abstrata, rarefeita,
cerebrina, que transparece em estudos como os do estru-
tural-funcionalismo de Parsons. “A idéia-chave dessa teo-
ria, como o leitor deve estar lembrado, 6 0 ponto de vista
de que para toda sociedade existe certo numero limi-
tado de atividades necessarias, ou “fungdes”, tais como a
obtengao de alimento, 0 adestramento da préxima gerago
etc. e um numero igualmente limitado de “estruturas”, ou
maneiras pelas quais a sociedade pode ser organizada
para realizar essas fung6es. Em esséncia, a teoria estru-
turo-funcionalista busca os elementos basicos da socie-
dade humana, abstraida de tempo e lugar, junto com as
regras de combinaggo desses elementos. Dé a impressdo
de procurar algo na sociedade humana correspondente
A Crise de Paradigmas
tébua periddica dos elementos na quimica” (Moore,
1962:125-126) (3).
Esse é um ponto essencial no debate sobre aspectos
ontolégicos e epistemolégicos da sociologia. Trata-se de
aperfeigoar e desenvolver a teoria sociolégica, sem perder
a dimensao histérica da realidade social. A influéncia de
paradigmas emprestados das ciéncias fisicas e naturais
tem levado certos socidlogos a uma espécie de pasteu-
rizagao da realidade social, 0 que evidentemente so
expressa no conceito, na interpretagao. “No presente a
sociologia esté dominada por uma espécie de abstraccdo,
dando a impresséio de que lida com objectos isolados, em
estado de repouso. Mesmo o conceito de mudanga social
6 frequentemente usado como se referido a um estado
fixo. Pode-se dizer que se 6 forgado a ver o estado de
repouso como normal; e o movimento como um caso
especial” (Elias, 1978:115).
O declinio da perspectiva histérica 6 algo relativamente
generalizado na sociologia e no pensamento social con-
temporaneo. Um processo que ja se havia manifestado
incipiente no positivismo de Comte, bem como na econo-
mia politica vulgar, acentua-se posteriormente e parece
expandir-se bastante nos tempos atuais. “Um crescente
‘cansago da historia’ caracteriza, ao menos no Ocidente, a
segunda metade do século 20. As técnicas de pesquisa da
ciéncia social atual, extremamente tefinadas, e orientadas
em um sentido quantitative, deslocam cada vez mais o
pensamento histdrico do lugar que ocupava no ambito da
llustragao e do idealismo alemao, em Dilthey, nas tradi-
cionais ciéncias do espirito, na filosofia da vida e também
na filosofia da existéncia” (Schmidt, 1973:13).
Acs poucos, as tecnologias da pesquisa, matematicas
informaticas, invadem o objeto e 0 método da sociologia.
A modernizagéo da atividade cientifica, com base na insti-
tucionalizagao, burocratizagao, industrializagao, formagao
de equipes numerosas de seniors e juniors, trabalhando
com equipamentos electrénicos, informaticos, matema-
ticos, provoca alteragdes na definigao do objeto e das con-
digdes légicas © tedricas da intorprotagao. “A desintegra-
ao das ciéncias humanas tem a sua origem, no fundo, em
uma iluséo perseguida com metédica obsess4o, que con-
siste em crer na possibilidade de fugit, do contexto cons-
(©) Consuitar também C. Wright Mills (1959)
na Soci
logia
205
206
Octavio lanni
ciente da histdria humana e das suas sempre renovadas
decisées valorativas e de poder, para a ahistoricidade das
formulas matematicas” (‘).
Aqui cabe lembrar 0 que j4 havia sido posto por Hegel
@ retomado varias vezes posteriormente, nas controvérsias
sobre quantidade e qualidade. A inducdo quantitativa nao
participa do objeto, ndo faz parte dele, 6 exterior. Apanha
estruturas externas ao ser social. "Em outras palavras, a
verdade acerca de objetos matematicos existe fora deles,
No sujeito do conhecimento. Esses objetos, portanto, sao,
em sentido estrito, ndo-verdadeiros, entidades inessenciais
externas” (Marcuse, 1960:98) (5).
Sao varios os problemas epistemolégicos que precisa-
riam ser melhor examinados, se quisessemos esclarecer
mais a controvérsia sobre a crise de paradigmas na socio-
logia. Além dos ja analisados, em forma breve, cabe lem-
brar o da relagao sujeito-objeto do conhecimento. Na so-
ciologia, essa 6 sempre uma relagdo complexa, com sérias
implicagSes quanto ao objeto e método. As diversas per-
spectivas tedricas mostram que a relagdo sujeito-objeto
nem sempre se resolve numa tranquila relagao de exte-
rioridade, como se o real e oO pensado se mantivessem
incdlumes. Essa 6 uma hipétese do positivismo e esta
presente no funcionalismo, estruturalismo, estrutural-fun-
cionalismo © outras teorias. Mas a sociologia inspirada na
fenomenologia sempre carrega a hipdtese da cumpli-
cidade. A redugéo fenomenolégica e a hermenéutica ten-
dem a tornar ambos cumplices do conhecimento, objeto e
sujeito. As passo que a sociologia de inspiragao dialética,
se pensamos em Marx, Lukacs, Gramsci e alguns outros,
leva A hipdtese de dependéncia mitua, da reciprocidade.
© sujeito © 0 objeto constituem-se simultanea, recipro-
camente. A reflexao cientifica pode corresponder a um
momento fundamental da constituigao do real. Enquanto
nao se constitui como categoria, concreto pensado, plano
de determinagdes, o real esta no limbo.
Sao varios os momentos légicos da reflexéo socio-
\égica, se pensamos em termos de aparéncia e esséncia,
parte e todo, singular © universal, qualidade e quantidade,
sincrénico e diacrénico, histérico e ldgico, passado e pre-
sente, sujeito e objeto, teoria e pratica. Mas as teorias nao
(() Herbert Luthy, conforme citagéo de Schmidt
() Consultar também: Mannheim (1953), cap.
logy», e Blumer (1956).
1973:13-14).
/, «American Socio-
A Crise de Paradigmas
©s mobilizam sempre nos mesmos termos, de modo sin-
gular, homogéneo. Alias, as teorias distinguem-se, entre
Outros aspectos, precisamente porque conferem entase
diversa aos momentos ldgicos da reflexao. Ha conceitos
sociolégicos que s8o comuns a varias teorias. As vezes o
‘objeto 6 concebido de maneira semelhante. Mas a inter-
pretagéo pode nao ser precisamente a mesma. E quando
a interpretagao se revela diversa, logo se constata que a
importéncia relativa dos momentos légicos da reflexdo nao
6 exatamente a mesma. Nesse sentido 6 que as teorias
podem ser mais ou menos distintas, distantes ou opostas.
Entretanto, a multiplicidade das teorias nao implica,
necessariamente, na multiplicidade de epistemologias.
E possivel supor que dada epistemologia pode fundamen-
tar diferentes propostas tedricas. Aliés, quando buscamos
os principios epistemolégicos em que se fundam as
teorias, verificamos que dada epistemologia parece fun-
damentar diversas teorias. Nesse sentido 6 que Elster
Sugere que existem basicamente ‘tras tipos principais de
explicagao cientifica: a causal, a funcionalista e a inten-
cional" (Elster, 1989:181). S80 os paradigmas, ou prin-
cipios, que sintetizam as possibilidades de explicagao
cientifica. Afirma que a abordagem causal é comum a
todas as ciéncias, naturais e sociais. Mas diz que a expli-
cagao funcionalista néo tem cabimento nas ciéncias
sociais. Baseia-se em uma analogia equivoca, retirada da
biologia. E acrescenta que nas ciéncias sociais as expli-
cagées podem ser baseadas na ‘causalidade intencional”,
com variagdes, conforme se trate de processos internos
aos individuos ou processos relativos a interagdo entre
individuos. “As ciéncias sociais usam extensamente
a analise intencional, no nivel das ag6es individuais.
A anélise funcionalista, entretanto, nao tem lugar nas
ciancias sociais porque nao existe analogia sociolégica a
teoria da selegao natural. O paradigma adequado para as
ciéncias sociais é uma explicagéo causal-intencional mista
—compreensao intencional das agGes individuais e expli-
cago causal de suas interagdes *(ibid.: 181) (*).
Podemos discordar de alguns aspectos da “lilosofia da
ciéncia’, ou “paradigma”, que Elster esta propondo para as
ciéncias sociais. Mas nao ha divida de que ele pde o
() © mesmo problema estd oxaminado em Elster (1979).
na Sociologia
4. Principios
explicativos
207
208
Octavio lanni
problema basico: alguns paradigmas fundamentam multi-
plas teorias.
As teorias sociologicas do passado e presente orga-
nizam-se, em Ultima instancia, com base em principios
explicativos fundamentais. E verdade que ha variagoes,
convergéncias, nuangas, divergéncias. Mas predominam
alguns principio, constituindo os fundamentos dos para-
digmas conhecidos na_ sociologia.
Uma relagao das teorias sociolégicas, passadas e pre-
sentes, naturalmente incluiria evolucionismo, positivismo,
funcionalismo, marxismo, compreensivo ou tipico ideal,
hiper-empirismo dialético, neo-funcionalismo, estrutura-
lismo, estrutural-funcionalismo, teoria da troca, teoria do
conflito, interacionismo simbdlico, fenomenologia, etnome-
todologia, hermenéutica, sociologia da aco social ou acio-
nalista, teoria do campo sociolégico, teoria da estrutu-
ragao, sociologia sistémica, individualismo metodoldgico,
teoria critica da sociedade e outras. Sao teorias distintas
‘ou aparentadas. Dialogam entre si, mas também se opdem
e contrapdem. Implicam em diferentes nogdes do objeto,
apesar do acordo mais ou menos geral sobre o que é 0
social. Baseiam-se em diferentes métodos de interpre-
taco, envolvendo a explicagdo, a compreensdo, a expli-
cagéo compreensiva. Lidam com os momentos légicos da
reflexdo de forma peculiar, priorizando uns em lugar de
outros. Certas teorias possuem cunho histérico, ao passo
que outras focalizam a realidade em termos supra-histo-
ricos. E ha as que se mostram simplesmente ahistéricas.
Também a relacéo sujeito-objeto é diferenciada, polari-
zando-se em trés modalidades principais: exterioridade,
cumplicidade e reciprocidade.
Mas 6 possivel dizer que as teorias sociolégicas do
passado e presente organizam-se, em ultima instancia,
com base em principios explicativos tais como os seguin-
tes: evolugdo, acusacao funcional, estrutura significativa,
redugao fenomenoldgica, conexao de sentido e contra-
digo. Neste ponto é que a controvérsia sobre os paradi
mas precisaria demorar-se mais. Ai o debate sobre a crise
de paradigmas na sociologia tem muito a realizar, se quer
elucidar os fundamentos da questao.
Note-se que a nogdo de paradigma compreende uma
teoria basica, uma formula epistemolégica geral, um modo
coerente de interpretar ou um principio explicativo funda-
mental. Envolve requisitos epistemoldgicos e ontolégicos,
A Crise de Paradigmas
caracterizando uma perspectiva interpretativa, explicativa
ou compreensiva, articulada, internamente consistente. Na
linguagem da sociologia, um paradigma compreende a
articulagao dos momentos légicos essenciais da reflexao:
aparéncia e esséncia, parte e todo, singular e universal,
sincrénico e diacrénico, quantidade e qualidade, historico
@ Iégico, passado e presente, sujeito e objeto, teoria e
pratica, Momentos ldgicos esses que se traduzem interpre-
tativamente em evolugo, causaggo funcional, estrutura
significativa, redugéo fenomenolégica, conexao de sentido
e contradigao.
E claro que essa nogdo de paradigma deixa de lado a
acepgao sociolégica, ou melhor, sociologistica, que privile-
gia © conjunto de habitos comuns aos que se dedicam ao
ensino e pesquisa, as codificagdes estabelecidas em
manuais, 0 lagos institucionais e 0 jargao proprio de cada
grupo de socidlogos reunidos em centros, institutos, depar-
tamentos ou outros lugares. Naturalmente esta acepgdo
apresenta algum interesse, se queremos conhecer as
condigdes sociais, politicas, ideolégicas, institucionais,
materiais e técnicas de produg&o e reprodugdo do conhe-
cimento cientifico. Mas nao 6 suficiente, se queremos
elucidar questées relativas ao objeto da sociologia (Mas-
terman, 1979; Barnes, 1986; Santos, 1977; Boudon, 1977,
esp. cap.Vil, intitulado “Déterminismes Sociaux et Liberté
Individuelle”).
Vejamos alguns exemplos, nos quais se podem cla-
rificar um pouco mais as relagdes entre teoria e paradigma.
Merton dedica-se bastante ao funcionalismo e pode
ser considerado o principal tedrico do que poderiamos
denominar neo-funcionalismo. Esta preocupado com o
paradigma, enquanto codificacao da teoria, dos requisitos
fundamentais da explicagdo sociolégica. Propée “um para-
digma para a analise funcional na sociologia” (Merton,
1951, esp. cap. Il; e 1967, esp. cap. Il). Essa é uma con-
tribuigéo importante, na qual conceitos e procedimentos
légicos s40 precisados, aprimorados. E inegavel a con-
tribuigao de Merton para a teoria. Entretanto, cabe pergun-
tar se a sua teoria funcionalista inaugura propriamente um
paradigma, ou apenas dA continuidade e inova outro ja
disponivel. Haveria diferengas essenciais entre os paradig-
mas de Merton e Durkheim ou seriam complementares?
Em outros termos, ha principalmente continuidades entre
As Regras do Método Sociolégico de Durkheim e “FungSes
na Sociologia
209
210
Cetavio lanni
Manifestas e Latentes” do livro Teoria Social e Estrutura
Social de Merton. S40 muito fortes as evidéncias de que
Merton efetivamente repde, retoma e desenvolve, em outra
linguagem, o paradigma formulado por Durkheim. Se falar-
mos em teorias, supondo que Merton e Durkheim sao
autores de duas teorias sociolégicas, podemos admitir que
ambas inspiram-se no mesmo principio explicativo, de
causagao funcional. A despeito do seu empenho em
formalizar um paradigma neo-funcionalista, parece evi-
dente que reitera o principio de causagao funcional codi-
ficado por Durkheim. Principio esse que ja havia sido
retomado por Malinowski, Radcliffe-Brown e outros. Na-
turalmente realiza contribuigoes da maior importancia,
quando elabora as nogdes de fungSo manifesta e fungao
latente; quando se empenha em demonstrar que o funcio-
nalismo nao implica, necessariamente, em uma visao con-
servadora da realidade social. Mas nem muda nem corrige,
apenas aperfeigoa, o paradigma codificado anteriormente
por Durkheim em seus estudos metodolégicos e em suas
monografias. Um paradigma com muita influéncia no pen-
samento sociolgico, presente em varias teorias sociolé-
gicas contemporaneas (Fernandes, 1959, esp. parte Ill;
Gouldner, 1970).
Um raciocinio semelhante pode ser feito a propdsito de
Gramsci, no contraponto com Marx. E claro que ai tam-
bém ha invengdes a considerar. A linguagem de Gramsci é
outra. Contem menos economia politica, outra histéria.
Gramsci elabora as categorias de hegemonia, bloco de
poder, intelectual organico e outras. E o autor de uma
teoria razoavelmente articulada, consistente, compreen-
dendo também classes subalternas, guerra de posicao e
guerra de movimento, Ocidente e Oriente. Em uma com-
paracéo com a de Marx, fica logo evidente que s4o duas,
com semelhangas e diferengas. Entretanto, 0 paradigma
& em essencia 0 mesmo. Ambas as teorias apoiam-se no
principio da contradigao, que funda um paradigma (Cou-
tinho, 1981; Macciocchi, 1976).
Alias, cabe reconhecer que ha dialogos, implicitos e
explicitos, entre representantes de diferentes paradigmas.
Indicam problemas metodolégicos merecedores de aten-
a0. Permitiriam ilag6es. Ao analisar a divisao do trabalho
social, como um processo relativo 20 conjunto da socie-
dade, compreendendo aspectos sociais, economicos,
politicos ¢ culturais, Durkheim leva a nogao de anomia
A Crise de Paradigmas
bastante préxima da de alienagao, formulada por Marx.
O proprio conceito durkheimiano de divisio do trabalho,
por suas especificidades © abrangéncias, lida com proble-
mas que também haviam atraido a atengéo de Marx,
quando se referia as dimensdes singulares, particulares e
gerais desse processo social abrangente, do alcance
historico. Também Weber e Marx encontram-se algumas
vezes. Conforme sugere 0 prdprio Weber, “todas as leis e
construgSes do desenvolvimento histérico especiticamente
marxistas possuem um caracter de tipo ideal, na medida
em que sejam teoricamente corretas” (Weber, 1979:118).
© didlogo continua. Na sociologia contemporanea, os mes-
mos Weber e Marx, passando por Lukacs, sao indis-
pensaveis, se queremos compreender algumas das teses
basicas da teoria critica da sociedade, formuladas por
Horkheimer, Adorno e Marcuse.
O problema pode ser colocado assim: as teorias socio-
légicas contemporaneas lidam com alguns principios exp!
cativos fundamentais, comuns. Estes tém sido elaborados
por socidlogos, cientistas sociais e filésofos, na época dos
classicos, na transigao do século e contemporanea-
mente. As teorias multiplicam-se. H& continuas orienta-
g6es, quanto ao objeto e método, conceitos e interpre-
tagdes, temas e linguagens. Em certos casos ocorre a
teiteragSo de principios explicativos, aperieicoados ou nao;
ao passo que em outros verifica-se algo de novo, a inven-
¢a0_ paradigmatica.
Vista assim, em alguns dos seus aspectos relevantes,
a controvérsia sobre paradigmas, bem como teorias e
paradigmas, ajuda a explicitar determinadas singularidades
da sociologia, como ciéncia social. Sao singularidades do
maior interesse, por suas implicagdes epistemolégicas @
ontolégicas, Vejamos quais sao, em modo breve.
Primeiro, a sociologia pode ser considerada uma cién-
cia que se pense criticamente, todo o tempo. O socidlogo
tanto produz interpretagdes substantivas como assume
e desenvolve as suas contribuigdes, duvidas, polémicas.
HA um debate metodolégico frequente nao sé nas entre-
linhas @ notas, mas também em escritos basicos de socid-
logos das mais diversas tendéncias, passados e contem-
pordneos. Em boa medida, as polémicas sustentadas por
Marx, Durkheim, Weber, Lukacs, Gramsci, Wright Mills,
Gouldner, Barrington Moore Jr., Gurvitch, Merton, Adorno,
Popper, Habermas e outros tém algo ou muito a ver com
na Sociclogia
211
212
Octavio lanni
o marxismo. E retomam ou iniciam discuss6es da maior
imporiancia sobre o objeto e o método da sociologia.
Segundo, cabe reconhecer que o objeto da sociologia
@ a realidade social em movimento, formacgao e trans-
formagao. Essa realidade 6 alheia e interna a reflexao.
© objeto © 0 sujeito do conhecimento distinguem-se @ con-
fundem-se. Ha todo um complexo exorcismo em toda inter-
pretacao, explicagao ou compreensdo dessa realidade. Ela
& um ser do qual o sujeito participa, em alguma medida,
pelo universo de praticas, valores, ideais, fantasias. Simul-
taneamente, @ um ser em movimento, modificagao, devir,
revolugao. Desafia todo o tempo o pensamento, como algo
conhecido @ incognito, transparente e opaco. Estava no
passado e estd no presente, mesmo e diferente.
Terceiro, a sociologia € uma forma de auto-consciéncia
cientifica da realidade social. Tem raizes nos impasses,
problemas, lutas e ilusdes que desafiam os individuos,
grupos, classes, movimentos, partidos, setores, regiées e
a sociedade como um todo. E claro que as formulas dos
socidlogos s4o individuais. HA aqueles que reconhecem
alguma, ou muita, relagao entre as suas reflexdes ¢ 0
jogo das forgas sociais, grupos, classes etc. Toda pro-
dugao sociolégica aparece identificada com um nome,
autor, escola, instituigdo, centro, instituto. Mas a sociologia
do conhecimento j& avangou o suficiente para revelar, a
uns e outros, que o pensamento sociologico guarda uma
telagao complexa e essencial com as condigGes de exis-
téncia social, ou configuracdes sociais de vida, de setores,
grupos, classes ou a sociedade como um todo. E quando
se torna possivel reunir produgdes sociolégicas de orien-
tagao tedrica semelhante, logo resulta a idéia de estilo de
pensamento, ou visio do mundo.
Quarto, o desafio permanente e reiterado diz respeito a
telagéo entre ciéncia e arte, teoria e técnica, conhecimento
e@ poder ou teoria e pratica. O pensamento socioldgico
classico, da passagem do século e contemporéneo, sem-
pre tem algo a ver com a pratica, tanto em sua origem
como em seu destino. Dai o longo debate sobre a busca
da iseng&o, neutralidade, distanciamento ou vocagéo da
sociologia. Esse 6 um desafio permanente na histéria do
pensamento sociolégico. Esta no centro da polémica con-
temporanea simbolizada nos escritos de Adorno e Popper.
“A controvérsia que divide hoje positivistas e dialéticos
refere-se, sobretudo em seu niicleo, as finalidades prati-
A Crise de Paradigmas
cas do estudo, a seus respectivos interesses em modificar
a realidade social, que é 0 que orienta os seus trabalhos
tedricos e 0 que determina, no fundo, as suas metodolo-
gias diferentes” (Baier, 1969:12)
Quinto, na sociologia o sujeito do conhecimento é indi-
vidual e coletivo. O socidlogo naturalmente disp6e de
todas as condicées para astabelecer 0 seu objecto de
estudo. E evidente 0 estilo pessoal do autor do escrito,
na interpretagdo. Mas uma leitura mais atenta logo indicard
© dialogo, o engajamento, a reciprocidade, implicita ou
explicitamente, do autor com este ou aquele setor social,
grupo, instituigéo, classe, movimento, partido, corrente
de opiniao publica, sociedade. Sao frequentes as obras de
sociologia que expressam um autor e uma configuragao,
um eu e um nds, um sujeito simultaneamente individual @
coletivo do conhecimento. E dai que nasce o pathos de
algumas obras fundamentais da sociologia. .
na Sociologia
213
214
Octavio lanni
Referéncias
Bibliograficas
Alexander,
vettrey C.
Baier, Horst
Barnes, Barry
Blumer, Herbert
Boudon, Raymond
Bourricaud,
Frangois
Coutinho,
Carlos Nelson
Elias, Norbert
Elster, Jon
Elster, Jon
Fernandes,
Florestan
Giddens, Anthony
Giddens, Anthony
Gouldner, Alvin W.
Gurvitch, Georges
Josyr-Kowalski,
Stanislaw
1987
1969
1986
1956
1977
1975
1981
1978
1979
1989
1959
1976
1988
1970
1986
1971
“The Centrality of the Classics’. in Anthony Giddens e
Jonathan Turner (Editors), Social Theory Today.
Cambridge: Polity Press.
“Tecnologia Social o Liberacion Social? La Polemica
entre Positivistas y Dialectivos sobre la Mision de la
Sociologia’. in Bernhard Schaters (org), Critica de la
Sociologia (tradugéo de Miguel Mascilino), Caracas,
Monte “Avila Editores: 9-29
T. 8. Kuhn y las Ciencias Sociales. (trad. de Roberto
Helier) México: Fondo de Cultura Economica.
“Sociological Analysis and the ‘Variable". American
Sociological Review, vol. 21, 6.
Effets Pervers et Ordre Social. Paris: Presses
Universitaires de France.
“Contre le Socialisme: une Critique et des Propositions”
Revue Frangaise de Sociologie, vol. XVI, Supplément:
583-603.
Gramsci. Porto Alegre: L & PM Editores.
What is a Sociology? (trad. de Stephen Mennell e Grace
Morrissey, com prefacio de Reinhard Bendix) Londres:
Hutchinson & Co. Publishers
Ulysses and the Sirens. Studies in Relationality and
Irrationality. Cambridge: Cambridge University Press.
“Marcismo, Funcionalismo © Teoria dos Joges" (trad. de
Regia de Castro Andrade). Lua Nova, n® 17: 163-204.
Fundamentos Empiricos da_Explic 10 Sociolégica, Sao
Paulo: Companhia. Ecitora, Nacional, e
“Classical Social Theory and the Origins of Modem
Sociology". American Journal of Sociology, vol. 81,
4:703-729.
Social Theory and Modern Sociology. Cambridge: Polty
Tess,
The Coming Crisis of Western Sociology. New York:
Basic Book Publishers.
A Vocagao Atual da Sociologia. (trad. de Orlando Daniel)
Lisboa: Edigsos Cosmos.
“Weber y Marx’. in José Sazbén, Presencia de Max
Weber. Buenos Aires: Ediciones ‘Nueva Visién.
Kuhn, Thomas S.
Macciocchi,
Maria-Antonietta
Mannheim, Kari
Mannheim, Karl
Marcuse, Herbert
Marshall, T. H.
Masterman,
Margaret
Merton, Robert K.
Merton, Robert K.
Merton, Robert K.
Mills, C. Wright
Moore Jr.,
Barrington
Santos, Irineu
Ribeiro’ dos
Schmidt, Alfred
Sorokin, Pitirim A.
Touraine, Alain
Touraine, Alain
Weber, Max
1975
1976
1949
1953
1960
1967
1979
1951
1967
1979
1959
1962
1977
1973
1956
1984
1985
1979
A Crise de Paradigmas
na Sociologia
A Esuutura das Revolugées Cientificas (trad. de Beatriz
Vianna Boeira e Nelson Bosira). Sao Paulo: Editora
Perspectiva. [1962]
A Favor de Gramsci ('rad. de Angelina Peralva) Rio de
Janeiro: Editora Paz e Terra
Man and Society in an Age of Reconstruction Londres:
Routledge & Kegan Paul,
Essays on Sociology and Social Psychology. Londres:
Routledge & Kegan Paul
Reason and Revolution. Hegel and the Rise of Social 215
Theory. Boston: Beacon Press.
Cidadania, Classe Social e Status (trad. de Meton Porto
Gadelha). Rio de Janeiro: Zahar Editores.
"A Natureza do Paradigma’. In Imre Lakatos @ Alan
Musgrave (orgs.) A Critica @ o Desenvolvimento do
Conhecimento (trad. de Octavio Mendes Cajado).
Sao Paulo: edi Cultrix: 72-108.
Social Theory and Social Structure. Toward the
Cocitcation, of Theory and Research. Mincis:
The Free Press of Glencoe
On Theoretical Sociology. New York: The Free Press.
A Ambivaléncia Sociolégica e Outros Ensaios (trad. de
Maria José Silveira). Rio de Janeiro: Zahar Editores.
The Sociological Imagination. New York: Oxford
University Press.
Political Power and Social Theory. Seven Studies.
New York: Harper & Row Publishers.
Os Fundamentos Sociais da Ciéncia. Sao Paulo:
Editora Polis.
Historia t Estructura (trad. de Gustavo Mufioz). Madrid:
Alberto. Editor.
Fads and Folbles in, Modern Sociology and Related
Sciences. Chicago: Henry Regnery Company.
Le Retour de L’Actour. Paris: Fayard.
“Les transformations do l'analyse sociologique’. Cahiers
internatonaux de Sociologie, Vol LXXVII15-25.
“A ‘Objetividade’ do Conhecimento nas Ciéncias Sociais*
dn Gabriel Cohn (ora), Weber (trad. de Amélia Cohn e
Gabriel Cohn). Sao’ Paulo: Editora Atica:79-127.
Você também pode gostar
- Décio Saes - A Política Neoliberal e o Campo Político Conservador No Brasil Atual in República Do CapitalDocumento6 páginasDécio Saes - A Política Neoliberal e o Campo Político Conservador No Brasil Atual in República Do CapitalAnonymous SXfoNxlVCAinda não há avaliações
- Peter Gowan - Cap 2 Mercados de Capital-Sistemas Financeiros e o Sistema Monetário Internacional Do Pós-Guerra in A Roleta Global 2003Documento9 páginasPeter Gowan - Cap 2 Mercados de Capital-Sistemas Financeiros e o Sistema Monetário Internacional Do Pós-Guerra in A Roleta Global 2003Anonymous SXfoNxlVC100% (1)
- Luiz Cunha e Moacyr Góes - O Golpe Na EducaçãoDocumento48 páginasLuiz Cunha e Moacyr Góes - O Golpe Na EducaçãoAnonymous SXfoNxlVCAinda não há avaliações
- Max Weber - Tipos Puros de Dominação Legítima - TabelaDocumento1 páginaMax Weber - Tipos Puros de Dominação Legítima - TabelaAnonymous SXfoNxlVCAinda não há avaliações
- Paulo Sérgio Pinheiro - Estado e TerrorDocumento9 páginasPaulo Sérgio Pinheiro - Estado e TerrorAnonymous SXfoNxlVCAinda não há avaliações
- Plano de Ensino - Teoria Política IDocumento3 páginasPlano de Ensino - Teoria Política IAnonymous SXfoNxlVCAinda não há avaliações
- Donatella Della Porta - Entre o Estado e o Poder-O Que É Política in Porta-Introdução À Ciência Política 2003Documento20 páginasDonatella Della Porta - Entre o Estado e o Poder-O Que É Política in Porta-Introdução À Ciência Política 2003Anonymous SXfoNxlVCAinda não há avaliações
- Plano de Ensino - História Da Economia BrasileiraDocumento6 páginasPlano de Ensino - História Da Economia BrasileiraAnonymous SXfoNxlVCAinda não há avaliações
- Introdução Às Ciências Sociais II - Plano de Ensino 2018-2Documento7 páginasIntrodução Às Ciências Sociais II - Plano de Ensino 2018-2Anonymous SXfoNxlVCAinda não há avaliações
- Ementa Introdução À Economia UFSCDocumento3 páginasEmenta Introdução À Economia UFSCAnonymous SXfoNxlVCAinda não há avaliações