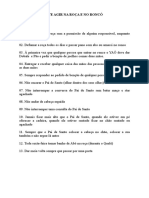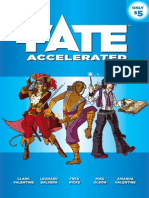Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
VIOLA Brasil Arena Internacional Mitigação CINDES 01-200 9
VIOLA Brasil Arena Internacional Mitigação CINDES 01-200 9
Enviado por
Mateus SilvaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
VIOLA Brasil Arena Internacional Mitigação CINDES 01-200 9
VIOLA Brasil Arena Internacional Mitigação CINDES 01-200 9
Enviado por
Mateus SilvaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O BRASIL NA ARENA
INTERNACIONAL DA
MITIGAO DA MUDANA
CLIMTICA*
1996-2008
Eduardo Viola**
Janeiro de 2009
(*)Agradeo os comentrios crticos a uma primeira verso deste artigo, realizados por Sandra Rios, Brbara
Oliveira, Enas Salati e Hctor Leis.
(**) Professor Titular do Instituto de Relaes Internacionais da Universidade de Braslia
CINDES - Centro de Estudos de Integrao e Desenvolvimento - Rua Jardim Botnico, n 635, sala 906.
Jardim Botnico - CEP: 22470-050 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil - tel: +55 21 3874 6338 - www.cindesbrasil.org
www.cindesbrasil.org
Sumrio
1. INTRODUO .....................................................................................................................................................................3
2. OS CICLOS DA PROBLEMTICA DA MUDANA CLIMTICA..................................................................................4
2.1. AS NEGOCIAES DA CONVENO DE CLIMA E DO PROTOCOLO DE KYOTO..........................................................................5
2.2. 2005: A MUDANA CLIMTICA VOLTA AO CENTRO DA AGENDA INTERNACIONAL .....................................................................8
3. BENS PBLICOS GLOBAIS, REGIMES INTERNACIONAIS E GOVERNANA DO CLIMA...................................11
3.1. A EMERGNCIA DO CONCEITO DE SEGURANA CLIMTICA..................................................................................................15
4. VETORES TECNO-ECONMICOS PARA A TRANSIO PARA UMA ECONOMIA DE BAIXO CARBONO.......16
5. GRANDES EMISSORES DE CARBONO E A QUESTO DA DISTRIBUIO DOS CUSTOS DA MITIGAO....18
5.1. OS PRINCIPAIS EMISSORES ...............................................................................................................................................19
5.2. CRITRIOS PARA DISTRIBUIO DOS CUSTOS DA MITIGAO ...............................................................................................24
6. A VULNERABILIDADE DA AMRICA DO SUL MUDANA CLIMTICA...........................................................25
7. A SINGULARIDADE DO PERFIL DE EMISSES DO BRASIL ....................................................................................28
8. O BRASIL NAS ARENAS INTERNACIONAIS DA MUDANA CLIMTICA E A POLTICA NACIONAL. ...........32
9. FORAS ECONMICAS E POLTICAS PBLICAS FAVORVEIS TRANSIO PARA UMA ECONOMIA DE
BAIXO CARBONO NO BRASIL ..........................................................................................................................................36
10. CONCLUSO E PERSPECTIVAS .................................................................................................................................40
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
www.cindesbrasil.org
1. Introduo
No ltimo meio sculo, a combinao de crescimento da populao mundial, consumo generalizado
de energia fssil e desenvolvimento tecnolgico dentro de um paradigma carbono-intensivo tem sido
a causa principal do processo de aquecimento global (Rayner and Malone 1998). O aquecimento
global de origem humana existe tambm um fenmeno natural inter-glacial e de mais longa durao
que no ser tratado aqui gerado pelas emisses de gases de efeito estufa (dixido de carbono com
peso 75%, metano peso 15% e oxido nitroso peso 9%) e elevou progressivamente a temperatura
mdia da terra, de 13,4C para 14C entre 1980 e 2005, com previso de elevao de mais 2 a 3C at
2050, a continuar o atual padro de emisses (IPCC 2007).
As principais manifestaes das mudanas climticas so os fenmenos climticos extremos ondas
de calor e frio mais intensas e prolongadas; secas, inundaes, tormentas e furaces mais severos e a
retrao de geleiras das montanhas, do rtico e da Antrtida, com impacto sobre o nvel mdio do
mar. As emisses de gases estufa esto crescendo 3% ao ano nesta dcada. Segundo dados da
Netherlands Environmental Assessment Agency (o mais importante instituto de dados sobre emisses
de gases de efeito estufa do mundo) os principais pases emissores em 2007 so: China, responsvel
por 22% do total mundial ( e crescimento anual de 8% ), EUA, com 20% das emisses totais ( e
crescimento anual de 0,7% ), Unio Europia (27 pases), com 15% do total (e crescendo 0,3% ao
ano), ndia, com 8% (e crescendo 10% ano), Rssia, com 5,5% (e crescimento anual de 6% ),
Indonsia, com 5% (e crescendo 10% ano), Brasil com 4% (e crescendo 3% ano) e Japo, com 3% (e
crescendo 0,2% ano).
Atualmente, o aquecimento global um dos maiores desafios econmicos e polticos para a
humanidade. Enfrent-lo requer um aumento dramtico da cooperao no sistema internacional (Lee
2007, Sachs 2008, Zakaria 2008, Klare 2008, Keohane and Raustala 2008)). Por um lado necessrio
mitigar o aquecimento global para que ele se mantenha dentro dos parmetros incrementais e no se
torne perigoso (o que ocorreria caso o aumento na temperatura mdia da terra superasse dois graus,
tendo 2000 como ano base) e por outro lado necessrio adaptar-se a um grau moderado de mudana
climtica que j irreversvel. Para evitar a mudana climtica perigosa seria necessrio que as
emisses de gases estufa no ano 2050 fossem aproximadamente um tero do nvel do ano 2000. um
desafio gigantesco considerando que no ano 2007 as emisses foram 20% superiores as do ano 2000
(IPCC 2007).
Este paper tem nove sees, alm dessa introduo. Na segunda seo descrevem-se os ciclos da
problemtica da mudana climtica no sistema internacional. Na terceira seo faz-se uma sntese da
estrutura conceitual de relaes internacionais que est na base do conjunto do paper, partindo dos
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
www.cindesbrasil.org
conceitos de bens pblicos globais, regimes internacionais e governana do clima e segurana
climtica. Na quarta seo descrevem-se os vetores tcnico-econmicos que impelem o mundo na
direo da transio para uma economia de baixo carbono. Na quinta seo apresentam-se os perfis
dos grandes emissores de carbono por ordem de importncia China, EUA, Unio Europia, ndia,
Rssia, Indonsia, Brasil e Japo e realiza-se uma discusso introdutria da problemtica da
distribuio dos custos da transio para uma economia de baixo carbono. Na sexta seo discute-se
como a Amrica do Sul uma das regies mais vulnerveis mudana climtica no mundo e porque
o interesse nacional e regional na mitigao maior que para os pases desenvolvidos. Na stima
seo analisa-se o perfil extremadamente singular das emisses de carbono de Brasil: uma proporo
muito alta de emisses derivadas de desmatamento, quando comparado com outros pases de renda
mdia, e uma matriz energtica de baixa intensidade de carbono. Na oitava seo analisa-se a posio
do Brasil nas arenas internacionais de negociao da mitigao da mudana climtica e as relaes
entre essa participao e a economia poltica interna das emisses de carbono. Na nona seo refletese sobre as foras econmicas e as polticas pblicas favorveis transio para uma economia de
baixo carbono no Brasil. Por ltimo, nas concluses e perspectivas apresentadas na dcima seo,
especula-se brevemente sobre trs cenrios alternativos de futuro segundo o grau de cooperao
atingido no sistema internacional - Hobbesiano, Kyoto Aprofundado e Grande Acordo e sobre o
lugar do Brasil nestes cenrios.
2. Os ciclos da problemtica da mudana climtica
Nos anos prvios Cpula de Rio em 1992 foi se criando um clima cultural favorvel a medidas proativas com relao mudana climtica, que se prolongou at 1997 (Inglehart 1997, Viola 1998). J
em fins da dcada de 1990 houve uma atenuao desse clima favorvel devido a dois fatores: o
impacto da acelerao da revoluo da tecnologia da informao sobre as expectativas de consumo e a
formao de um forte lobby contrrio liderado por empresas de petrleo, eletricidade, cimento e
automveis. A forte onda global de expanso do movimento ambiental (particularmente de 1985 a
1997) baseou-se em um processo de crtica ao impacto da prosperidade econmica e do
desenvolvimento cientfico e tecnolgico sobre a qualidade ambiental. O ambientalismo demandou
autocrtica por parte da cincia e uma diminuio do ritmo do progresso material e tecnolgico e essas
demandas receberam ateno crescente dos principais segmentos da sociedade (Viola 2002).
Essa atmosfera cultural mudou com a acelerao da revoluo da informao na segunda metade da
dcada de 1990, que gerou uma confiana crescente na capacidade da tecnologia de resolver os
problemas criados pela prpria tecnologia. Simultaneamente, crescia dramaticamente o abismo
tecnolgico entre, de um lado, sociedades desenvolvidas e emergentes e, de outro, sociedades pobres.
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
www.cindesbrasil.org
Alm disso, a capacidade de criao de ambientes tecnolgicos pelo uso generalizado de ar
condicionado, assim como de transporte e comunicaes rapidssimos produziu no perodo 19982004 um novo ciclo de insensibilidade ps-ambientalista em relao transformao da natureza pelo
ser humano. A acelerao dramtica da inovao tecnolgica disseminou, nos pases desenvolvidos, a
impresso de que estes podiam se proteger das conseqncias negativas da mudana climtica. Esse
fenmeno tem enfraquecido a idia de um destino comum no enfrentamento da mudana climtica
para toda a humanidade, idia esta de grande circulao na poca da Rio 92 (Viola 2004-1).
Esse processo foi agravado a partir dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, que
colocaram questes duras de sobrevivncia e segurana imediata (a ameaa de atentados com perfil de
terrorismo catastrfico) num lugar hipercentral do sistema internacional e deslocaram para posies
marginais questes de longo prazo.
2.1. As Negociaes da Conveno de Clima e do Protocolo de Kyoto
O texto final da United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dividiu os
pases do mundo em pertencentes ou no ao Anexo 1. Foram considerados pases do Anexo 1 todos os
membros da OCDE, os pases do Leste Europeu e seis pases derivados da dissoluo da Unio
Sovitica (Rssia, Belarus, Ucrnia, Estnia, Letnia e Litunia). A Conveno estabeleceu um
compromisso genrico para os pases do Anexo 1: o ano base das emisses seria 1990 e, no ano 2000,
as emisses daqueles pases no deveriam ser superiores s de 1990. Para os pases no pertencentes
ao anexo 1, a Conveno estabeleceu o compromisso de elaborao dos inventrios nacionais de
emisses de carbono.
Durante a campanha eleitoral de 1992, logo depois da Conferncia de Rio, Clinton e Gore articularam
uma posio claramente globalista atacando como passiva e irresponsvel a posio do governo Bush
na conveno de clima. Clinton e Gore prometiam ao firme e liderana do governo norte-americano
para enfrentar o problema do aquecimento global, aproveitando uma nova janela favorvel ao
enfrentamento dos problemas ambientais globais na opinio pblica norte-americana. Na primeira
Conferncia das Partes da Conveno de Mudana Climtica (Berlim maro 1995) o governo Clinton
teve uma posio de liderana favorvel a aprofundar a conveno atravs do estabelecimento de
metas obrigatrias de reduo para os pases desenvolvidos e de metas de reduo da taxa de
crescimento futuro das emisses para os pases emergentes. Com relao a estes ltimos, a posio
americana foi ficando isolada, j que os pases europeus e o Japo passaram a aceitar o argumento dos
pases emergentes (o Brasil teve uma posio de liderana nesta argumentao) de que numa primeira
fase no deveria haver nenhum tipo de compromisso por parte dos pases emergentes.
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
www.cindesbrasil.org
Entre a segunda e terceira conferencia das Partes (Genebra junho 1996 e Kyoto dezembro 1997) se
desenvolveram as negociaes do Protocolo de Kyoto. A posio norte-americana tinha trs
componentes fundamentais: estabelecimento de metas baixas (menos de 5%) de reduo de emisses
no ano 2010 tendo como ano base 1990; estabelecimento de metas de reduo da taxa de crescimento
das emisses por parte dos pases emergentes; estabelecimento de mecanismos de mercado que
flexibilizassem as metas, particularmente as cotas de emisso comercializveis entre os pases do
Anexo 1 . Com relao ao primeiro ponto, os EUA foram vitoriosos contra os europeus que queriam
compromissos de reduo mais fortes. Com relao ao segundo componente, os EUA foram mais uma
vez derrotados, como em Berlim e Genebra. Com relao ao terceiro ponto, os EUA foram vitoriosos
porque impuseram o critrio como condicionante da assinatura do acordo, contando com forte apoio
de Canad, Austrlia, Rssia e pases do Leste Europeu membros do Anexo 1.
Em julho de 1997, durante a negociao do Protocolo de Kyoto, o Senado norte-americano, com
maioria republicana, posicionou-se contra a ratificao do protocolo a menos que os pases
emergentes assumissem compromissos de reduzir sua taxa de crescimento futuro de emisses. Apesar
deste condicionamento, a administrao Clinton assinou o protocolo, mas no o enviou ao Senado
para ratificao, trabalhando intensamente para obter compromissos de reduo do crescimento das
emisses por parte de alguns pases-chave entre os emergentes. No entanto, a diplomacia norteamericana foi bem sucedida somente com respeito Argentina e Coria do Sul.
Os conflitos de interesses entre os pases desenvolvidos, os emergentes e os pobres tm sido um dos
fatores determinantes na dinmica das negociaes no regime de mudana do clima. Nos pases
democrticos existe uma forte diferenciao interna de interesses e de valores e a posio do pas num
momento especfico da negociao resulta de uma coalizo que predomina de modo mais ou menos
transitrio no governo do pas, e, em particular, na definio da poltica do pas na arena da mudana
climtica. As alianas e blocos que se conformam desde a Conferncia do Rio de 92 resultaram de
complexas diferenciaes, clivagens e de alinhamentos combinando as dimenses nacional,
internacional e transnacional. O regime de mudana climtica foi liderado pelos EUA e a Unio
Europia entre 1989 e 1991; pela Unio Europia entre 1991 e 1995; pelos EUA, a Unio Europia e
Japo entre 1995 e 1997; e, apenas pela Unio Europia desde 1998.
Durante as Conferncias das Partes posteriores a Kyoto e at a aprovao final do Protocolo em
Marraquesh em novembro de 2001, as principais coalizes negociadoras foram quatro: a Unio
Europia, o Grupo Guarda-chuva (formado por EUA, Japo e Rssia), o G77/China formado pelos
pases no pertencentes ao Anexo 1; e a Aliana das Pequenas Ilhas. Vrias questes que tinham
ficado pendentes foram negociadas longamente: mecanismos flexibilizadores, como o comrcio de
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
www.cindesbrasil.org
cotas de carbono e mercados de carbono; Mecanismo de Desenvolvimento Limpo; incluso do ciclo
do carbono vegetal no protocolo; sumidouros de carbono; recompensas para desmatamento evitado;
sanes no caso de descumprimento; compromissos voluntrios de reduo por parte dos pases fora
do Anexo 1.
Em maro de 2001 o governo Bush anunciou oficialmente que se retirava das negociaes do
Protocolo de Kyoto por consider-lo no apropriado para lidar efetivamente com a mudana climtica
por duas razoes: no dava suficiente importncia aos mecanismos de mercado e no estabelecia
compromissos para os pases de renda mdia com rpido crescimento de emisses. A retirada de EUA
do processo negociador de Kyoto provocou estupor na comunidade internacional e, depois de algumas
semanas de desorientao, a Unio Europia decidiu ir adiante com as negociaes para completar o
Protocolo e ratific-lo sem a participao dos EUA.
Em julho de 2001, em Bonn, todos os pases, com exceo dos EUA, chegaram a um acordo sobre a
maioria dos pontos que estavam pendentes desde a Conferncia das Partes em Haia, no ano 2000.
Para obter o apoio dos demais pases do Grupo Guarda-chuva, a UE teve que ceder significativamente
em varias reas: reconhecimento de crditos por seqestro de carbono atravs do manejo das florestas
e do solo; no estabelecimento de restries ao uso dos mecanismos flexibilizadores; e adoo de um
regime fraco de sanes. Nas trs dimenses o acordo obtido em Bonn em julho de 2001 bastante
mais fraco do que aquele que o governo Clinton tinha proposto em Haia em novembro de 2000 e tinha
sido rejeitado pela U.E.
Depois da retirada dos EUA, a posio negociadora da UE esteve baseada no principio de que um
acordo mnimo seria melhor que a morte do Protocolo de Kyoto. A retirada de Bush em maro de
2001 colocou o Protocolo de Kyoto como uma das principais prioridades da agenda da poltica
exterior da Unio Europia. O Protocolo de Kyoto deixou de ser operado centralmente nos ministrios
de meio ambiente da UE e passou a ser operado pelos chefes de governos e seus ministros das
relaes exteriores. Tambm por causa da retirada de Bush, o restante dos pases do mundo passou a
considerar a aprovao de Kyoto como um evento emblemtico em favor de uma ordem mundial
baseada na negociao multilateral e contra o crescente unilateralismo do governo Bush. Em fins de
2001 o Protocolo de Kyoto foi aprovado em Marraquesh. A maioria dos pases ratificou o Protocolo
durante o ano de 2002 e a situao ficou bloqueada durante os anos de 2003 e 2004 pela no
ratificao da Rssia. Finalmente a Rssia ratificou o Protocolo em outubro de 2004 e este entrou em
vigor em fevereiro de 2005.
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
www.cindesbrasil.org
2.2. 2005: a mudana climtica volta ao centro da agenda internacional
Desde 2005, uma srie de eventos deu incio a um novo perodo de percepo da ameaa da mudana
climtica: furaces mais freqentes e intensos em EUA e pases caribenhos, fortes incndios em
vastas reas dos EUA e Austrlia, mortes por ondas de calor na Europa, intensificao de tufes e
tormentas severssimas no Japo, China, Filipinas e Indonsia, inundaes catastrficas ao lado de
secas severssimas na ndia e frica, secas intensas na Amaznia brasileira, primeira ocorrncia de
furao registrada no Atlntico Sul, etc (Lynas 2008). Acompanhando estes eventos naturais, a
opinio pblica internacional de maior nvel educacional foi impactada por vrios acontecimentos de
alta relevncia:
1- O lanamento, em setembro de 2006, do filme de Al Gore Uma verdade inconveniente que
transmite pedagogicamente o severo impacto de longo prazo do aquecimento global para nossa
civilizao (Gore 2006).
2- A publicao do relatrio Stern sobre o custo econmico da mudana climtica, assumido
oficialmente pelo governo britnico em 2006 (Stern 2006).
3- A publicao, em fevereiro de 2007, do Quarto Relatrio do Painel Internacional sobre Mudana
Climtica, que afirma no existir praticamente mais incerteza sobre a origem antropognica
fundamental do aquecimento global e destaca ser este fenmeno mais acelerado do que se avaliava
previamente.
4- A reunio do Conselho de Segurana da ONU em abril de 2007 para debater, pela primeira vez em
sua histria, o problema da mudana climtica. A reunio foi convocada pelo governo britnico e fora
impulsionada por Kofi Annan desde 2005 (Annan 2005).
5- A reunio de junho de 2007 do G8 na Alemanha, tendo como tema central a primeira proposta
incisiva para mitigar o aquecimento global feita na at agora curta e intensa histria dos foros
governamentais sobre essa questo.
6- A reunio de chefes de Estado no incio da Assemblia Geral da ONU de setembro de 2007, tendo
como agenda central a mudana climtica.
7- As reunies das 16 maiores economias do mundo convocadas pelo governo Bush na primeira
mudana da posio do governo americano desde 2001 realizadas em Washington em setembro de
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
www.cindesbrasil.org
2007, no Hava em janeiro de 2008 e em Paris em abril de 2008, para tentar facilitar um acordo prvio
s negociaes multilaterais entre os grandes emissores de carbono.
8- A concesso do Prmio Nobel da Paz ao ex-vicepresidente dos EUA Al Gore e ao Painel
Intergovernamental de Mudana Climtica IPCC, em outubro de 2007 (Viola 2007).
9- O difcil acordo atingido na 13 Conferncia das Partes da Conveno de Mudana Climtica em
dezembro de 2007 (em Bali, Indonsia), que implicou concesses mtuas nas posies dos grandes
emissores de carbono, particularmente dos EUA e da China (Ott, 2008).
10- A reunio do G8 em Hokaido (Japo), em julho de 2008, em que se chegou a um acordo para
reduzir as emisses de carbono em 50% at o ano 2050, apesar das resistncias de EUA e Rssia
impedirem o estabelecimento de metas mais profundas de corte e de metas intermedirias para os anos
2020, 2030 e 2040, como propunham a Unio Europia e o Japo. Mesmo num ambiente de inflao
mundial e de aumento generalizado dos preos da energia e dos alimentos, os ministros de finanas do
G8 emitiram um comunicado detalhando medidas necessrias para reduzir as emisses de carbono.
(Bales & Duke 2008)
O dramtico aprofundamento da crise financeira americana a partir do colapso do Banco Lehman
Brothers em 15 de setembro de 2008 e sua rpida transformao na mais profunda crise financeira
global da histria (com imensa destruio de riqueza) ter provavelmente forte impacto sobre as
perspectivas de mitigao da mudana climtica no curto e mdio prazos. Esses impactos sero
mltiplos e contraditrios, sendo muito difcil prever a resultante final neste momento. De modo
preliminar, listam-se a seguir alguns dos impactos previsveis:
1- A ateno da opinio pblica mundial e das elites decisrias com relao urgncia e gravidade da
mudana climtica pode diminuir um pouco devido forte concentrao das prioridades de poltica na
gesto e superao da na crise econmica.
2- A recesso mundial diminuir nos prximos dois anos o ritmo de crescimento das emisses de
carbono. A queda brusca do preo do petrleo reduz a competitividade das energias elica e solar e,
combinada com a crise de crdito, produzir uma significativa diminuio dos investimentos em
energias renovveis, que cresciam a taxas muito altas nos ltimos dois anos. A baixa liquidez e a crise
de crdito tendem a reverter os avanos tecnolgicos em termos de emisses das usinas termoeltricas
de carvo ou petrleo cujos projetos esto em fase final de construo ou em incio de operao. Isto
particularmente problemtico na China, ndia, Indonsia, Vietnam, Rssia, Ucrnia, Turquia e frica
do Sul.
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
www.cindesbrasil.org
3- O agravamento e dramaticidade da crise abrem uma possibilidade de transformao de valores nos
pases desenvolvidos e emergentes na direo de uma diminuio do consumismo e do imediatismo, o
que favorece a percepo da gravidade da questo climtica (Friedman 2008). Como a crise
econmica transformou-se em sistmica, o processo de sada dela no implicar uma volta a uma
situao similar a existente antes de setembro de 2008. Conseqentemente, a abertura e incerteza do
sistema passam a ser bastante altas e comparadas com outros momentos cruciais da histria do
sistema internacional, como o choque do petrleo e estagflao iniciados em 1973 e o colapso do
comunismo em 1989-1991. Existem foras poderosas movendo-se em direes contrrias: de um lado
interesses econmicos tradicionais influenciam os governos nacionais para proteger vrios de seus
setores econmicos do risco de colapso e apelam para medidas que podem ter um efeito indireto de
protecionismo comercial e de estagnao da globalizao; de outro lado foras econmicas, sociais e
culturais inovadoras procuram influenciar os governos para reformar profundamente o sistema
desenvolvendo a governabilidade global e constrangendo as emisses de carbono, de modo a iniciar
uma transio consistente para uma economia de baixo carbono. Em sntese, de um lado, estagnao
da globalizao e aumento da conflitividade no sistema internacional; e de outro lado, reforma e
aprofundamento da governabilidade da globalizao. At agora a crise tem empurrado mais na
segunda direo: reunio de G20, coordenao contnua das autoridades monetrias dos principais
paises do mundo. Num primeiro momento, essa tendncia se manifesta com relao s finanas e
economia, mas isto provavelmente contribuir para aumentar a cooperao internacional na mitigao
da mudana climtica. Isto seria um passo decisivo para institucionalizar a importncia j adquirida
pela mudana climtica no sistema internacional (Da Veiga 2008)
4- Os primeiros dias do governo Obama do sinais claros que a nova administrao v as crises
econmica e climtica interligadas e que ambas devem ser resolvidas simultaneamente, dando um
impulso decisivo para a decarbonizao da economia. O programa econmico de emergncia para
recuperao de curto prazo da economia enviado por Obama ao Congresso compatvel com as metas
de mdio e longo prazos de sua plataforma: expanso das energias renovveis, upgrade da rede de
transmisso eltrica nacional para aumentar a eficincia e absorver o gigantesco potencial elico do
corredor North Dakota-Texas, promoo do transporte coletivo nas regies metropolitanas e em geral
de todos os setores econmicos que criem novos empregos verdes. O programa de emergncia
diferente de um programa clssico de expanso do gasto publico e sinrgico com o objetivo
estratgico de aumentar a segurana energtica. Toda a rea de energia do gabinete estar orientada
no sentido de estimular as energias renovveis. A presena no gabinete de Carolyn Browner
associada de Al Gore numa posio supraministerial relacionada ao tema climtico indica que uma
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
10
www.cindesbrasil.org
proposta de caps and trade (tetos e cotas) 1 ser enviada em 2009 ao Congresso, aprofundando e
dando alcance nacional s legislaes j em vigor em Califrnia e Nova Inglaterra. Num claro
indicador disso, Obama assinou uma ordem executiva que permite aos Estados de Nova Inglaterra e
Califrnia implementar plenamente sua legislao estadual que estabelece parmetros mais estritos de
eficincia energtica para os carros, revertendo uma ordem em contrrio prvia de Bush. No processo
de sua confirmao no Congresso, Hillary Clinton destacou a mudana climtica como uma questo
central de sua linha de atuao frente da poltica externa americana e dias depois nomeou como
Embaixador especial para Mudana Climtica a Todd Stern que ocupou uma posio similar no
governo Clinton e tem viso avanada sobre a negociao de um novo tratado para mitigar a mudana
climtica.
A arena das negociaes para mitigar a mudana climtica comeou a se deslocar do plano
multilateral (ONU, Kyoto) para o plurilateral nos ltimos anos: G-8; Iniciativa da sia-Pacifico composta por EUA, Japo, Austrlia, Coria do Sul, China e ndia - G8 + 5; reunies das 16 grandes
economias convocadas por EUA desde 2007; e Aliana Mundial pelas Energias Renovveis (Philibert
2005, Christoff 2006, Kelows 2006, McGee and Ross 2006, Leis e Viola 2008). A Conferncia das
Partes 14 em Poznan, em dezembro de 2008, no produziu nenhum resultado, como esperado, devido
combinao de um problema estrutural - negociaes entre duzentos pases que tm que atingir
consenso e onde na melhor das hipteses possvel atingir apenas um mnimo denominador comum
e a mudana presidencial nos EUA. A mudana na posio americana, j estabelecida nos primeiros
dias do governo Obama, produzir certamente mudanas mesmo que de intensidades diferentes
nas posies de todos os grandes atores. Da em diante, a questo central do tabuleiro internacional
estar na capacidade da trade EUA-UE-Japo de persuadir a China, Brasil, ndia, Rssia e Indonsia
a mudar de posio. Os obstculos maiores esto na Rssia e na ndia, embora por razes diferentes.
3. Bens pblicos globais, regimes internacionais e governana do clima
A mudana climtica est relacionada aos chamados bens comuns ou bens coletivos globais
(North 1990, Norhaus 1994). O conceito de bem pblico global uma adaptao do conceito de bem
pblico definido por Mancur Olson. Este autor o define como aquele bem que, se consumido por um
__________________________________________________________________________
1
A expresso caps and trade tornou-se rapidamente popularizada na questo da mudana climtica depois do Protocolo de Kyoto que
estabeleceu tetos de emisses para o perodo 2008-2012 para os pases indurstrializados (Anexo 1). O Protocolo tambm estabeleceu o
Comrcio de Cotas de Emisses entre os pases do Anexo 1, ou seja, empresas dos pases que tiverem emisses inferiores a seu teto no
periodo 2008-2012 teriam crditos de carbono que poderiam vender a empresas dos pases que tivessem emisses superiores a seu teto.
Algo similar acontece no MDL em que empresas que superam seu teto de emisses dentro da legislao nacional para o setor podem
comprar crditos de carbono de empresas dos pases no pertencentes ao Anexo 1 que estejam reduzindo emisses alm do bussiness as
usual e sem ter obrigaes legais ao respeito.
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
11
www.cindesbrasil.org
membro de determinado grupo, pode ser consumido livremente por qualquer membro deste mesmo
grupo (Olson 1971). A atmosfera pode ser considerada um bem pblico global, no sentido atribudo
por Olson, uma vez que sua utilizao por um ator no exclui a possibilidade de utilizao por outro.
O benefcio obtido por determinado ator na utilizao da camada de oznio, por exemplo, no diminui
o benefcio obtido por outro ator. Nestas condies, a atmosfera pode ser considerada um bem pblico
puro. Por outro lado, a capacidade da atmosfera em absorver substncias poluidoras, sem
conseqncias srias para a humanidade, limitada. A limitao da atmosfera em absorver emisses
de gases estufa sem provocar alteraes no clima atribui uma particularidade importante ao bem
pblico atmosfera. Assim, a emisso de gases estufa por um pas reduz a possibilidade de emisso de
outro pas, mesmo que a atmosfera possa, hipoteticamente, absorver ilimitadamente as emisses, ou
seja, por ser a atmosfera escassa, cada unidade de recurso utilizada por determinado ator torna-se
automaticamente indisponvel para outro. Como a atmosfera um bem pblico, no sentido de que no
possvel impedir sua utilizao por outro ator, a apropriao da atmosfera como sumidouro impe
uma soluo administrada.
Embora apresente as caractersticas essenciais que a tornam um bem comum global, a atmosfera
possui algumas singularidades. Ao contrrio de muitos bens comuns, que so constitudos de unidades
fsicas uniformes, como um conjunto de rvores em uma floresta, por exemplo, a atmosfera
composta de uma massa amorfa de gases. Alm disso, essa massa de gases um recurso limitado pela
poluio que suporta sem conseqncias adversas e no pelo esgotamento de sua explorao, como no
caso da extrao de recursos naturais. Finalmente, a atmosfera no se encontra, como no caso das
florestas, definida no espao; est em constante mudana e movimento.
Ao contrrio de outras fontes de recursos, a atmosfera no possui um status legal internacionalmente
definido. Se houve reclamaes de soberania sobre o uso do fundo do mar durante as negociaes
sobre a Conveno das Naes Unidas sobre o Direito do Mar, o mesmo no ocorreu quanto
atmosfera. Houve tentativas, inclusive, de considerar a atmosfera como patrimnio comum da
humanidade, mas o compromisso alcanado pelos pases foi de considerar a atmosfera uma
preocupao comum da humanidade, o que implica o tratamento coletivo das questes relativas
utilizao da atmosfera como sumidouro de gases estufa. Como ocorre com qualquer bem comum
global, o esforo para atingir o interesse individual exige a repartio dos custos entre os membros do
grupo. Como lembra Olson, embora exista interesse comum na obteno de um benefcio, no h
interesse comum na diviso do nus de sua obteno entre os membros do grupo, ou seja, cada
indivduo busca obter o mximo do bem com o mnimo de custo.
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
12
www.cindesbrasil.org
No caso da atmosfera, em que h a possibilidade de explorao alm da capacidade, corre-se o risco
de se chegar a uma condio que Hardin define como a tragdia dos comuns (Hardin 1968). Nessa
condio, os atores individuais querem obter o mximo de benefcio proporcionado pelo bem e
repartir os custos de sua explorao abusiva com os demais. O princpio das responsabilidades
comuns, porm diferenciadas, que norteia as ltimas convenes para a proteo do ambiente global
representa a tentativa de se evitar a tragdia dos comuns. Ao estabelecer responsabilidades
diferenciadas aos pases, espera-se que os custos de utilizao da atmosfera sejam distribudos de
acordo com a contribuio de cada pas para a mudana climtica.
O desafio, no caso do regime de mudana climtica, estabelecer um nexo de causalidade entre as
emisses e suas conseqncias, que podem ser tanto o aumento no nvel dos oceanos, como o
aumento na temperatura ou na velocidade de elevao da temperatura. O estabelecimento deste tipo
de relao permite eliminar, ou ao menos reduzir, a existncia de pases caronas, que se aproveitam
dos benefcios das redues nas emisses em outros pases sem oferecerem suas prprias
contribuies. O efeito carona no pode ser considerado intrinsecamente prejudicial, pois depende
tambm da importncia relativa de cada pas para o aquecimento global. As pequenas ilhas,
extremamente vulnerveis mudana climtica, podem ser os maiores beneficirios da reduo de
emisses em outros pases, mesmo sem reduzir suas emisses domesticamente. Como as emisses
destes pases so mnimas em relao ao total, o efeito carona passa a ser irrelevante em relao
mitigao (Clark, Van Eijndoven & Jaeger 1998).
J a participao dos grandes emissores fundamental: numa primeira ordem de magnitude,
encontram-se a China, Estados Unidos, Unio Europia e ndia (entre 22% e 8% das emisses
globais); numa segunda ordem de grandeza esto a Rssia, Indonsia, Brasil e Japo (entre 6% e 3%
das emisses totais); e, numa terceira ordem de magnitude situam-se o Canad, Coria do Sul,
Austrlia, frica do Sul, Mxico, Ir, Arbia Saudita e Turquia (entre 2,5% e 1,5% das emisses
totais). Em funo de serem os pases com maior emisso e, portanto, os pases que obtm os maiores
benefcios individuais da utilizao da atmosfera, esses pases podem comprometer qualquer tentativa
de concertao em torno da adoo de instrumentos internacionais de combate mudana do clima.
Mas no apenas o tamanho do pas que importa. O custo que determinado pas estar disposto a
pagar na obteno de um bem coletivo depende tambm do valor atribudo a esse bem (Weiss Brown
and Jacobson 1998). O valor da estabilidade do clima tem crescido entre as elites e a populao
educada do mundo nos ltimos anos, mas numa proporo muito menor que as ameaas a essa
estabilidade.
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
13
www.cindesbrasil.org
O tamanho do grupo sempre influencia o resultado da ao coletiva. Quanto maior o grupo, menores
so as possibilidades de alcanar seus objetivos comuns. A Conveno-Quadro sobre Mudana do
Clima um instrumento quase universal, sob o qual esto representados os interesses de vrios pases
com diferenas econmicas, culturais e polticas. A busca pelo consenso demanda um esforo de
dilogo poltico que leva, quase sempre, a um produto muito aqum do esperado. Em grupos grandes,
o bem pblico s ser obtido quando h uma coero externa ou incentivos que forcem a ao coletiva
na busca do interesse comum.
Embora seja mais difcil, no caso da mudana do clima, evitar os custos relacionados s alteraes
climticas, os pases, seguindo a lgica racional de maximizao da utilidade individual, podem
continuar emitindo gases estufa. Para evitar uma situao extrema, em que todos saem perdendo, os
pases podem se utilizar estratgias que evitem a explorao abusiva dos recursos naturais. A primeira
possibilidade seria o exerccio de restries voluntrias, de forma que a utilizao do recurso
mantenha-se em nveis sustentveis. Outra possibilidade seria o estabelecimento de regimes
reguladores que incluam mecanismos de controle na explorao do bem pblico (Soroos 1997). As
chances das restries voluntrias funcionarem efetivamente na reduo dos problemas relacionados
mudana do clima so mnimas. Mesmo havendo pases suficientemente altrustas para assumirem
restries voluntrias, a possibilidade de que os demais se tornem caronas diminui a chance de
sucesso deste tipo de ao. Na verdade, a Sucia tem sido o nico pas do mundo que tem tido um
comportamento que se pode considerar altrusta, assumindo e efetivando sistematicamente durante a
ltima dcada uma reduo de emisses para alm de compromissos obrigatrios internacionais.
Assim, os regimes reguladores constituem a melhor alternativa para o trato das questes ambientais
globais.
Os governos so movidos predominantemente por interesses egostas. Sem que haja mecanismos de
colaborao entre os pases, a busca pela maximizao da utilidade individual leva a um resultado
indesejvel. A utilizao indiscriminada da atmosfera, que resultante da lgica econmica
individual, conduz a um resultado subtimo, que exige dos governos o abandono de processos
internos em favor dos processos coletivos de deciso (Sprinz & Vaahtoranta 1994). Assim, a partir
das informaes cientficas sobre os perigos do aquecimento global, os pases negociaram e
aprovaram a Conveno-Quadro sobre Mudana do Clima, em 1992, e adotaram o Protocolo de
Kyoto, em 1997 (Grubb 1999). A opo pela regulamentao internacional e pela criao de
mecanismos de incentivo a redues nas emisses de gases de efeito estufa decorre da
impossibilidade de se alcanar um resultado timo a partir da ao individual de cada pas. Como bem
explica Keohane, a ao racional de maximizao do interesse individual conduz a um resultado que
no Pareto-timo (Keohane 1983). O regime de mudana do clima, instrumentalizado nos dois
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
14
www.cindesbrasil.org
acordos internacionais procura ajustar a lgica da ao individual dos Estados aos interesses
ambientais.
Um regime efetivo de mudana climtica que supere as limitaes e a baixa eficcia do Protocolo de
Kyoto requer a participao de um ou mais atores que possam impulsionar, liderar e sustentar o
processo, no por meio de aes coercitivas, mas pela capacidade de articular os principais interesses
nacionais em jogo. Pela sua importncia na economia e ambiente global, seu produto per capita e suas
capacidades tecnolgicas, apenas trs pases tm o potencial para impulsionar o processo em primeira
instancia (EUA, Unio Europia e Japo); e mais trs pases tm o potencial para faz-lo em segunda
instncia (China, Brasil e Canad) (Grubb 1999, Biermann 2005).
Mltiplas clivagens e alinhamentos relacionados a conflitos de interesses determinam a conduo das
negociaes do regime de mudana do clima: entre pases desenvolvidos de um lado e emergentes e
pobres do outro, entre economias de alta e mdia intensidade de carbono, entre pases mais
vulnerveis e menos vulnerveis mudana climtica, entre pases com opinies pblicas mais
responsveis e menos responsveis, entre pases exportadores de petrleo e o resto do mundo. As
alianas e blocos que se conformam desde a Conferncia do Rio de 92 traduzem as diferenas de
percepo em relao ao tema (Young 1997, Claussen & McNeilly 1998, Mueller 1999).
3.1. A emergncia do conceito de segurana climtica
O conceito de segurana climtica comeou a ser desenvolvido a partir de 2006 e est diretamente
associado proeminncia e centralidade do aquecimento global dentro da lista clssica de problemas
ambientais globais (Viola, Barros-Platiau e Leis 2007). Segurana climtica se refere a manter a
estabilidade relativa do clima global que foi decisiva para a construo da civilizao desde o fim do
ltimo perodo glacial h doze mil anos diminuindo significativamente o risco de aquecimento
global atravs de sua mitigao e promovendo a adaptao da sociedade internacional e suas unidades
nacionais a novas condies de planeta mais quente e ocorrncia mais freqente e mais intensa de
fenmenos climticos extremos.
A relao entre governana climtica e segurana climtica se estabelece em termos do carter mais
objetivo (duro) da relao entre sociedade humana e circulao atmosfrica, estabelecendo limites
para alm dos quais no possvel pensar em termos de adaptao. A segurana climtica implica
uma clara escolha da humanidade pela prioridade da mitigao do aquecimento global sobre a
adaptao. De acordo com as melhores anlises climatolgicas atuais teramos em torno de uma
dcada para mudar o rumo da dinmica do sistema internacional e produzir uma mitigao efetiva. Ou
seja, diminuir progressivamente a taxa de crescimento das emisses - 3% ao ano no perodo 2000-
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
15
www.cindesbrasil.org
2007 - at estabiliz-las em torno de 2020 e, a partir desse momento, reduzir progressivamente at
chegar a 2050 a um nvel global de emisses que seja de aproximadamente 30% do total de emisses
do ano 2000.
A segurana climtica coloca-se num novo patamar em comparao com a ameaa mais profunda
experimentada previamente pela humanidade: o risco de uma guerra nuclear durante a guerra fria, que
teria acabado com a civilizao ou at mesmo extinto a espcie humana. Com efeito, a intensidade, o
escopo, a profundidade e a velocidade da cooperao internacional exigidos para atingir uma situao
de segurana climtica so muito superiores queles requeridos, a partir da dcada de 1960 para evitar
a guerra nuclear. Naquela situao houve uma combinao de cinco medidas cruciais: 1- telefone
vermelho direto entre o presidente de EUA e secretario geral do Partido Comunista Sovitico; 2tratado de proibio de exploses nucleares atmosfricas; 3- tratados START e SALT entre EUA e
Unio Sovitica para regular o crescimento dos arsenais nucleares; 4- tratado de no-proliferao
nuclear; e, 5- desenvolvimento de mecanismos de alerta refinados para evitar uma guerra nuclear por
acidente. No caso da mudana climtica, a segurana se correlaciona a uma forte governana do
aquecimento global. No cenrio sem segurana climtica, a governana tende a ficar mais limitada a
espaos regionais e nacionais e est centrada na adaptao. De fato, num processo de aquecimento
global descontrolado (aumento de mais de dois graus da temperatura mdia da terra) apenas os pases
desenvolvidos teriam condies de relativa adaptao, mesmo que com fortes custos materiais e
humanos. J os pases de renda mdia e pobres experimentariam danos catastrficos irreversveis.
Alm dos cenrios de mudana climtica incremental (j em curso) e perigosa (o mais provvel que
no haja uma mudana profunda de tendncia na prxima dcada) existe um terceiro cenrio, a
mudana climtica catastrfica. Este de probabilidade baixa, mas de conseqncias gigantescas, j
que haveria uma acelerao da mudana de clima num curto perodo de tempo, produzida por algum
ou todos os tipping points exponenciais da circulao atmosfrica global: a parada da corrente do
Golfo no Atlntico Norte e a alterao sbita no ciclo de mones no Sul e Sudeste da sia e de
precipitaes na Amaznia Sul-americana.
4. Vetores tecno-econmicos para a transio para uma economia de baixo carbono
Para a transio para uma economia de baixo carbono seria necessrio um grande acordo
internacional (em uma escala muito superior do Protocolo de Kyoto) que deveria ser apoiado por
uma srie de mudanas comportamentais, bem como por desenvolvimentos tecnolgicos e
econmicos simultneos e complementares. Os principais vetores de tal transio foram definidos em
trabalhos seminais de Socolow & Pacala (2004-1 e 2004-2) e do World Resources Institute &
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
16
www.cindesbrasil.org
Goldman Sachs 2007. A lista de vetores abaixo foi elaborada pelo autor a partir da inspirao desses
trabalhos:
1. Acelerar o ritmo de crescimento da eficincia energtica (esse crescimento acontece normalmente
na histria do capitalismo, mas seu ritmo precisa ser incrementado) no uso residencial e industrial, nos
transportes e no planejamento urbano. Aumentar a reciclagem em todos os nveis da cadeia produtiva
e no consumo;
2. Aumentar a proporo das energias no-fsseis renovveis (elica, solar, biocombustveis e
hidreltrica) na matriz energtica mundial. A energia hidreltrica tem sido plenamente competitiva
durante todo o sculo passado e a competitividade das energias elica, solar e dos biocombustveis se
desenvolveu extraordinariamente na ltima dcada, faltando apenas, na maioria dos pases, marcos
regulatrios apropriados que criem os incentivos iniciais. A experincia recente com os
biocombustveis mostra que apenas o etanol de cana muito efetivo em termos de reduo de
emisses; o etanol de milho e beterraba e todo o biodiesel mostraram importantes limitaes, at o
presente. J o etanol de segunda gerao de celulose aparece como uma alternativa fundamental, a
dvida, nesse caso, dizendo respeito rapidez em que esta tecnologia estar disponvel em grande
escala;
3. Aumentar a proporo de energia nuclear na matriz energtica mundial, aproveitando a
significativa melhoria na tecnologia dos reatores do ponto de vista da segurana na operao, mesmo
que permanea sem soluo o problema do depsito definitivo do lixo atmico. Alm disso, existem
perspectivas de desenvolvimento de reatores nucleares de quarta gerao;
4. Desenvolver arquiteturas reguladoras que promovam o uso de carros hbridos (gasolina-eltrico e
gasolina-etanol) que j atingiram plena maturidade em termos de competio com carros
convencionais. Aumentar o uso do transporte coletivo e diminuir o uso do carro. Utilizar carros
menores e mais leves;
5. Parar o desmatamento (hoje responsveis por 18% das emisses globais), reflorestar reas
desmatadas e tornar florestadas reas que nunca tiveram florestas, mas que so hoje apropriadas para
florestas homogneas de rpido crescimento;
6. Incrementar a utilizao de tcnicas agropecurias que so virtuosas no ciclo do carbono, como
plantio direto, irrigao de preciso e raes de gado que gerem menos metano. Diminuir o consumo
de carne de vaca nos pases de renda alta e mdia, possibilitando que o aumento do consumo desse
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
17
www.cindesbrasil.org
alimento por parte das populaes pobres no imponha uma presso excessiva sobre as emisses de
metano;
7. Usar eficientemente a gua no consumo domstico, agrcola e industrial. Baixar a temperatura usual
de aquecimento e elevar a de refrigerao; j que em vrias sociedades esbanjadoras de energia o
aquecimento levado desnecessariamente at 22 graus e a refrigerao at 15 graus centgrados;
8. Acelerar o desenvolvimento das tecnologias de captura e seqestro de carbono fssil, separando o
dixido de carbono tanto do carvo quanto do petrleo e injetando-o novamente nas jazidas j
exploradas que sejam de alta estabilidade do ponto de vista geolgico;
9. Diminuir a proporo de reunies presenciais (particularmente, as que envolvam viagens areas) e
aumentar as reunies via teleconferncia. Frear o crescimento do transporte areo. Desenvolver avies
com materiais mais leves, desenho mais aerodinmico e maior eficincia energtica;
10. Acelerar o desenvolvimento da clula de hidrognio, que ser certamente a energia do futuro. Ela
provavelmente no ter um papel significativo antes de 2050, mas seu desenvolvimento dar um sinal
claro de que a transio para uma economia de baixo carbono profunda e irreversvel;
11. Estabelecer acordos internacionais que promovam pesquisas integradas interinstitucionais para o
desenvolvimento de novas tecnologias de ponta para de-carbonizar a matriz energtica. Algumas
delas j se encontram em estgio inicial, como o aproveitamento da energia das mars e ondas;
turbinas elicas de altitude elevada; nanobaterias solares. Criar um ambiente cultural e institucional
global favorvel imbricao e sinergia entre as novas tecnologias energticas e as revolues na
tecnologia da informao e comunicao e a da nanotecnologia.
5. Os grandes emissores de carbono e a questo da distribuio dos custos da mitigao
importante realizar um quadro sumrio dos principais pases emissores de carbono, comparando
populao, PIB, volume de emisses, participao proporcional nas emisses globais, emisses per
capita e emisses por unidade de PIB (intensidade de carbono). Cabe destacar que a maioria das
anlises realizadas sobre a economia poltica do aquecimento global fragmenta a realidade porque no
compara todas essas dimenses (Bell and Drexhage 2005, Matfhews and Mathew 2005). A
combinao dessas dimenses fundamental para avaliar o custo relativo para cada pas num tratado
srio e efetivo de mitigao que supere a baixa eficcia e as extraordinrias distores do Protocolo de
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
18
www.cindesbrasil.org
Kyoto. Cabe esboar um panorama geral das emisses de carbono no mundo, correspondentes ao ano
de 2007.
5.1. Os principais emissores
As informaes comparando as principais variveis foram obtidas de diversas fontes oficiais e de
estimativas de institutos independentes The Netherlands Environmental Assesment Agency, World
Bank, The Economist, Secretariado da Conveno de Mudana Climtica, UNEP, UNDP, World
Resources Institute tendo sido os resultados aqui apresentados processados pelo autor do artigo. As
informaes sobre o PIB dos pases correspondem ao que medido pela taxa de cmbio. O autor
reconhece que existem razes plausveis para considerar como unidade de medida o PIB por paridade
de poder de compra, o que produziria variaes importantes para menos de intensidade de carbono,
nos pases de renda mdia e baixa com moeda desvalorizada pelo controle de cmbio (particularmente
China e ndia). O campo das informaes sobre emisses de gases estufa ainda limitado na sua
preciso e metodologia e sofre variaes significativas entre diversas fontes e estimativas. Mesmo que
provisria e sujeita a erro, a combinao de informaes aqui apresentada considerada fundamental
pelo autor para transmitir um panorama bsico das propores da realidade atual.
Em 2007, a populao do mundo era de 6,7 bilhes de habitantes, o PIB de 50 trilhes de dlares e as
emisses totais de carbono de 28 bilhes de toneladas. A China ultrapassou os Estados Unidos como
principal emissor em 2006 e a Unio Europia, ndia, Rssia, Indonsia, Japo e Brasil tambm so
grandes emissores que precisam necessariamente assumir e/ou aprofundar seus compromissos de
reduo das emisses de carbono.
Ranking Pases
Populao PIB
PIB
Emisses %
Emisses
(milhes)
(Bilhes
per capita
totais
emisses por US$ anual
de US$)
(US$ mil)
(Bilhes
globais.
mil PIB
Crescimento Emisses
per capita
Emisses
(%)
de ton.)
1
China
1300
4.000
3.000
22%
1,5
5,5
EUA
300
14.500
48.000
5,7
20%
0,4
19
U.E. 27
490
17.000
35.000
4,2
15%
0,3
0,5
ndia
1100
1.300
1.100
1,9
8%
1,4
10
1,7
Rssia
142
1.400
10.000
1,4
5,5%
10
Indonsia 237
460
2.000
1,3
5%
2,5
10
Brasil
190
1300
6.600
4%
0,8
Japo
127
5.000
39.000
0,8
3%
0,15
0,3
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
19
www.cindesbrasil.org
China
A China tem uma populao de 1,3 bilhes de habitantes, um PIB de 4 trilhes de dlares e um PIB
per capita de 3.000 dlares. Emite 6 bilhes de toneladas de carbono, correspondente a 22% das
emisses globais, 5,5 toneladas per capita e 1,5 toneladas de carbono por cada 1.000 dlares
produzidos. Trata-se de uma economia muito intensiva em carbono devido sua matriz energtica
fortemente baseada em carvo e petrleo e, notadamente, sua baixa eficincia energtica. Mesmo
que a intensidade de carbono do seu PIB esteja caindo 5% ao ano na ltima dcada, ainda tem uma
intensidade de carbono 10 vezes superior do Japo e 4 vezes superior dos EUA. Contrariando o
senso comum, as emisses per capita da China so mdias e no baixas. As emisses totais da China
crescem assustadora taxa de 8% ao ano. O custo de reduo de emisses da China alto no caso de
continuar-se com o modelo atual de industrializao, mas seria vivel com reorientao para um
modelo mais baseado no crescimento da produtividade em lugar do aumento da produo bruta e com
cooperao internacional em tecnologia por parte dos pases desenvolvidos. No ano de 2007 as
emisses mundiais de gases estufa cresceram 3,3% em relao a 2006 e 50% desse crescimento
ocorreram na China, sendo que, por sua vez 2/3 do crescimento na China ocorre com base na queima
de carvo. Mais importante ainda que reduzir o consumo de petrleo para o mundo a reduo da
queima de carvo e para isso decisiva uma drstica mudana no carvo chins (e tambm no
indiano). A tecnologia de captura e seqestro de carbono fssil (carvo limpo) e a energia nuclear
so muito importantes para a China. A posio do governo chins nas polticas nacionais e
negociaes internacionais foi negligente at 2005, mas a partir de ento houve mudana baseada na
avaliao da vulnerabilidade da China mudana climtica. O governo incentivou um forte
crescimento da energia elica e solar e anunciou seu objetivo de reduzir o ritmo do crescimento das
emisses, o qual foi refletido no Plano Nacional de Mudanas Climticas aprovado em novembro de
2008 e numa posio mais flexvel nas negociaes internacionais (Abranches 2008). Existe na China
uma clivagem entre foras globalistas e foras nacionalistas, sendo que o poder das primeiras cresce
continuamente e elas mostram-se crescentemente orientadas a mudar a posio chinesa no sentido da
responsabilidade global.
Estados Unidos
Em segundo lugar no ranking de emisses se encontram os Estados Unidos, que tm uma populao
de 305 milhes de habitantes, um PIB de 14,5 trilhes de dlares e um PIB per capita de 47.000
dlares. Emitem 5,8 bilhes de toneladas de carbono, correspondentes a 20% do total de emisses, 19
toneladas per capita e 0,4 toneladas de carbono por cada 1.000 dlares de PIB. um dos pases com
maior taxa de emisses per capita do mundo, somente superado por Austrlia, Luxemburgo e os
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
20
www.cindesbrasil.org
pequenos pases exportadores de petrleo do golfo Prsico. uma economia com alta eficincia
energtica e com baixa intensidade de carbono em termos globais, mas que est entre as de mais alta
intensidade dos pases desenvolvidos superado apenas por Canad e Austrlia devido
combinao de matriz energtica baseada no carvo e petrleo com a alta utilizao do avio e do
automvel individual no transporte. As emisses dos EUA crescem 1% ao ano neste sculo. Depois
de ter liderado, junto com a Unio Europia, durante a administrao Clinton (1993-2000), a
negociao do Protocolo de Kyoto, o governo americano foi extremamente irresponsvel durante a
administrao Bush (2001-2008). A oposio democrata a Bush foi permanentemente crtica em
relao posio do Executivo, embora sem impactos significativos no nvel federal. J no nvel
estadual, vrias unidades tm assumido poltica favorvel reduo de emisses, destacando-se o
governador Schwartzeneger na Califrnia, re-eleito em 2006 com um discurso incisivamente
favorvel a mitigar a mudana climtica e que tem um gabinete e maioria parlamentar bipartidria que
est conseguindo aprovar nova legislao e regulao em vrios setores (transporte, edifcios, energia,
industria, planejamento urbano). Na presidncia de Obama haver uma mudana substancial na
posio americana tanto na poltica energtica interna e no estabelecimento de um sistema de caps and
trade quanto no posicionamento americano no sistema internacional, voltando os EUA provavelmente
a um papel de co-liderana com a Unio Europia e Japo como foi no perodo de negociao do
Protocolo de Kyoto. Os EUA tm uma margem importante para reduo de emisses atravs de:
mudana de tecnologia de termoeltricas para carvo limpo; expanso das energias elica, solar,
biocombustveis e nuclear; diminuio de tamanho e aumento dos padres de eficincia dos
automveis; modernizao da rede de transmisso eltrica e estabelecimento de novos padres verdes
de construo (prdios e casas desenhados ou reformados para reduzir emisses).
Unio Europia
A Unio Europia (27 pases) tem uma populao de 490 milhes de habitantes, um PIB de 17
trilhes de dlares e um PIB per capita de 35.000 dlares. Emite 4,2 bilhes de toneladas,
correspondentes a 15% do total mundial, 8 toneladas per capita e 0,3 tonelada de carbono por cada
1.000 dlares de PIB. A Unio Europia muito heterognea, tanto em termos de emisses per capita
indo das 22 toneladas de Luxemburgo at as 4 toneladas da Frana e Portugal quanto de
intensidade de carbono, baixa nos pases nrdicos, Alemanha, Reino Unido e Frana; mdia na
Espanha, Blgica e Itlia; e alta na Polnia, Repblica Checa, Romnia, Bulgria e pases blticos. As
emisses da Unio Europia crescem 0,5% ao ano, como resultado da quase estabilidade das emisses
de Alemanha, Reino Unido e Sucia e do crescimento acelerado das emisses de Espanha, Portugal,
Grcia e dos pases do Leste Europeu ( ainda que estes ltimos estejam abaixo de sua linha de base
de 1990). A Unio Europia conta com as principais lideranas histricas dos ltimos anos em favor
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
21
www.cindesbrasil.org
de uma ao incisiva para mitigar o aquecimento global: os governos e opinies pblicas de Reino
Unido, Alemanha e Sucia, acompanhados embora com um perfil mais baixo - pela Holanda,
Irlanda, Dinamarca e Finlndia. Cabe destacar tambm a recente mudana da posio da Espanha,
reconhecendo o problema do crescimento de suas emisses na ultima dcada.
ndia
Em quarto lugar entre os grandes emissores encontra-se a ndia, que tem uma populao 1,1 bilho de
habitantes, um PIB de 1,3 trilho de dlares e um PIB per capita de 1.130 dlares. Emite 1,9 bilho de
toneladas de carbono, correspondentes a 8% do total de emisses, com 1,7 toneladas de carbono per
capita e 1,4 toneladas por cada 1.000 dlares de PIB. A ndia um pas de grandes contrastes, sendo o
segundo gigante demogrfico com 17% da populao mundial por isso relevante em todas as
estatsticas comparadas. Entretanto, apresenta taxa muito baixa de emisses per capita, j que um
pas de baixa de renda per capita e elevada intensidade de carbono devido baixa eficincia
energtica e ao alto peso do carvo e petrleo em sua matriz energtica. As emisses da ndia crescem
10% ao ano, sendo esse pas o grande emissor que mais aumenta sua participao percentual nas
emisses totais. A posio do governo indiano tem sido historicamente negligente como a do chins e
no tem mudado at hoje. Algumas comparaes devem ser feitas entre essas duas sociedades, to
cruciais para o presente e futuro, em funo do crescimento dramtico de suas contribuies ao
aquecimento global. A ndia um regime democrtico mesmo que de baixa qualidade pela herana
das castas com a presena de um importante movimento ambientalista, que contesta, com
ambivalncia at hoje, a posio oficial. A populao mdia indiana tem uma orientao menos
materialista que a chinesa por causa da religio e por isso mais sensvel em termos de valores ao
estado do planeta. O governo da ndia muito fragmentado e ineficiente, o que torna muito mais
difcil que na China, uma mudana na direo de menor intensidade de carbono.
Rssia
A Federao Russa tem uma populao de 142 milhes de habitantes, um PIB de 1,4 trilho de
dlares e um PIB per capita de 10.000 dlares. Emite 1,4 bilho de toneladas, correspondente a 5,5%
das emisses globais com 10 toneladas por habitante e 1 tonelada de carbono por cada 1.000 dlares
de PIB. A Rssia uma economia com altas emisses per capita e alta intensidade de carbono,
constituindo um perfil nico entre as grandes economias do mundo. uma sociedade que enriqueceu
bastante nos ltimos sete anos, mas tem baixa eficincia energtica e matriz energtica fortemente
baseada em combustveis fsseis, sendo grande exportador de petrleo e gs. A Rssia ocupa uma
posio extremamente singular no quadro mundial pelas seguintes razes: (i) a arquitetura de Kyoto a
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
22
www.cindesbrasil.org
favorece totalmente em termos de parmetro de emisses porque, no ano base de 1990, a Unio
Sovitica era uma economia de altssima intensidade de carbono e baixssima eficincia energtica;
(ii) por ser uma economia cujo principal patrimnio a superabundncia de combustveis fsseis,
percebe-se como perdedora na transio para uma economia de baixa intensidade de carbono; (iii)
entre todos os grandes emissores, o nico pas em que uma parte das elites e formadores de opinio
percebem muito provavelmente erradamente que o aquecimento global poderia lhes ser favorvel
porque aumentaria extraordinariamente as terras agricultveis; (iv) favorecida pela arquitetura de
Kyoto e tender a opor-se fortemente a um acordo que constranja o uso dos combustveis fsseis no
mundo.
Indonsia
A Indonsia tem uma populao de 237 milhes de habitantes, um PIB de 460 bilhes de dlares e
um PIB per capita de 2.000 dlares. Emite aproximadamente 1,3 bilhes de toneladas de carbono,
correspondente a 5% das emisses globais, com 6 toneladas de carbono por habitante e 2,5 toneladas
de carbono por cada 1000 dlares de PIB. As emisses da Indonsia crescem a um ritmo assustador
de aproximadamente 10% ao ano, concentradas no desmatamento de suas florestas tropicais. Grande
parte das florestas da Indonsia de tipo turfa, que acumula uma extraordinria quantidade de
carbono, muito superior a da Amaznia. Um paradoxo da Indonsia que uma parte do desmatamento
nos ltimos anos feito para a converso em agricultura de dend destinada produo de biodiesel.
O biodiesel da Indonsia um exemplo negativo de biocombustvel oposto do etanol de cana do
Brasil cuja cadeia produtiva gera mais emisses de carbono que o petrleo. A Indonsia um pas
de renda per capita mdia-baixa e de baixa educao, que tem um regime poltico democrtico
incipiente, iniciado em 1998, depois de dcadas de autoritarismo. A Indonsia pertence, junto com a
ndia, ao grupo de grandes emissores pobres. Uma mudana da posio da Indonsia nas negociaes
internacionais depender da existncia de um pacote de assistncia significativo por parte dos pases
desenvolvidos. O custo de reduzir o desmatamento na Indonsia no baixo como o do Brasil, em
funo da imensa presso demogrfica por terra. Por essa razo, para serem viveis, os esforos de
reduo de desmatamento devero ter financiamento internacional.
Brasil
O Brasil tem uma populao de 190 milhes de habitantes, um PIB de 1,3 trilho de dlares e um PIB
per capita de 6.600 dlares. Emite aproximadamente 1 bilho de toneladas de carbono,
correspondente a 4% das emisses globais, 5 toneladas per capita e 0,8 tonelada de carbono por cada
1.000 dlares de PIB. Tratamento extenso do Brasil apresentado mais frente na seo 6.
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
23
www.cindesbrasil.org
Japo
O Japo tem uma populao de 127 milhes de habitantes, um PIB de 5 trilhes de dlares e um PIB
per capita de 39.000 dlares. Emite 800 milhes de toneladas de carbono, correspondentes a 3% do
total mundial, com 6 toneladas por habitante e 0,15 toneladas de carbono por cada 1.000 dlares de
PIB. O Japo (junto com pases da Unio Europia como Frana, Sucia e Dinamarca) a economia
com menor intensidade de carbono do mundo devido altssima eficincia energtica e ao grande
peso da energia nuclear na sua gerao eltrica. O Japo tem uma opinio pblica e uma parte
importante do seu empresariado (Honda e Toyota so emblemticos) favorveis a mitigar a mudana
climtica, mas seu papel de liderana na arena internacional est aqum das suas potencialidades
devido sua poltica externa de perfil baixo e sua relao especial com EUA. O plano Esfriando a
Terra 2050, lanado pelo Japo em 2007, o primeiro aprovado pelo governo de um pas importante
a mostrar um caminho detalhado e consistente para a transio de um pas para uma economia de
baixo carbono.
5.2. Critrios para distribuio dos custos da mitigao
A experincia transcorrida desde Kyoto 1997 ensina muito sobre as dificuldades de distribuir os
custos da mitigao, mas um acordo baseado em parmetros conceituais e operacionais consistentes
de distribuio de custos condio necessria, ainda que no suficiente, para que a cooperao
predomine sobre a inrcia e se caminhe seriamente no rumo da mitigao de emisses e da
estabilizao da concentrao de CO2 na atmosfera em 2050, num nvel que limite o aquecimento
global a 2C de temperatura. A realizao e implementao de um grande acordo global de mitigao
o maior desafio da humanidade globalizada do sculo 21 e, segundo a maioria dos mais importantes
especialistas no tema, deveria estar baseado numa combinao de trs critrios, que so
simultaneamente complementares e contraditrios (Haas, Keohane and Levin 1993, Aldy and Stavins
2007, Bernstein 2005, Keohane and Nye 2003, Timmons Roberts and Parks 2007).
Em primeiro lugar, temos o reconhecimento das responsabilidades diferenciadas entre os pases na
criao do problema do aquecimento global, o que no pode implicar a pretenso de distribuir os
custos segundo emisses histricas de longa durao, entre outras razes porque impossvel chegar a
um mnimo consenso sobre uma metodologia apropriada para isso. Alm disso, sempre que se
pretende voltar ao passado aumenta-se o conflito e diminui-se a cooperao no sistema internacional,
em muitos casos levando s guerras de redistribuio de territrios e populaes. O Oriente Mdio
hoje uma regio que est fixada no passado e na reafirmao das identidades atribuindo s geraes
atuais responsabilidade pelas aes de geraes anteriores e por causa disso a regio mais
conflituosa e uma das mais atrasadas do mundo. Do mesmo modo, as modernas democracias de
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
24
www.cindesbrasil.org
mercado tm tido um papel central na produo do aquecimento global, mas tambm o tiveram na
construo da modernidade tecnolgica, da prosperidade econmica e da globalizao das
oportunidades. Foi a produtividade sistmica das democracias de mercado que produziu a moderna
civilizao tecnolgica que, entre outras coisas, permite conhecer antecipadamente o problema do
aquecimento global e criar novas arquiteturas regulatrias como o mercado de carbono e
tecnologias para enfrentar o problema (Viola e Leis 2007). Faz sentido distribuir tetos de emisses,
direito de emisses e cotas por pases, em funo das ltimas trs dcadas, mas no dos ltimos dois
sculos.
Em segundo lugar, temos a vulnerabilidade diferencial dos pases a mudanas climticas por razes de
geografia fsica, do tipo de assentamentos humanos e da renda per capita. Essa vulnerabilidade
diferencial deve distribuir os custos de mitigao e adaptao de acordo com as capacidades
diferenciais dos pases em termos de contribuio para a reduo de emisses, em funo de
diferenas em capital humano, desenvolvimento tecnolgico e qualidade da governana.
Em terceiro lugar, temos a necessidade de reconhecimento realista de que o sistema internacional
atual est fundado numa combinao de dois vetores contraditrios: de um lado, as realidades do
poder econmico, poltico e militar diferenciado e assimtrico dos pases, de outro um direito
internacional crescentemente orientado para a eqidade de direitos dos pases e da populao mundial,
particularmente no referente ao uso dos global commons como a atmosfera. Os enfoques
desequilibrados que polarizam para um ou outro lado levam a uma situao onde todos perdem. Um
exemplo claro disto tem sido a poltica de poder baseada numa definio estreita e imediatista do
interesse nacional realizada nos ltimos anos pelos governos americano, australiano e russo para
evitar assumir responsabilidades e comportamento cooperativo efetivo. Outro exemplo emblemtico,
no sentido oposto, tem sido o suposto direito ao uso igualitrio da atmosfera em termos per capita,
que tem sido superdimensionado e utilizado com fora pelos pases emergentes. A combinao destes
caminhos conduziu inelutavelmente a um cenrio de baixa cooperao e a uma situao em que todos
perdem. Alm disso, perderam muito mais os que exigem uma equidade utpica comparados com os
que realizam a poltica de poder. Em outras palavras, Brasil, China, ndia, Mxico, frica do Sul e
Indonsia so muito mais vulnerveis a mudanas climticas que EUA, Rssia e o resto dos pases
desenvolvidos.
6. A vulnerabilidade da Amrica do Sul mudana climtica
A Amrica do Sul muito vulnervel mudana climtica: em termos comparativos a regio do
mundo mais vulnervel depois da Polinsia, frica, Sul da sia e costa Pacifica da sia. Trs grandes
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
25
www.cindesbrasil.org
tipos de desafios foram identificados pelo IPCC na Amrica do Sul: salinizao e desertificao de
zonas agriculturveis; riscos de inundao em reas costeiras baixas e deslocamento nos estoques de
peixes; e alteraes significativas da disponibilidade hdrica em muitas regies. Dentre os principais
problemas previstos, podemos citar a savanizao da Amaznia oriental, a mudana do padro de
chuvas na Amaznia ocidental com declnio significativo da densidade florestal e incndios muito
mais freqentes em toda a Amaznia. A regio do semi-rido brasileiro poderia tornar-se rida e
cresceriam muito os riscos advindos da erraticidade das precipitaes e da expanso de pragas sobre
os ciclos da produo agrcola nas terras de alta produtividade de alimentos de Brasil, Argentina,
Uruguai e Chile. O sul do Chile e do Peru e o sudoeste da Argentina j apresentam tendncias
declinantes nas precipitaes (IPCC 2007).
Haver maior erraticidade de variao do El Nio por causa do aquecimento global, que teria impacto
significativo sobre o conjunto do continente, particularmente na vertente ocidental dos Andes no
Equador e Peru. A diminuio dos glaciais dos Andes agravar o problema de abastecimento de gua
local e de energia na Bolvia, Peru, Colmbia e Equador. A regio do Delta do Rio Paran e a Costa
Ocidental do Rio da Prata, onde est situada a grande Buenos Aires (um tero da populao do pas)
sero extremamente vulnerveis a freqentes inundaes. Aumento dos extremos e da erraticidade das
precipitaes na costa atlntica sudeste e sul do Brasil afetaro locais com alta densidade
demogrfica.
A Amrica do Sul emite anualmente aproximadamente 1,8 bilhes de toneladas de dixido de carbono
equivalentes. As emisses de dixido de carbono (indstria, energia, transporte, desmatamento e
mudana do uso da terra); metano (pecuria, lixo, reservatrios hidreltricos) e xido nitroso
(fertilizantes na agricultura) somadas da Amrica do Sul totalizaram em 2006 aproximadamente 7 %
das emisses globais de carbono. Uma singularidade da Amrica do Sul que as emisses de dixido
de carbono derivadas do desmatamento e mudana de uso da terra so proporcionalmente muito altas
(aproximadamente a metade). O IPCC mostra que o Brasil desmatou 260.000 Km2 entre 1990 e 2000,
seguido por Peru, Colmbia, Venezuela, Bolvia, Paraguai, Argentina e Equador. Dados mais recentes
indicam que a taxa de desmatamento na presente dcada cresceu muito na Bolvia, Equador e
Paraguai, aumentou moderadamente em Peru e Colmbia, se manteve estvel na Venezuela e Brasil e
caiu na Argentina. As taxas de desmatamento (como proporo da cobertura florestal total) oscilam
desde 1% ao ano na Bolvia at 0,1% ao ano na Argentina, sendo de 0,3% ao ano no Brasil. O
Uruguai o nico pas com saldo positivo, j que est aumentando sua cobertura florestal via
reflorestamento e florestamento.
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
26
www.cindesbrasil.org
A Venezuela e a Argentina respondem cada uma por aproximadamente 1% das emisses globais. As
emisses per capita da Venezuela so de 7 toneladas e as de Argentina de 5 toneladas. A Venezuela
emite 1,3 toneladas de carbono por 1000 dlares de PIB e Argentina 1 tonelada. A Colmbia, o Peru e
o Chile so responsveis, aproximadamente, por 0,5% das emisses globais cada um e as emisses
per capita desses pases so de respectivamente 2, 2 e 6 toneladas.
As principais fontes de emisso de gases de efeito estufa no mundo so: energia, indstria e
transporte. Os 7% correspondentes Amrica do Sul esto concentrados em desmatamento e
mudana do uso da terra. O Brasil sozinho responsvel por 2% e mais 1,5% provm do
desmatamento na Colmbia, Peru, Venezuela, Bolvia, Equador e Paraguai. Os 3,5% restantes provm
de energia, indstria, transporte e do moderno agribusiness, sendo os principais emissores, nesses
casos, o Brasil, Argentina, Venezuela e Chile. As emisses da agricultura e pecuria so bastante
importantes no Brasil por causa do alto uso de fertilizantes e do metano derivado do maior rebanho de
gado do mundo.
Uma parte importante do desmatamento na Amrica do Sul ilegal chegando ao extremo 80% de
ilegalidade no Brasil, em funo de uma legislao ambiental rigorosa e isso tem um triplo efeito
negativo sobre as sociedades. Em primeiro lugar, implica uma grande destruio de recursos naturais
e uma converso muito ineficiente da floresta. Em segundo lugar, faz com que a proporo de
economia informal seja alta no conjunto da economia, com grande ineficincia sistmica. Em terceiro
lugar, o desmatamento desmoraliza a autoridade pblica e o imprio da lei, gerando assim um
ambiente propcio para o crescimento de outras atividades ilcitas, como: corrupo, contrabando,
narcotrfico, prostituio, trfico de armas e de animais silvestres (Leis e Viola, 2008).
Embora a Amrica do Sul seja muito vulnervel mudana climtica, o conjunto da regio se
encontra numa posio muito favorvel para a transio para uma economia de baixo carbono. Muito
diferente a situao de grandes pases emergentes em outras regies do mundo China, ndia,
Rssia, frica do Sul, Mxico que produzem grande parte de sua eletricidade a partir de
combustveis fsseis. A eletricidade de Amrica do Sul a mais intensivamente hdrica do mundo:
85% do total no caso do Brasil, 37% na Argentina, 67% na Venezuela, 75% na Colmbia, 53% no
Chile, 80% no Peru, 62% no Equador, 64% na Bolvia, 99% no Uruguai, 100% no Paraguai e 64% no
Suriname. Inclusive a Venezuela, que tem uma economia mais intensiva em carbono pela ineficincia
do transporte derivada do baixo preo da gasolina tem um grande peso hdrico na gerao de
eletricidade.
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
27
www.cindesbrasil.org
7. A singularidade do perfil de emisses do Brasil
O Brasil tem uma populao de 190 milhes de habitantes, um PIB de 1,3 trilho de dlares e um PIB
per capita de 6.600 dlares. Emite aproximadamente de 1 bilho de toneladas de carbono,
correspondente a aproximadamente 4% das emisses globais, 5 toneladas per capita e 0,8 tonelada de
carbono por cada 1.000 dlares de PIB. As emisses do Brasil nos anos 2005, 2006 e 2007 sofreram
uma forte reduo com referncia a 2004, que foi o ano de pico, devido dramtica queda da taxa de
desmatamento na Amaznia. Contudo, nos ltimos meses de 2007 a curva de emisses comeou a
subir novamente, resultado do desmatamento incentivado pelo forte incremento dos preos da carne e
da soja, o que j produziu um aumento de emisses em 2008 com relao a 2007, mas ainda num
patamar muito inferior ao do pico de 2004.
Os clculos das emisses brasileiras esto entre os mais complexos entre os grandes emissores por
causa da alta proporo de emisses de dixido de carbono derivadas do desmatamento na Amaznia
e no Cerrado, cujo clculo muito mais complexo que as emisses de energia, indstria e transporte.
Ao mesmo tempo o sistema de clculo de emisses do Brasil mais confivel que o de outros pases
emergentes (China, ndia, Indonsia) por ser uma democracia consolidada e por ter uma forte
comunidade cientfica. As emisses brasileiras de carbono segundo a primeira comunicao
nacional concluda e oficializada em 2004 eram, em 1994, de 1,4 bilho de toneladas de carbono
(Ministrio da Cincia e Tecnologia 2004). Em 2007, as emisses tinham cado consideravelmente no
que se refere ao desmatamento e aumentado significativamente em relao energia, indstria,
transporte, metano do gado e xido nitroso dos fertilizantes2.
O Brasil possui um perfil singular de emisses, j que aproximadamente 50% das emisses so
derivadas do desmatamento na Amaznia e no Cerrado, algo inusitado para pases de renda mdia ou
alta. Esse perfil se deve a uma matriz energtica de baixa intensidade de carbono, com alta proporo
de hidreltricas na gerao de eletricidade, e crescente importncia dos biocombustveis,
particularmente pela substituio da gasolina pelo etanol.
Alm disso, a distribuio regional de emisses muito desproporcional, j que os estados
amaznicos representam aproximadamente 45% das emisses, com 11% da populao e cerca de 6%
do PIB apenas. O resto do Brasil tem 55% das emisses, 89% da populao e 94% do PIB. A
assimetria da distribuio regional de emisses do Brasil uma das mais extremadas do mundo. As
__________________________________________________________________________
2
Os dados de desmatamento de 2007 so do INPE e os dados de emisses dos outros setores so estimativas internacionais comparadas do
Netherlands Environmental Statistic Assessment.
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
28
www.cindesbrasil.org
emisses per capita da regio amaznica esto entre as mais altas do planeta, aproximadamente 12
toneladas por habitante. A irracionalidade fica ainda mais gritante quando se considera a intensidade
de carbono na economia regional: na Amaznia brasileira emitem-se 5 toneladas por 1.000 dlares de
PIB, trs vezes as emisses por unidade de produto da China. De outro lado, as regies Sul, Sudeste,
Centro-Oeste e Nordeste emitem 3 toneladas por habitante e 0,4 toneladas por 1.000 dlares de PIB.
A intensidade de carbono nesta parte do Brasil relativamente baixa, similar dos EUA, e as
emisses per capita so equivalentes a um tero das registradas na Unio Europia e a um sexto das
emisses por habitante nos EUA.
Dezoito por cento das emisses globais de carbono provm do desmatamento e da mudana do uso da
terra e a Amaznia ocupa um lugar importante no ciclo global do carbono (Nobre e Nobre 2002).
Com aproximadamente 2% das emisses globais dessa origem, o Brasil o maior emissor por
desmatamento e mudana do uso da terra, depois da Indonsia, que tem aproximadamente 4% das
emisses globais dessa mesma origem. Um ponto muito desfavorvel ao Brasil que sua renda per
capita de 6.600 dlares, enquanto a da Indonsia de 2.000 dlares. O Brasil , junto com a
Malsia, o pas mais rico entre os desmatadores (Backstrand, and Lovbrand 2006). Como a Malsia
tem um territrio relativamente pequeno, conta pouco nas emisses globais derivadas do
desmatamento, mas o caso de Malsia proporcionalmente pior que o do Brasil, j que sua renda per
capita de 8.000 dlares.
Devido importncia da Amaznia nas emisses brasileiras de gs carbnico, conveniente examinar
com mais detalhe as polticas dos governos FHC e Lula para a regio. H mais linhas de continuidade
que de ruptura entre os dois governos.
Em primeiro lugar, a complacncia com o desmatamento ilegal, realizado por diversos atores sociais,
desde setores capitalistas modernos do Sul/Sudeste, passando por grandes e mdios proprietrios da
Amaznia at migrantes pobres, assentados do MST e populaes tradicionais. A complacncia com
o desmatamento gerado pelo MST aumentou bastante no governo Lula. Contudo, a partir de 2005
houve um importante esforo institucional de combate ao desmatamento ilegal condenado pelo
Ministrio de Meio Ambiente, que pela primeira vez nas ltimas duas dcadas tende a reduzir o
patamar mdio de desmatamento.
Em segundo lugar, no mesmo ambiente de tolerncia com o desmatamento, prosperam atividades
ilcitas na Amaznia: trfico de drogas, armas, animais silvestres, ouro e contrabando. O governo
FHC implantou rapidamente o SIVAM, com capital e tecnologia norte-americanos, apesar dos
protestos de setores nacionalistas. O sistema de vigilncia produziu excelentes condies tecnolgicas
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
29
www.cindesbrasil.org
para combater o ilcito nacional e transnacional e aumentar o estado de direito na Amaznia (Viola
2004-2). A combinao entre o SIVAM e a lei do abate tem produzido um significativo declnio do
trfico de drogas realizado por pequenos avies. A corrupo vinha crescendo continuamente na
Amaznia at o ano 2006, quando um aumento significativo da capacidade de inteligncia e
operacional da Polcia Federal aumentou os custos desse comportamento entre funcionrios pblicos
federais e estaduais que atuam na regio.
Em terceiro lugar, ambos os governos recorreram a programas de polticas pblicas o Avana
Brasil, no governo FHC, o Programa de Acelerao do Crescimento, no governo Lula que enfatizam
a abertura e pavimentao de rodovias e no do importncia suficiente s modalidades ferroviria e
hidroviria de transporte. O paradigma rodovirio continua dominando, em parte por inrcia, em parte
pelo peso do lobby das grandes empreiteiras e tambm pela lgica eleitoral dos polticos, j que os
ganhos das ferrovias e hidrovias s so visveis num prazo mais longo e, tambm, porque mudar o
paradigma rodovirio seria de difcil viabilidade oramentria num contexto de estrangulamento fiscal
do Estado.
Em quarto lugar, nos dois governos percebe-se baixa capacidade de articular polticas e incentivos
para o desenvolvimento do complexo biodiversidade/biotecnologia, que valorizaria os recursos
florestais promovendo o desenvolvimento de cadeias produtivas de alto valor adicionado. Para tanto,
necessria a atrao de capital estrangeiro em grande escala, particularmente nos setores farmacutico
e de cosmticos. O governo Cardoso era mais favorvel participao do capital estrangeiro, mas essa
posio mudou no atual governo. No governo Lula, o conceito de biopirataria adquiriu peso crescente,
em grande medida impulsionado pela Ministra Marina Silva, reduzindo o interesse do capital
estrangeiro pela biotecnologia na Amaznia.
Em quinto lugar, em ambos os governos nota-se baixa capacidade para promover o ecoturismo
nacional e internacional, numa regio que tem um dos maiores potenciais do mundo nesse setor, um
dos que mais crescem na economia mundial. Um complexo ecoturstico na Amaznia envolveria
desde atividades tradicionais como hotelaria, transporte e artesanato at atividades inovadoras como
itinerrios de explorao terrestre da floresta, cruzeiros fluviais e caa controlada (da qual se
poderiam obter altos recursos em funo da existncia de um forte mercado consumidor
particularmente na populao norte-americana). claro que um requisito fundamental para o
ecoturismo a segurana pblica e o pleno estado de direito, sem o qual a promoo daquele torna-se
muito vulnervel.
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
30
www.cindesbrasil.org
Em sexto lugar, ambos os governos apoiaram o crescimento da presena do Exrcito na Amaznia,
cujos efetivos passaram de aproximadamente 12.000 em 1995 para cerca de 26.000 em 2008, uma
parte importante distribuda nos pelotes especiais de fronteira. A extenso e aprofundamento da
presena do Exrcito na Amaznia de fundamental importncia em virtude das novas ameaas
difusas transnacionais (trfico de drogas, armas e animais silvestres, contrabando, terrorismo) para
garantir a soberania nacional, melhorar o Estado de Direito e aumentar a qualidade da governana. A
presena do Exrcito na Amaznia est sendo tambm importante para aumentar a integrao da
populao de origem indgena sociedade nacional atravs do desenvolvimento da Brigada de
Infantaria de Selva na Amaznia Ocidental e tem sido um plo de modernizao do nvel de
preparao e capacidade operacional do conjunto do Exrcito Brasileiro. Outro fator importante da
presena do Exrcito o Batalho de Engenheiros do Comando Militar da Amaznia que tem sido
decisivo no desenvolvimento da limitada infra-estrutura amaznica. Apesar da importante presena do
Exrcito, os recursos a ele destinados na regio so ainda limitados, o que se combina com uma clara
deficincia na presena da Marinha, que seria decisiva para o controle do conjunto da rede fluvial da
bacia Amaznica e particularmente de sua desembocadura. A presena da Fora Area tambm tem
contribudo para a qualidade da governabilidade j que atua sistematicamente no apoio a servios de
sade, transporte e logstica do conjunto da populao.
Em stimo lugar, nenhum dos dois governos deu importncia ao Tratado de Cooperao Amaznica
na poltica internacional regional do Brasil. Para isso seria necessrio assumir o custo da liderana
atravs de polticas e recursos financeiros brasileiros em vrias dimenses: promoo da segurana
pblica nas zonas fronteirias e combate ao ilcito transnacional; promoo da infraestrutura de
transportes em todas as modalidades, mas particularmente hidroviria, ferroviria e area; promoo
do desenvolvimento energtico integrado, particularmente no setor hidreltrico, no qual o Brasil e a
regio tm vantagens competitivas em escala mundial; e promoo de uma rede regional de
laboratrios de biodiversidade/biotecnologia com forte aporte de capital americano, europeu e
japons. A utilizao do Tratado de Cooperao Amaznica como ferramenta era difcil durante o
governo FHC devido a gigantescas restries fiscais, mas tem se tornado vivel a partir de 2005.
Por causa do seu perfil de emisses concentrado no desmatamento e por ser um pas de renda per
capita mdia, o Brasil o pas com menor custo de reduo de emisses entre os grandes emissores.
80% do desmatamento na Amaznia ilegal, o que torna o objetivo de desmatamento ilegal zero
(levantado por uma coalizo de ONGs e formadores de opinio) vivel num prazo razovel, j que se
trataria de implementar as leis existentes e no de mudar a legislao. Nessa questo houve avanos
muito importantes nos ltimos trs anos: de uma mdia histrica, at 2004, de 22.000 Km2, reduziuse para uma mdia anual de 14.000Km2 em 2005-2007 o desmatamento anual no conjunto dos
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
31
www.cindesbrasil.org
estados amaznicos. Consolidar e aprofundar essa reduo depende de aumento significativo do gasto
publico federal na regio: aparelhamento e aumento de efetivos das agncias federais e estaduais de
fiscalizao, criao de uma policia florestal amaznica com o objetivo de reprimir o desmatamento
ilegal e todas as atividades ilcitas praticadas na floresta; pagamento de uma renda s populaes
locais pelo servio de manter a floresta em p, regenerar florestas degradadas e reflorestar reas para
indstria madeireira; e implementar um plano abrangente de regularizao fundiria.
O aprofundamento do controle do desmatamento poderia continuar incrementalmente at que todo o
uso e converso de floresta para outras atividades sejam de alta eficincia: explorao sustentvel da
madeira atravs de concesses em leiles, energia hidreltrica com boa relao custo-benefcio entre
extenso do alagamento e produo de energia, reservas de agricultura estabelecidas por prvio
mapeamento de terras apropriadas e leiloadas para uso em agrosilvicultura e agricultura anual de alta
produtividade. Uma experincia piloto de pagamentos de servios ambientais foi lanada em incio de
2007 no Estado da Amaznia com o estabelecimento do programa bolsa floresta, pelo qual
populaes locais receberam aproximadamente 600 reais per capita como pagamento por contribuir
para manter a floresta em p. A nova lei florestal nacional de 2006 e a criao do servio de florestas
estabelecem uma arquitetura jurdica e regulatria favorvel diminuio da dissonncia entre a lei e
a realidade, tendendo a promover uma utilizao mais racional e eficiente dos recursos florestais. Os
leiles para a construo das barragens do Rio Madeira em 2007 e 2008 aumentaram muito a
qualidade ambiental e a eficincia dos empreendimentos comparados com as barragens anteriores.
Contudo esses projetos foram aprovados sem a realizao de estudos prvios de simulao de
vulnerabilidade climtica, vinculados a potenciais mudanas nos regimes de chuvas durante o sculo
21.
8. O Brasil nas arenas internacionais da mudana climtica e a poltica nacional.
O desempenho brasileiro no processo de negociao/ratificao de Kyoto (1996-2004) foi guiado por
uma definio do interesse nacional baseada em cinco dimenses principais (Viola 2004-2, Lago
2004, Barros-Platiau 2006):
1 afirmar o direito ao desenvolvimento como componente fundamental da Ordem Mundial, em
consonncia com um dos pilares clssicos da poltica externa brasileira;
2 promover uma viso mundial do desenvolvimento associada sustentabilidade ambiental, em
correspondncia com o forte crescimento da conscincia pblica a respeito do meio-ambiente no
Brasil e sua traduo em polticas estaduais e nacionais;
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
32
www.cindesbrasil.org
3 promover o financiamento por parte de pases desenvolvidos para projetos relacionados
mitigao climtica em pases em desenvolvimento;
4 promover um papel de liderana para o Brasil no mundo, em correspondncia com o crescimento
do prestgio internacional do pas durante o governo FHC; e
5 bloquear regulamentaes internacionais do uso de florestas com o objetivo de evitar os riscos de
questionamentos internacionais em relao ao desmatamento na Amaznia. importante ressaltar que
a entrada da questo das florestas no regime climtico mundial no foi percebida como ameaa sua
soberania nacional pela maior parte dos outros pases detentores de vastas florestas: Estados Unidos,
Canad, Rssia, Austrlia, Chile, Argentina, Colmbia, Peru, Costa Rica e Mxico. Ao contrrio,
estes pases promoveram a regulamentao florestal internacional (Viola 2002).
No que diz respeito aos sumidouros de carbono, o interesse nacional brasileiro foi definido na
primeira metade da dcada de 1990 de forma defensiva: a floresta amaznica foi percebida como nus
por causa do desmatamento e no foi considerada como trunfo por seu papel mundial na absoro do
gs carbnico (Viola 1997). A presuno implcita dos negociadores brasileiros era a de que o pas
no conseguiria combater de forma eficaz o desmatamento amaznico. Esse sentimento de impotncia
com relao a controlar o desmatamento na Amaznia tem se mantido com grande fora de inrcia
nos diplomatas brasileiros, mas comeou a mudar nos ltimos anos.
A definio defensiva do interesse nacional do Brasil o levou a se opor incluso de todo o ciclo do
carbono no Protocolo de Kyoto, com medo de que, no futuro, quando fossem estabelecidos
compromissos para os pases emergentes, o pas pudesse ser prejudicado devido ao elevado
desmatamento na Amaznia.
A deciso final pode ser analisada como resultado intermedirio para a posio brasileira: de um lado,
o Brasil e a Unio Europia foram derrotados porque a questo dos sumidouros de carbono foi
includa com parte integrante do Protocolo, de outro, em relao ao Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo, somente reflorestamento e florestamento podero ser contados como atividades de seqestro
de carbono, ficando de fora o desmatamento evitado de florestas primrias (nessa questo, Brasil e
Unio Europia saram vitoriosos). Na questo da no-incluso do combate ao desmatamento no
MDL, o Brasil encontrava-se em minoria frente aos pases no-membros do Anexo 1, especialmente
na Amrica Latina. (Viola 2002)
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
33
www.cindesbrasil.org
Na rea florestal, o Brasil ficou isolado novamente no contexto sul-americano em 2006, ao propor,
um fundo internacional voluntrio que seria financiado pelos pases desenvolvidos para reduzir o
desmatamento, sendo que esse fundo estaria fora do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e no
contabilizaria crditos de carbono para os financiadores. Numa dinmica contrria a brasileira,
Colmbia, Peru e Chile (apoiados pelos outros pases da Amrica do Sul) fizeram propostas bastante
convergentes de entrada do desmatamento evitado no MDL, o que implicaria uma extraordinria
expanso do mercado global de carbono. Apesar de o Brasil ser (depois do Chile) a economia de
mercado mais desenvolvida da Amrica do Sul, os formuladores de sua poltica climtica continuam
tendo uma desconfiana estrutural sobre o papel dos mecanismos de mercado na mitigao da
mudana climtica. Como a governabilidade do Brasil melhor que a de quase todos os pases
florestais tropicais e conseqentemente a eficcia potencial de fundos colocados no pas com relao
aos outros pases maior, o governo brasileiro conseguiu o apoio da Noruega para a criao de um
Fundo de Combate ao Desmatamento na Amaznia gerido pelo BNDES (2008) e tem a expectativa de
que outros pases desenvolvidos possam aderir a esse fundo.
Apesar de ser um pas emergente com uma matriz energtica limpa, o Brasil constituiu uma forte
aliana com pases emergentes de matrizes energticas extremadamente dependentes de combustveis
fsseis (China, Indonsia, ndia e frica do Sul). A vantagem da matriz energtica sempre esteve
subordinada desvantagem do desmatamento amaznico na formao da posio brasileira. Assim
sendo, o pas se aliou, de forma geral, com a Unio Europia contra os pases florestais com
capacidade de controlar seu desmatamento (Estados Unidos, Canad, Austrlia, Rssia, Japo, Chile,
Argentina e Costa Rica) na questo da incluso do sequestro de carbono na contabilidade das
emisses. Consequentemente, o Brasil no deu valor ao servio ambiental prestado ao mundo por
florestas enquanto sumidouros de carbono. Uma viso alternativa positiva sobre a Amaznia teria
levado o Brasil a uma aliana inversa, o que poderia ter tido influncias significativas no perfil final
do Protocolo.
O Brasil tem um papel decisivo e seria um grande ganhador na transio para uma economia de baixo
carbono. Suas vantagens so suas dimenses continentais, sua economia diversificada, seu peso
geopoltico na Amrica do Sul, sua matriz eltrica quase descarbonizada e de intensidade mdia no
setor de transportes, seus recursos hdricos, sua capacidade tecnolgica, seu capital empreendedor, sua
capacidade agrcola, e sua alta competitividade no agribusiness mundial (NAEE 2004). Entretanto,
assumir essa liderana requer dois passos grandes. O primeiro compreender o custo que essa
liderana implica e o segundo relativo a uma grande mudana na conduo da poltica externa, que
tenha capacidade de avaliar auto-criticamente o passado e as vantagens das propostas de reduo do
desmatamento vindas dos pases desenvolvidos, que eram sinrgicas com o interesse nacional
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
34
www.cindesbrasil.org
brasileiro. Alguns formuladores e implementadores da poltica externa climtica do Brasil na dcada
passada como o embaixador Rubens Ricupero j chegaram a essa concluso e promovem uma
mudana na posio do pas.
At agora a posio do Brasil tem sido a de lder de uma coalizo de resistncia baseada numa
clivagem Norte/Sul que contraditria com a necessidade de mitigar efetivamente a mudana
climtica. O problema manter a aliana com a China e a ndia, quando houve uma mudana radical
no lugar desses pases no ciclo global do carbono comparado com 1995 quando essa aliana se
estabeleceu. A China tinha aproximadamente 10% das emisses e a ndia 4% em 1995, hoje a China
tem 22% e a ndia 8%. Como um pas de eletricidade limpa se alia com os gigantes da energia suja?
Japo, Alemanha, Sucia, Gr-Bretanha e Dinamarca so a vanguarda da transio para uma matriz
energtica de baixa intensidade de carbono, mas existe dificuldade particularmente no Itamaraty, mas
tambm no Ministrio de Cincia e Tecnologia, para perceber a convergncia de interesses com esses
pases. J a posio do Ministrio de Meio Ambiente tem sido em favor de mudar as alianas
histricas, mas seu peso na negociao secundrio.
Assim como o Brasil, a maioria dos pases da Amrica do Sul (Colmbia, Equador, Peru, Bolvia e
Paraguai) poderia diminuir significativamente suas emisses de carbono reduzindo o desmatamento
ilegal. A Argentina e Uruguai tm muito a ganhar em termos de conservao da energia e com isso
poderiam crescer economicamente com emisses estabilizadas. A estrutura de preos de energia na
Argentina irracional tanto do ponto de vista econmico quanto das emisses de carbono. O Chile,
que o pas mais rico da Amrica do Sul, tem muita margem para aumentar a eficincia energtica e
padres de emisses dos seus veculos. J mais eficiente energeticamente e tem uma economia de
maior produtividade mdia que lhe permitiria incorporar mais rapidamente novas tecnologias
climticas que esto emergindo nos pases desenvolvidos. A Venezuela tem tambm uma boa margem
para diminuir a intensidade de carbono atravs de trs vetores: eliminao dos subsdios diretos e
indiretos ao consumo de petrleo, que tornam a frota de automveis desse pas uma das mais
irracionais do mundo; aumento da conservao de energia eltrica onde h bastante espao para
ganhos; e reduo do desmatamento.
At agora, as estruturas de integrao regional na Amrica do Sul Mercosul, Comunidade Andina,
UNASUL e Organizao do Tratado de Cooperao Amaznica no tm se dedicado problemtica
da mudana climtica. A Organizao de Tratado de Cooperao Amaznica, institucionalizada em
2004, funciona num nvel apenas formal, particularmente devido ao baixo interesse do governo
brasileiro. Este mais um dos paradoxos da poltica sul-americana do Brasil j que a produtividade de
recursos financeiros e institucionais alocados nessa estrutura de cooperao poderia ser muito alta,
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
35
www.cindesbrasil.org
combinando combate ao ilcito transnacional e ao desmatamento ilegal e promovendo o estado de
direito (Viola e Leis 2007).
9. Foras econmicas e polticas pblicas favorveis transio para uma economia de baixo
carbono no Brasil
Grande parte do capital fixo que estar vigente no Brasil em 2050 no est ainda construda e isso
significa uma grande oportunidade em termos das principais dimenses de mitigao e adaptao
mudana climtica: planejamento urbano que promova o transporte coletivo e evite o
desenvolvimento em reas vulnerveis (como encostas ou muito prximo das praias), infra-estrutura
rodoviria e ferroviria resiliente aos extremos climticos, rede de dutos de etanol, centrais
hidreltricas que levem em conta as mudanas de precipitao geradas pelo aquecimento global,
variedades de produtos agrcolas mais resistentes s pragas. Esses processos ainda so muito pouco
debatidos, a comear pela carncia da conscincia pblica sobre a importncia decisiva dos estudos de
risco climtico. O Brasil que tem um mnimo de percepo em determinadas elites, inclusive
incentivado recentemente por sua competitividade nos biocombustveis tanto em termos de vantagens
naturais quanto de desenvolvimento tecnolgico est planejando a produo de uma nova onda de
hidreltricas sem ter includo ainda nos estudos de viabilidade o impacto da mudana climtica sobre
os regimes de chuva. Deste modo, um capital fixo planejado para durar um sculo pode diminuir
significativamente sua produtividade em trs ou quatro dcadas.
Alguns
setores
importantes
da
economia
brasileira
demonstram
potencial
e interesse na transio para uma economia de baixo carbono:
1- As empresas de gerao de eletricidade a partir de hidreltricas e correlatas, tais como as de
construo de hidreltricas e toda a cadeia da indstria da construo e de bens de capital de alta
intensidade a eles vinculados.
2- A Eletronuclear e toda a cadeia produtiva vinculada construo e operao de usinas nucleares e
ao enriquecimento do urnio. Nos ltimos anos, o setor nuclear no Brasil utiliza sistemtica e
intensivamente a questo da mudana climtica para influenciar a opinio pblica e os tomadores de
deciso num sentido favorvel.
3- A cadeia produtiva do etanol produtores de acar, usinas de lcool, municpios cuja atividade
econmica est focalizada no etanol, burocracias pblicas associadas regulao do etanol e
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
36
www.cindesbrasil.org
comunidade cientfico-tcnica vinculada pesquisa de etanol de segunda gerao (a partir da
celulose).
4- A cadeia produtiva do transporte coletivo: empresas montadoras de nibus, vages ferrovirios e
metrovirios; empresas de reforma urbanstica e de servios correlatos. Em geral, calcula-se que
aqueles que usam carros individuais emitem 15 vezes mais do que aqueles que usam transporte
coletivo. A questo da mudana climtica se agrega ao dficit de transporte coletivo, que tem sido
historicamente um grande problema no Brasil em termos de bem-estar da populao e
congestionamento de trnsito. O setor possui fortes lobbies em diversas cidades. Nas regies
metropolitanas brasileiras, o trnsito e o transporte tm se tornado crescentemente de baixssima
eficincia. A questo do trnsito lento tende a confluir com as questes da poluio urbana e das
emisses de carbono em favor de um ponto de inflexo favorvel ao transporte coletivo. Est claro
hoje que solues como o rodzio, implantado em So Paulo, so precrias e de validade temporria.
5- O setor de turismo ecolgico, que atrai pessoas de orientao ps-materialista e dispostas a pagar
para diminuir sua pegada climtica, poderia se expandir muito com melhor segurana pblica, mas
este um setor contraditrio, j que de outro lado utiliza bastante o transporte areo que muito
intensivo em emisses. Turismo o setor que tem maior potencial de crescimento no mundo.
6- O setor de siderurgia um potencial ganhador na transio para uma economia de baixo carbono
devido potencialidade de menor intensidade de carbono do conjunto da cadeia produtiva brasileira
se comparada com o resto do mundo: eletricidade de origem hdrica; transporte e logstica muito
favorvel do minrio de ferro; e, propores mais favorveis entre biomassa e carvo mineral.
7- Em termos gerais, os agentes econmicos mais modernos e internacionalizados, tanto filiais de
multinacionais quanto empresas nacionais, iniciaram nos ltimos dois anos um processo de
internalizao da questo de intensidade de carbono das cadeias produtivas nos seu processo
decisrios e de planejamento.
Existem tambm importantes foras socioeconmicas resistentes governabilidade do clima:
1- Os diversos agentes econmicos que realizam desmatamento ilegal so os grandes perdedores do
constrangimento do carbono. A linha de frente do desmatamento ilegal feita por uma parte do
complexo da indstria da madeira de pequeno e mdio portes. Em geral, as atividades agropecurias
da fronteira agrcola seriam afetadas, na medida que se tornariam mais reguladas. Contudo, um
zoneamento econmico-ecolgico que defina as reas aptas para a produo agropecuria na
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
37
www.cindesbrasil.org
Amaznia particularmente as vastas reas j degradadas - acompanhado de uma severa aplicao da
lei geraria previsibilidade e tenderia a atrair o agribusiness moderno.
2- A Petrobrs e as filiais de vrias multinacionais instaladas no pas. A Petrobrs tem perfil singular e
contraditrio. De um lado, como empresa focalizada na produo e comercializao de petrleo tem o
mesmo interesse que suas congneres em retardar o constrangimento de seu uso. De outro lado, como
faz parte da cadeia de produo e distribuio do etanol tem parte dos seus interesses ligados
expanso de energia renovvel. Contudo, sua transformao em empresa de energia tem sido at
agora mnima se comparada com as empresas mais avanadas como a B.P., a Shell e a Staten Oil
norueguesa. Ao mesmo tempo, mais avanada em seu discurso e planejamento que todas as suas
congneres estatais. Por ser uma empresa mista, a Petrobrs moldada pelas foras mais amplas da
economia e sociedade brasileiras. A nova conscincia internacional do Brasil como pas de energia
limpa a impele na direo de transformar-se numa empresa ampla de energia - investindo em energia
elica e solar e promovendo uma reforma do marco regulatrio a favor dessas energias com vasto
potencial de crescimento no pas e na tecnologia de captura e sequestro de carbono fssil. Mas a
descoberta recente do pr-sal aumenta os interesses criados da empresa na civilizao do petrleo e
pode ser mais um fator de conservadorismo. Deste ponto de vista, a posio que tende a predominar
na empresa e no pas a favor de no exportar petrleo bruto e investir em refino e petroqumica um
fator favorvel a adaptar a empresa a um mundo constrangido em carbono, j que a progressiva
substituio do petrleo como combustvel abre caminho para ampliar seu uso petroqumico.
3- A indstria do cimento e as empresas proprietrias ou operadoras de termoeltricas tambm se
percebem como perdedoras na transio e tendem a ser resistentes em todo o mundo.
4- Entre as montadoras existe uma linha divisria no muito clara entre as que produzem carros de
design mais ecolgico e eficiente energeticamente - Honda, Toyota, Hyundai, Peugeot, Renault e as
que se mantm dentro de um velho paradigma - Ford, GM e Fiat.
No nvel do governo, o panorama muito pobre. As polticas pblicas de mitigao e adaptao
mudana climtica tm sido muito limitadas at o momento. Os recursos alocados ao Ministrio de
Cincia e Tecnologia e de Meio Ambiente para tratar da questo tm sido mnimos. O Plano
Plurianual enviado pelo Executivo ao Congresso em 2007 no alocou recursos de alguma significao
para medidas de mitigao e adaptao. Apenas em 2007 foi criada uma Secretaria sobre Mudana do
Clima e Qualidade Ambiental no Ministrio do Meio Ambiente, com capacidades muito limitadas e
oramento restrito. Em junho de 2008, o Poder Executivo enviou ao Congresso um projeto de Lei de
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
38
www.cindesbrasil.org
Mudanas Climticas que no internaliza a mudana climtica na arquitetura jurdica brasileira como
outros pases j fizeram. A tramitao do projeto no Congresso tem sido lenta por diferentes razes.
O Plano Nacional de Mudanas Climticas anunciado em dezembro de 2008 na vspera da
Conferncia de Poznan tem um significado ambguo. De um lado, no produto de um esforo
focalizado e consistente dos principais ministrios para internalizarem centralmente nas suas polticas
a mitigao e adaptao mudana climtica; e tampouco prope a criao de um ministrio
unificado de Clima e energia como est sendo feito em vrios pases e que ser a tendncia
dominante do futuro. Por outro lado, significa uma ruptura (pelo menos no nvel do discurso e das
intenes) com o discurso histrico do Estado brasileiro no que se refere Amaznia, ao propor
metas de reduo do desmatamento quantificveis e cronograma de realizao.
O Plano foi recebido pela comunidade climtica do Brasil com certo ceticismo, por ter sido anunciado
na ltima hora e somente depois de ter sofrido fortes presses e crticas nacionais e internacionais na
sua verso anterior. O ministro Carlos Minc, que liderou os avanos no plano, est comprometido
com ele, mas o ncleo duro do governo mostra resistncias e, assim como o prprio Presidente Lula,
tem um histrico de baixa sensibilidade para a questo. Ficam, portanto, muitos interrogantes sobre a
efetiva implementao do Plano no perodo que resta do seu governo.
O apago eltrico de 2001 gerou um gigantesco aumento da eficincia energtica no Brasil
(aproximadamente 20% segundo as melhores estimativas) e da conscincia pblica com respeito
conservao da energia. Infelizmente esse ganho no tem sido absorvido nas polticas pblicas como
parte de uma matriz mais ampla de reduo das emisses de carbono. A pequena e necessria
diversificao da matriz de eletricidade que se promoveu nos ltimos anos, como produto do apago,
foi na direo de termoeltricas de combustveis fsseis, ao invs de termoeltricas de biomassa e
redes elica e solar.
Desde 2006, o Presidente Lula captou bem quo estratgico para o Brasil que haja uma economia
global de biocombustveis. A diplomacia do etanol avanada do ponto de vista do interesse nacional,
mas dissonante com a posio do Brasil de aliado da China e da ndia nas negociaes de mudana
climtica. Ser conseqente com a diplomacia do etanol levaria convergncia com a UE e o Japo. O
que o Brasil precisa para consolidar a poltica do etanol garantir ao mundo que a transio para os
biocombustveis no Brasil, com efeitos mundiais, no vai ser feita com desmatamento. Essa
demonstrao relativamente fcil no referente ao etanol, mas muito mais difcil com relao ao
biodiesel j que a soja uma de suas matrias primas fundamentais e ela tem avanado bastante na
Amaznia. O Brasil tem terras agricultveis vastssimas e no precisa em absoluto desmatar para
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
39
www.cindesbrasil.org
produzir etanol. Mas uma parte dos europeus argumenta que o aumento do etanol no Centro-Oeste e
Sudeste empurra a fronteira da soja e da pecuria para a Amaznia. Por isso decisivo para o Brasil
ter um progresso consistente na reduo do desmatamento na Amaznia. Este um requisito
necessrio para transformar o etanol numa commodity mundial.
10. Concluso e perspectivas
Considerando como grandes emissores os pases que tm individualmente pelo menos 1,5% das
emisses globais e tomando 2007 como ano de referncia, existem 15 pases que so grandes
emissores de carbono, por ordem de participao nas emisses globais: China, EUA, Unio Europia,
ndia, Rssia, Indonsia, Brasil, Japo, Canad, frica do Sul, Mxico, Austrlia, Coria do Sul,
Turquia, Ir e Arbia Saudita. A Unio Europia deve ser considerada como um pas pela sua
integrao econmica e poltica e porque vem negociando como unidade nas questes da mudana
climtica desde 1996. O grupo G8 + 5, que vem se formando gradualmente nos ltimos anos, rene a
maioria desses pases, j que apenas seria necessrio agregar a Indonsia, Austrlia, Coria do Sul,
Turquia, Ir e Arbia Saudita.
Com fins heursticos podemos trabalhar com trs grandes cenrios futuros ordenados segundo a
relao entre cooperao e conflito, estrutura conceitual chave para a anlise do sistema internacional.
Podemos assim esboar imagens/cenrios alternativos grosseiros, mas de utilidade para a
compreenso do problema, baseado no grau de cooperao no sistema internacional: em primeiro
lugar o cenrio Hobbessiano, de carter pessimista; em segundo lugar o cenrio Kyoto Aprofundado,
de carter intermedirio; e em terceiro lugar o cenrio de Grande Acordo, de carter otimista.
O cenrio Hobbesiano implica numa estagnao no nvel baixo de capacidade de cooperao da
humanidade atingido pelo Protocolo de Kyoto hoje em vigncia. O status quo implica que seis dentre
os oito grandes emissores o primeiro (China), o segundo (EUA), o quarto (ndia), o quinto (Rssia),
o sexto (Indonsia) e o stimo (Brasil) no se comprometem com a reduo de emisses ou de sua
curva de crescimento, sendo que suas emisses tm crescido nos 10 anos transcorridos desde 1997 e
particularmente nos casos de China, ndia, Rssia e Indonsia tm crescido muito rapidamente. Neste
cenrio a COP 15 de Copenhagen (dezembro 2009) um fracasso e observa-se um aumento acelerado
na concentrao de gases estufa, ultrapassando-se em aproximadamente trs dcadas o limiar de
550ppm (partes por milho) considerados pelos climatlogos como nvel crtico para limitar o
aquecimento global a 2 graus de aumento da temperatura (Lee 2007). Neste cenrio no haveria
segurana climtica. Este cenrio de baixa probabilidade a partir da eleio de Obama nos EUA.
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
40
www.cindesbrasil.org
O cenrio Kyoto Aprofundado supe um acordo sobre um segundo perodo de compromissos entre as
partes baseado em compromissos dos pases do Anexo 1 apenas incrementalmente superiores aos do
primeiro perodo e, no caso dos pases emergentes de renda mdia, apenas em compromissos bastante
graduais de reduo da curva de crescimento de emisses ate 2030 sem compromissos de reduo
de emisses em torno de 2020. O cenrio Kyoto Aprofundado parece cada vez menos adequado para
lidar efetivamente com o problema, principalmente em funo dos resultados quase irrelevantes do
ponto de vista de emisses que alcanou at o momento o Protocolo de Kyoto. Neste cenrio, at a
COP 15 (dezembro 2009 em Copenhague ou alguns meses depois no caso de haver prorrogao), os
EUA, a Unio Europia e o Japo no conseguiriam persuadir a China, ndia, Rssia, Indonsia e
Brasil sobre a necessidade de assumir compromissos imediatos de reduo da curva de crescimento de
emisses e posteriormente de reduo de emisses. Embora menos catastrfico que o cenrio anterior,
tambm no haveria aqui segurana climtica. Este cenrio o mais provvel no quadro vigente no
incio de janeiro de 2009. Neste cenrio no se atingiria a segurana climtica.
O cenrio da Grande Acordo corresponde a um tratado internacional para uma forte reduo das
emisses globais de carbono negociado focalmente entre os grandes emissores EUA, Canad, Unio
Europia, Rssia, China, ndia, Brasil e Japo e os emissores importantes Austrlia, Coria do Sul,
Indonsia, frica do Sul, Mxico, Turquia, Arbia Saudita e Ir. Esta negociao cooperativa iniciaria
em 2009 e implicaria numa liderana incisiva americana/europia/japonesa, propondo-se metas de
reduo de emisses superiores s que tm sido colocadas at agora na mesa de negociaes. Este o
modelo de negociao proposto por Nicholas Stern que tem influncia significativa nas elites
ocidentais (Stern 2008). Este parece ser o nico caminho para que os pases desenvolvidos sejam
capazes de lograr concesses significativas por parte dos grandes emissores emergentes em termos de
metas. Seria uma negociao plurilateral entre os grandes emissores, paralela e convergente com as
negociaes da UNFCCC-COP, que provavelmente demoraria mais de um ano e por essa razo
diminuiria a importncia do deadline da COP de Copenhagen em dezembro de 2009.
Quando um acordo profundo e uma estrutura operacional com cronogramas e metas precisas forem
negociados entre os grandes emissores no seria muito difcil que a Conferencia das Partes da
Conveno o aprovasse. Para a maioria dos pases, a relao incentivo/punio para aderir ao Acordo
seria um fator fortemente persuasivo. Um acordo assim ratificado envolveria a quase totalidade das
emisses globais. Nesta nova arquitetura global de mitigao e adaptao mudana climtica
haveria vrios estratos de cooperao internacional global, regional, plurilateral, bilateral como
por exemplo: acordo nuclear entre EUA, Unio Europia e Japo de um lado e China e ndia, de
outro, que levantasse restries Ocidentais e facilitasse os investimentos nucleares dos pases
desenvolvidos nos gigantes demogrficos; acordo entre Brasil e pases de Amrica Latina e frica
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
41
www.cindesbrasil.org
para desenvolver o lcool de cana; acordos entre pases desenvolvidos e os principais detentores de
florestas tropicais para financiar a reduo do desmatamento.
Neste cenrio todos os grandes emissores seriam capazes de ceder significativamente nos seus
objetivos nacionais de curto e mdio prazos devido percepo de que ganhariam muito mais no
mdio e longo prazos. Esta seria a grande oportunidade de o Brasil se tornar parte do grupo lder,
juntando-se aos EUA, Unio Europia e Japo, e cumprindo um papel crucial no engajamento e
persuaso da China, ndia, Rssia e Indonsia. importante ressaltar que a internalizao da
problemtica da segurana climtica neste cenrio permitiria o desenvolvimento de uma arquitetura
global de governana da mudana climtica que por sua vez impulsionaria a governana (e a
governabilidade) climtica regional e nacional. Este cenrio de probabilidade baixa, mas sua chance
tem crescido a partir dos primeiros dias do governo Obama.
Neste cenrio o interesse nacional do Brasil converge com o interesse geral da humanidade, j que o
pas seria um grande ganhador na transio para uma economia de baixo carbono pela importncia da
hidreletricidade e dos biocombustveis na sua matriz energtica e pelo potencial exportador do etanol.
Se a reduo do desmatamento se consolida no Brasil, o pas estar em posio muito favorvel, por
seu soft power, para ser uma grande ponte entre paises desenvolvidos e emergentes na direo de um
grande acordo para mitigao da mudana climtica. O Brasil poderia aproveitar ento todas as suas
possibilidades de potncia ambiental, na feliz conceituao do embaixador Rubens Ricupero, que
desfruta de uma economia de baixo carbono e de reservas incomparveis de gua doce, biodiversidade
e terras agricultveis.
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
42
www.cindesbrasil.org
Bibliografia
ABRANCHES, Sergio. 2008. China quer lidar na Mudana Climtica Oeco, 17/11/2008
ALDY, JOSEPH. STAVINS, ROBERT. 2007 (eds). Architectures for Agreement. Addressing
Global Climate Change in a Post-Kyoto World. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
ANNAN, K. 2005 In Larger Freedom, Towards Security, Develolpment and Human Rights for All,
September, 2005. disponvel no site www.un.org.
ARTS, B. 1998 The Political Influence of Global NGOs: Case Studies on the Climate and
Biodiversity Conventions, International Books, Utrecht
BALES, Carter. DUKE, Richard. 2008. Containing Climate Change Foreign Affairs, Vol. 87,
No 5.
BARROS-PLATIAU, Ana Flvia, 2006 A Poltica Externa Ambiental: do Desenvolvimentismo
ao Desenvolvimento Sustentvel, In: ALTEMANI, H. de O.; LESSA, A. C. (orgs.), Relaes
Internacionais do Brasil, Temas e Agendas, So Paulo, Saraiva
BACKSTRAND, Karin. LVBRAND, Eva. 2006. Planting Trees to Mitigate Climate Change:
Contested Discourses of Ecological Modernization, Green Governmentality and Civic
Environmentalism, Global Environmental Politics 6 (1): 50-75.
BELL, Warren and DREXHAGE , John. 2005. Climate Change and the International Carbon
Market. Winnipeg, Canada: International Institute for Sustainable Development.
BERNSTEIN, Steven. 2005. Legitimacy in Global Environmental Governance. Journal of
International Law and International Relations 1 (1-2): 139-166.
BIERMANN, Frank. 2007.Earth System Governance as a Cross-cutting Theme of Global Change
Research. Global Environmental Change.
BIERMANN, Frank. 2005. Between USA and the South: strategic choices for European climate
policy, Climate Policy 5: 273-290.
BORZEL, Tanja and RISSE ,Thomas. 2005. Public Private Partnerships. Effective and Legitimate
Tools for Transnational Governance? InComplex Sovereignty. Reconstituting Political Authority in
the Twentyfirst Century, edited by Edar Grande and Louis Pauly. Toronto: University of Toronto
Press.
BULL, Benedicte, BS, Morten and MCNEILL, Desmond. 2004. Private Sector Influence in the
Multilateral System: A Changing Structure of World Governance? Global Governance 10(4): 481298.
BUZAN, Barry. WAEVER, Ole. DE WILDE , Jaap. Security. 1998 A New Framework for
Analysis. Boulder, Lynne Rienner, 1998.
CASTELLS, M. 1996: The Rise of the Network Society. Oxford, Blackwell Publishers.
CHRISTOFF, Peter. 2006. Post-Kyoto? Post-Bush? Towards an effective climate coalition of
willing, International Affairs 82(5): 831-60.
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
43
www.cindesbrasil.org
CHAMBERS, B; GREEN, J. 2005 Reforming Internatinal Environmental Governance, Tokyo,
New York, Paris: United Nations University Press
CHAYES, A; HANDLER CHAYES, A. 1995: The New Sovereignty: Compliance with
International Regulatory Agreements. Harvard University Press
CLARK, W. VAN EIJNDOVEN, C. and JAEGER, J. (eds.) 1998 Learning to Manage Global
Environmental Risks: A Comparative History of Social Responses to Climate Change, Ozone
Depletion, and Acid Rain.Cambridge, MIT Press
CLAUSSEN, E. & McNeilly, L. 1998: Equity & Global Climate Change: The Complex Elements of
Global Fairness. Washington, Pew Center on Global Climate Change.
FRIEDMAN, T. 2008. Hot, Flat and Crowded. Why we need a Green Revolution and how it can
renew America. New York, Farrar, Strauss and Giroux.
GORE, A. Un Inconvenient Truth New York, Norton, 2006.
GEHRING, T. 1994 Dynamic International Regimes: Institutions for International Environmental
Governance. Frankfurt am Main: Peter Lang
GRUBB, M. 1999: The Kyoto Protocol: A Guide and Assessment. London: Royal Institute of
International Affairs.
HAAS, P., KEOHANE, R. and LEVY, M. (eds.) 1993 Institutions for the Earth: Sources of
Effective Environmental Protection. Cambridge: MIT Press
HAAS, P. (ed.) 1997. Knowledge, Power, and International Policy Coordination. University of South
Carolina Press
HAAS, P. 2004. Addressing the Global Governance Deficit. Global Environmental Politics 4 (4): 115.
HARDIN, G. 1968: The Tragedy of the Commons In: Science, 162,
HELD, David, Anthony McGrew, David Goldblatt and Jonathan Perraton, 1999
Transformations. Politics, Economics and Culture. Stanford University Press
Global
HOLDREN, J. 2008 Global Climate Disruption Harvard University, Belfer Center.
INGLEHART, R. 1997: Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic, and Political
Change in 43 Societies. Princeton University Press.
IPCC 2007 , Fourth Assessment Report. Climate Change 2007: Climate Change Impacts, Adaptation
and Vulnerability. www.ipcc
KELLOWS, Aynsley. 2006. A New Process for Negotiating Multilateral Agreements? The AsiaPacific Climate Partnership Beyond Kyoto, Australian Journal of International Affairs 60 (2): 287303.
KEOHANE, R. 1983: The demand for International Regimes In: KRASNER, S (org)
International Regimes, Cornell University Press
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
44
www.cindesbrasil.org
KEOHANE, R. & NYE, J. 2001: Power and Interdependence. New York, Harper and Collins
KEOHANE, R. & K. Raustila. 2008. Towards a Post-Kyoto Climate Change Architecture: A
Political Anasysis Discussion Paper 2008-1 Harvard Project on International Climate Agreements.
KLARE, Michael. 2008. Rising Powers, Srinking Planet. The New Geopolitics of Energy. New
York, Metropolitan Books.
LAGO, A.C. do. 2004. Estocolmo, Rio e Janeiro, Joanesburgo: A Evoluo do Discurso Brasileiro
nas Conferncias Ambientais das Naes UnidasCAE/Instituto Rio Branco/MRE, Braslia
LEE, M. 2007. The Day After Tomorrow Scenario: What if Global Warming Causes Rapid Climate
Change? Sustainable Development Law and Policy, vol. 2 , issue 2, winter 2007
LEIS, Hector; VIOLA, Eduardo. 2008. America del Sur em el Mundo de las Democracias de
Mercado. Buenos Aires, Homo Sapiens/Cadal
LYNAS, Mark. 2008 Six Degrees. Our Future on a Hotter Planet. London, Harper Perennial.
MATTHEWS, Karina and PATERSON, Mathew. 2005. Boom or Bust? The Economic Engine
Behind the Drive for Climate Change Policy, Global Change, Peace & Security 17: 1-20.
McGEE, Jeffrey and TAPLIN, Ros. 2006 - The Asia-Pacific Partnership on Clean Development
and Climate. A Competitor or Complement to the Kyoto Protocol? Global Change, Peace and
Security, 18(3):173-192.
MINISTRIO DA CINCIA E TECNOLOGIA. 2004. Comunicao Nacional Inicial do Brasil
Conveno-Quadro das Naes Unidas sobre Mudana do Clima. Braslia. MCT.
MUELLER, B., 1999: Justice in Global Warming Negotiations. Oxford Institute for Energy Study
NAE 2005 , Ncleo de Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica. Mudanas do Clima.
Cadernos
NAE
03,
vol.1,
oct
2005.
Disponvel
em:
<
<http://www.nae.gov.br/03mudanasclimaticasimpactos/mudanasclimaticasimpactos.pdf
NOBRE, Carlos & Afonso Nobre. 2002. O Balano de carbono da Amaznia Brasileira Estudos
Avanados Vol 16, No 45
NORTH, R., 1990: War, Peace, Survival. Global Politics and Conceptual Synthesis. Boulder,
Westview Press.
NORHAUS, W. 1994: Managing the Global Commons: The Economics of Climate Change.
Cambridge, MIT Press.
OKEREKE, Chukwumerije; BULKELEY, Harriet. 2007. Conceptualizing Climate Change
Governance Beyond the International Regime. Tyndall Working Paper.
OLSON, M., 1971: The Logic of Collective Action. Harvard University Press, 1971
OTT, H. Sterk, W & Watanabe, R The Bali roadmap: new horizons for global climate policy IN:
Climate Policy # 8 Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy.
PHILIBERT, Cdric. 2005. The Role of Technological Development and Policies in a post-Kyoto
Climate Regime. Climate Policy 5:291-398.
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
45
www.cindesbrasil.org
RAYNER, S. and E. MALONE (eds.) 1998: Human Choice and Climate Change. Colombus,
Batelle Press.
SACHS, Jeffrey. 2008 Common Wealth. Economics for a crowded Planet. New York, Penguin.
SLAUGTHER, AnnMarie. 2004. Disaggregated Sovereignty. Towards Public Accountability of
Global Government Networks. Government and Opposition. Government and Opposition 29(2):159190.
SOCOLOW R. & PACALA S. "Stabilization Wedges: Solving the Climate Problem for the next 50
Years with Current Technologies" Science, August 13, 2004
SOCOLOW, R, HOTINSKI, R., GREENBLATT , J., PACALA, S.
"Solving the Climate Problem: Technologies for Curbing CO2 Emissions" Environment
2004
SOROOS, M. 1997: The Endangered Atmosphere. Preserving a Global Commons. Columbia,
University of South Carolina Press.
SPRINZ, D. & VAAHTORANTA, T. 1994: The Interest-Based Explanation of International
Environmental Policy, In: International Organization. 48(1)
TIMMONS ROBERTS, J. & PARKS, Bradley. 2007 A Climate of Injustice. Global Inequality,
North South Politics and Climate Policy. MIT Press.
DA VEIGA, Jos Eli, 2008, A Agenda de um Novo Bretton Woods em Valor Economico, 28-102008.
VIOLA, Eduardo. 1997: The Environmental Movement in Brazil: Institutionalization, Sustainable
Development and Crisis of Governance since 1987 in G. MacDonald, D. Nielson and M. Stern (eds)
Latin American Environmental Policy in International Perspective. Boulder, Westview Press.
___. 1998: Globalization, Environmentalism and New Transnational Social Forces In: C. Chung
and B. Gillespie (org.) Globalization and the Environment. Paris, OECD
___. 2002 O Regime Internacional de Mudana Climtica e o Brasil Revista Brasileira de Cincias
Sociais, No 50
___. 2004-1 A participao brasileira no Regime Internacional de Mudana Climtica, Braslia,
Cena Internacional, Vol 6, No 1.
___. 2004-2 Brazil in the Politics of Climate Change and Global Governance 1989-2003 , Centre
for Brazilian Studies, University of Oxford, working paper CBS 56/04, March 2004.
___. Paz e Segurana Climtica Cincia Hoje, Dezembro 2007.
VIOLA, Eduardo. LEIS, Hctor Ricardo. 2007 O Sistema Internacional com Hegemonia das
Democracias de Mercado. Desafios de Brasil e Argentina. Editora Insular/San Tiago Dantas
VIOLA, Eduardo. BARROS-PLATIAU, Ana Flavia. LEIS, Hctor Ricardo. 2007 Governana
e Segurana Climtica na Amrica do Sul em Simon Schwartzman e Igncio Walker (org.) Uma
Nova Agenda Econmica e Social para Amrica Latina, Instituto Fernando Henrique Cardoso (IFHC,
So Paulo) e Corporacion de Estdios para Amrica Latina (CIEPLAN, Santiago)
http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes;
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
46
www.cindesbrasil.org
WEISS BROWN, E.; JACOBSON, H. (eds.) 1998 Engaging Countries: Strengthening Compliance
with International Environmental Accords. Cambridge: MIT Press;
WORLD RESOURCES INSTITUTE; GOLDMAN SACHS. 2007. Scaling Up: Global
Technology Deployments to Stabilize Emissions Washington, WRI;
YOUNG, O. (ed.). 1997. Global Governance: Drawing Insights from the Environmental Experience.
Cambridge: MIT Press;
ZAKARIA, Fareed. 2008. The Post-American World. New York, Norton.
O Brasil na Arena Internacional da Mitigao da Mudana Climtica
47
Você também pode gostar
- As Mentiras de FátimaDocumento7 páginasAs Mentiras de Fátima237732100% (2)
- Amostra Atividade Adaptada História 8ºano Inove Na EscolaDocumento12 páginasAmostra Atividade Adaptada História 8ºano Inove Na Escolainovenaescola98% (42)
- Star Wars - Raças e AmbientaçãoDocumento8 páginasStar Wars - Raças e AmbientaçãoAlisson SilvaAinda não há avaliações
- Apostila Póp S IyaoDocumento16 páginasApostila Póp S IyaoFefê Camilo100% (3)
- AVALIAÇÕESDocumento61 páginasAVALIAÇÕESJoederlan SousaAinda não há avaliações
- HistóriaDocumento102 páginasHistóriaVinícius ZanonAinda não há avaliações
- Avaliação 3 Série Ensino MédioDocumento4 páginasAvaliação 3 Série Ensino Médiocgamp100% (1)
- Crescimento Demografico Na Cidade Da MatolaDocumento30 páginasCrescimento Demografico Na Cidade Da MatolaRui IzidineAinda não há avaliações
- 1°guerra Mundial: Rivalidades e Tensões InternacionaisDocumento48 páginas1°guerra Mundial: Rivalidades e Tensões InternacionaisEverton Ferreira100% (1)
- Ficha de Inscriã - Ã - o para Militar Nova 2Documento1 páginaFicha de Inscriã - Ã - o para Militar Nova 2Renatocfn30Ainda não há avaliações
- A Doutrina de Segurança Nacional e Os Governos MilitaresDocumento10 páginasA Doutrina de Segurança Nacional e Os Governos MilitaresFábio Leonardo BritoAinda não há avaliações
- Dinâmica de Grupo Aplicada Na Seleção de Pessoal 1Documento3 páginasDinâmica de Grupo Aplicada Na Seleção de Pessoal 1edinho_rsouzaAinda não há avaliações
- Material Complemento Roma GarraDocumento32 páginasMaterial Complemento Roma GarraAndré Luiz Dos SantosAinda não há avaliações
- A Evolução Dos Carros de Combate Na Cavalaria Do Exército BrasileiroDocumento41 páginasA Evolução Dos Carros de Combate Na Cavalaria Do Exército BrasileiroJosé Paulo ToledoAinda não há avaliações
- Fate Accelerated Electronic Edition PT BR v1.0Documento50 páginasFate Accelerated Electronic Edition PT BR v1.0spylipeAinda não há avaliações
- Prova 2014Documento30 páginasProva 2014Sophia Kronka SosthenesAinda não há avaliações
- História e Geografia Da BahiaDocumento34 páginasHistória e Geografia Da BahiaDaniel OliveiraAinda não há avaliações
- A Escola Dos AnnalesDocumento19 páginasA Escola Dos AnnalesAntonio MatosAinda não há avaliações
- Martin Wight A Politica Do PoderDocumento6 páginasMartin Wight A Politica Do PoderDaniela SoaresAinda não há avaliações
- EXCLUSIVO - Autópsia JFK Nova Análise Forense Revela Décadas de Provas FalsasDocumento5 páginasEXCLUSIVO - Autópsia JFK Nova Análise Forense Revela Décadas de Provas FalsasWladimir Bibiano Dos SantosAinda não há avaliações
- A Bíblia Anotada - EfésiosDocumento33 páginasA Bíblia Anotada - EfésiosJosemarGomesAinda não há avaliações
- Projeto de Pesquisa UnirioDocumento26 páginasProjeto de Pesquisa UnirioEstêvão FreixoAinda não há avaliações
- TRANÇANDO OS FIOS - Tese Música Gospel - Helen Luce CamposDocumento134 páginasTRANÇANDO OS FIOS - Tese Música Gospel - Helen Luce CamposguilhermecoupeAinda não há avaliações
- Entrevista A Um Ex Combatente Da Guerra Colonial Beatriz 6ºFDocumento6 páginasEntrevista A Um Ex Combatente Da Guerra Colonial Beatriz 6ºFCarlos CruchinhoAinda não há avaliações
- Crónica de D. João I - Contextualização HistóricaDocumento25 páginasCrónica de D. João I - Contextualização Históricamjoao387113Ainda não há avaliações
- A Busca de Sri Krsna A Realidade O BeloDocumento82 páginasA Busca de Sri Krsna A Realidade O BeloYan DagoAinda não há avaliações
- A Militancia de Thomas Thomas MuntzerDocumento16 páginasA Militancia de Thomas Thomas MuntzerCabral WallaceAinda não há avaliações
- Modapalavra E-Periódico 1982-615XDocumento16 páginasModapalavra E-Periódico 1982-615XSara FerrãoAinda não há avaliações
- Guerra Fria 9ºanoDocumento25 páginasGuerra Fria 9ºanoGeorge WashAinda não há avaliações
- DENIS, B. Literatura e EngajamentoDocumento10 páginasDENIS, B. Literatura e EngajamentoDezwith BarrosAinda não há avaliações