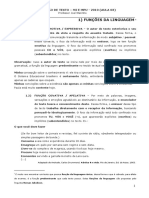Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Artigo Ciencia Roda Viva
Artigo Ciencia Roda Viva
Enviado por
Li BotinDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Artigo Ciencia Roda Viva
Artigo Ciencia Roda Viva
Enviado por
Li BotinDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Abordagens metodolgicas em estudos discursivos. So Paulo: Paulistana, 2010.
Polmica aberta e polmica velada: Refraes discursivas em anlise diacrnica do Roda Viva
Simone Ribeiro de vila Veloso91
Resumo: Criado em plena efervescncia poltica delineada pelo processo de redemocratizao no pas, o programa Roda Viva da TV Cultura, porta como trao constitutivo um processo de interao verbal caracterizado pela presena de interlocutores de diversas esferas institudas. O objetivo primordial deste artigo explicitar aspectos terico-metodolgicos de nossa pesquisa cuja anlise diacrnica contm em seu escopo edies veiculadas nas trs ltimas dcadas com entrevistados cientistas. A pergunta que impulsiona nosso estudo : quais discursos so refletidos e refratados em tal contexto? Com vistas a uma anlise do programa realizado dia 14 de dezembro de 1987 com o cientista poltico Herbert de Souza, mobilizamos duas categorias discursivas: a polmica aberta em relao aos discursos oficiais e a polmica velada instaurada na contraposio entre resultados de pesquisas socioeconmicas. Palavras-chave: polmica; jornalismo; divulgao cientfica; Crculo de Bakhtin; dialogismo
1. Introduo
No com a palavra dicionarizada que nos deparamos cotidianamente nos mais diversos atos de comunicao, mas com asseres acerca de acontecimentos relacionados a uma sociedade, dvidas que envolvem interlocutores, cujos papis sociais configuram-se no processo scio-histrico-cultural constitutivo de suas respectivas comunidades discursivas. Compreenderemos a palavra como enunciado, ou seja, produto da interao de indivduos socialmente organizados (Bakhtin;Volchinov, 2004[1929], p.112). Tal perspectiva requer uma abordagem investigativa que considere elementos do horizonte social92 amplo como inerentes aos usos sociais da linguagem. esse horizonte que determina os contornos do discurso, uma vez que a hierarquia social estabelecida entre locutor e destinatrio encontra-se intimamente vinculada ao contexto scio-histrico de cada poca e sociedade. Dessa forma, compor uma anlise diacrnica do programa Roda Viva com entrevistados cientistas exige mais do que um olhar cuidadoso, restrito superfcie lingustica. Ciente de que o referido contexto no se constitui cenrio dos enunciados, contudo, elemento inerente construo de sentido, o presente artigo se prope a expor as etapas terico-metodolgicas que fundamentam as anlises diacrnicas de edies do mais antigo programa de entrevistas da TV brasileira. Para tanto, encontra-se dividido em trs partes: na primeira, sero destacados os critrios metodolgicos
91
Doutoranda do Programa de Ps-Graduao de Filologia e Lngua Portuguesa (FFLCH-USP), sob a orientao da Prof Dr Sheila Vieira de Camargo Grillo. E-mail: simoneveloso@usp.br. Sob uma perspectiva sociolgica, Bakhtin/Volchinov (2004[1929]) compreende a noo de horizonte social como determinante da criao ideolgica do grupo social e da poca a que pertencemos.
92
192
Abordagens metodolgicas em estudos discursivos. So Paulo: Paulistana, 2010.
adotados sob a perspectiva bakhtiniana; na segunda, ressaltaremos o contexto social amplo dos anos 80, de modo especial, o papel da TV Cultura como emissora pblica no processo de redemocratizao do Brasil, considerando os primeiros anos de surgimento do programa Roda Viva e, por ltimo, efetivaremos uma breve anlise tendo em vista as categorias discursivas apresentadas.
2. Aspectos terico-metodolgicos
Munidos de nossa pergunta de pesquisa quais discursos so refletidos e refratados no programa Roda Viva nas dcadas de 80, 90 e 2000, nas edies realizadas com entrevistados cientistas?, o primeiro desafio apresentado foi selecionar um corpus que viabilizasse anlises a partir de critrios cientficos. Investigamos, inicialmente, por meio do portal www.rodaviva.fapesp.br todas as edies que situassem ao centro da arena pesquisadores, cientistas de todas as reas e domnios cientficos. Chegamos a um total de 160, considerando o perodo compreendido entre setembro de 1986 (data em que o programa foi ao ar pela primeira vez) e abril de 2009. O segundo passo caracterizava-se por delinear um corpus representativo que contemplasse as subesferas cientficas mais recorrentes. A tabela abaixo nos oferece um resultado dessa fase inicial de nossa pesquisa: Tabela 1 Presena progressiva dos domnios cientficos no decorrer das trs dcadas: CEN Domnios Dcadas 1986-1989 1990-1999 2000-2009 Total 1 5 17 23 2 2 3 11 12 26 1 1 1 27 42 70 2 13 23 38 CET CMS CA CS H
Legenda: CEN:Cincias exatas e naturais CET: Cincias da engenharia e tecnologias CMS: Cincias mdicas e da sade CA:Cincias agrrias CS:Cincias sociais H: Humanidades Por esse levantamento inicial o que se evidencia a crescente presena da divulgao da cincia na programao do Roda Viva, no decorrer das dcadas. Crescimento que no se realiza de modo equitativo no referido perodo. Em outras palavras, enquanto na dcada de 80, houve reduzida representatividade de vozes de entrevistados cientistas, a dcada seguinte sinalizaria o tom assumido pelo programa: a
193
Abordagens metodolgicas em estudos discursivos. So Paulo: Paulistana, 2010.
recorrncia de especialistas oriundos da rea das Cincias Sociais explicita uma intencionalidade93 adotada pelo programa em se posicionar como um centro de debates em torno de questes de carter social, em especial economia, sociologia e cincias polticas. Na dcada de 2000, CMS que, havia mais do que triplicado o nmero de ocorrncias na dcada de 90, manteve-se estvel em termos quantitativos, ao passo que temas de teor cientfico advindos da subesfera das CEN ganham expressividade nesse ltimo decnio. Finalizamos a constituio de nosso corpus de pesquisa com seis programas, dois de cada dcada e representativos dos domnios cientficos mais recorrentes proporcionalmente aos nmeros apresentados: TABELA 2 reas cientficas tecnolgicas Cincias exatas e naturais
e Entrevistas selecionadas
Apresentador
1)11/02/2008 Amit Goswami Herdoto Barbeiro ( fsico) 2)06/03/2006 Miguel Srougi (cancerologista) Paulo Markun 3)14/12/1987 Herbert de Souza Antnio Carlos Ferreira ( socilogo) 4)17/04/1993 Mangabeira Hunger poltico) Roberto Jorge Escosteguy (cientista
Cincias mdicas e da sade Cincias sociais
Humanidades
5)10/12/1990 Antnio Houaiss Rodolfo Konder (filologo) Matinas Suzuki 6)12/02/1996 Jos Arthur Giannotti (filsofo) 06 entrevistas
Total
2.1 Categorias discursivas
Consideraremos cada programa em sua dimenso verbo-visual, como um enunciado concreto. Volchinov (1981[1926]) destaca trs aspectos a serem focalizados na anlise do discurso: 1) o horizonte espacial comum aos locutores; 2) o conhecimento e a compreenso da situao igualmente comum aos locutores e 3) avaliao comum feita pelos mesmos94. No se trata apenas de focalizar o horizonte espacial
93
Bakhtin (2006a, p.308) ressalta que dois elementos determinam o texto como enunciado: a ideia (inteno) e a realizao dessa inteno.
Por essa perspectiva, o enunciado compreendido como formado por duas partes: uma verbalizada e outra subentendida. Essa ltima encarregada de portar o metalingustico como elemento constitutivo do lingustico. Devemos ressaltar que o termo metalingustico no deve ser entendido na acepo de Jakobson(2008), mas como relacionado ao extra-verbal.
94
194
Abordagens metodolgicas em estudos discursivos. So Paulo: Paulistana, 2010.
imediato em rplicas de um dilogo cotidiano. Seria possvel considerar tambm horizontes mais amplos em que o subentendido seja analisado em diversos nveis: da famlia, da nao, da classe social, pocas contemporneas ou passadas, etc. A entonao se configura na expresso mais pura desse terceiro aspecto constitutivo do contexto extra-vebal e se apresenta, de acordo com Volchinov (1981[1926]) orientada conforme duas direes: uma em relao ao ouvinte (cuja presena poder ser fsica ou virtual), como aliado ou testemunha e outra em relao ao objeto do enunciado, como terceiro participante vivo. Toda palavra realmente pronunciada seria a expresso e o produto da interao social de trs participantes: locutor, ouvinte e objeto/heri (sobre o que se fala). Consideramos em nossa pesquisa duas formas de refrao do discurso: polmica aberta, quando o objeto de refutao a prpria fala do outro e a polmica velada, caracterizada pelo embate de vozes que ocorre por meio do objeto referencial (Bakhtin, 1997[1963]). A partir dessa tipologia discursiva, destacamos duas categorias discursivas de anlise:
Tabela 3
Tipologia discursiva Polmica aberta Polmica velada Categorias discursivas de anlise 1) Objeto de refutao: discursos oficiais sobre sade pblica. 2)Referencial polmico: contraposio de resultados de pesquisas scioeconmicas
Para anlise da polmica aberta identificamos trs categorias lingusticas: a adjetivao/nomeao, o discurso citado indireto e o uso de conectivos de valor concessivo ou adversativo, bem como uma categoria extra-verbal: entonao (destacada com as falas em letras maisculas). No que tange polmica velada consideraremos, como elemento lingustico, o que denominamos parfrase explicativa, momento em que h imbricao entre saberes oriundos da esfera cientfica e aqueles que circulam na ideologia do cotidiano. Consideraremos, neste momento, o horizonte social amplo do programa veiculado dia 14 de dezembro de 1987, realizado com o cientista poltico Herbert de Souza.
195
Abordagens metodolgicas em estudos discursivos. So Paulo: Paulistana, 2010.
3. A TV Cultura no incipiente processo de redemocratizao do Brasil: o nascimento do programa Roda Viva
Construdo no frgil terreno de uma economia capitalista dependente, o regime militar no Brasil assistia, em 1985, ao esfacelamento de suas aes repressivas diante de um pas cuja imensa maioria de cidados pouco tinha a comemorar no que tange conquista de direitos civis. A TV Cultura, a despeito de se constituir em uma emissora administrada por uma entidade de direito privado, denominada Fundao Padre Anchieta (FPA), sempre recebeu subvenes governamentais e, dessa forma, mostrou-se suscetvel s variaes ideolgicas empreendidas pelas autoridades institudas. Analisando a programao da TV-2 (doravante TV Cultura), Leal Filho (1988) constata a existncia de quatro propostas bsicas, intimamente articuladas especialmente no bojo de lutas ideolgicas internas entre membros tutelares permeveis s diretrizes do poder pblico e membros resistentes a esse poder. A primeira proposta, denominada elitista, articula-se substancialmente ao contexto de formao da emissora, diretamente vinculada s aspiraes polticas do chefe do executivo estadual, o ento governador Roberto de Abreu Sodr, que, no auge da efervescncia repressiva (vale lembrar que a FPA foi criada em 1967) ofertava o seu quinho ao projeto militar de integrao nacional por meio da criao de cursos de Madureza, cujos objetivos compreendiam, dentre outros, na expanso da educao bsica com vistas formao de mo-de-obra mais qualificada capaz de viabilizar o projeto militar de expanso industrial. Concomitante atuao da mquina repressora, cuja censura definia quais fatos jornalsticos deveriam ser transmitidos, havia a semente de uma fora de resistncia: diante da impossibilidade de competir com a audincia de emissoras do calibre da Globo, Leal Filho (1988) identifica um jornalismo inovador, com o objetivo de interpretar os fatos, o que se configura em uma empreitada corajosa para a poca. Esse seria um exemplo da proposta popular, concretizada em programas como Hora da Notcia e, no incio da dcada de 80, com o programa Vox Populi, precursor do Roda Viva. Leal Filho (1988) denomina populista a terceira proposta que busca nas TVs comerciais a fonte inspiradora para uma programao de auditrio e novelstica. Presena marcante no governo de Paulo Maluf (entre os anos de 1979 e 1982) concebida com vistas a ofuscar o autoritarismo embutido na proposta elitista. Identificado com os tecnocratas que a ditadura produziu nos anos 60 e 70, Maluf via a TV2 como instrumento propagandstico (Lima, 2008) que poderia lhe conceder os frutos de uma vitria em uma eventual candidatura presidncia da repblica. A quarta proposta denominada conciliatria caracterizar-se-ia pela articulao entre a elitista e a populista, cronologicamente compreendida entre 1976 e 1979.
196
Abordagens metodolgicas em estudos discursivos. So Paulo: Paulistana, 2010.
3.1 O nascimento do programa Roda Viva
O corpus analisado por Leal Filho (1988) considera a programao da TV-2 at julho de 1986. Podemos afirmar que o surgimento do Roda Viva em 29 de setembro desse mesmo ano se constitui no afloramento mais consistente da proposta denominada pelo autor de popular que congregava em si foras ideolgicas de resistncia ao elitismo autoritrio. Ao acolher vozes de referncia oriundas das mais diversas esferas de atividade humana, o novo programa de entrevistas se constitua em um gnero discursivo que suscitava o embricamento de posicionamentos axiolgicos nem sempre pautado pela consonncia ideolgica, delineando-se sob a gide da Nova Repblica. Compreendido como tipos relativamente estveis de enunciados (Bakhtin, 2006 [1952-53]) os gneros dialogam com outros gneros, uma vez que os enunciados se constituem em um elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados. Dessa forma, o Roda Viva nasce da ideia de outro projeto chamado Vox Populi. Tratava-se de um programa de entrevistas em que os entrevistados, personalidades do mundo cultural, poltico, respondiam a perguntas elaboradas pelo povo nas ruas. O novo programa de entrevistas transmitido pela primeira vez em 1986 era compreendido (e continua sendo) por uma organizao espacial especfica: cerca de oito entrevistadores apareciam dispostos em uma bancada em formato de circunferncia, juntamente com a presena de um mediador. O entrevistado colocava-se no centro da mesma, em uma cadeira giratria. Todos eminentes representantes de suas respectivas esferas de atuao. A despeito da multiplicidade de temas abordados nas edies produzidas, nossa pesquisa considera apenas aqueles provenientes do campo da divulgao cientfica, em clara imbricao entre as esferas cientfica e jornalstica. Tal recorte se justifica na medida em que objetivamos investigar as relaes dialgicas evidenciadas por meio da polmica discursiva entabulada entre o discurso cientfico e outros discursos. O nosso desafio descobrir quais discursos so polemizados aberta e/ou veladamente.
4. Anlise do contexto imediato: aplicao das categorias discursivas
Consideremos, inicialmente, o horizonte espacial comum aos locutores configurado guisa de arena: a escolha do entrevistado para compor o programa pressupe a presena de saberes partilhados, o que determina quem sero os interlocutores imediatos. Volchinov (1981[1930]) estabelece uma estreita relao entre as formas da linguagem e a organizao socioeconmica da sociedade. A linguagem, sob tal perspectiva, reflete a luta de classes e, portanto, o embate entre discursos ideologicamente construdos no processo evolutivo da sociedade. Dessa forma, consideremos os papis sociais dos interlocutores presentes no programa divulgado dia 14 de dezembro de 1987. Antonio Carlos Ferreira, mediador, jornalista da TV-2
197
Abordagens metodolgicas em estudos discursivos. So Paulo: Paulistana, 2010.
Demcrito Moura, reprter do Jornal da Tarde. Umberto Pereira, editor do Globo Rural. Maria Vitria Benevides, sociloga, professora da USP. Ins Knaut, reprter da Folha de S. Paulo. Ricardo Kotcho, reprter do Jornal do Brasil. Vitalina Dias da Silva, pres. do Centro dos Hemoflicos de So Paulo. Maria Carneiro da Cunha, escritora e jornalista. Caio Rosenthal, mdico infectologista do Hospital Emlio Ribas. Herbert de Souza, cientista poltico95.
Contatamos que a seleo dos entrevistadores passa pelo imbricamento de quatro esferas: 1) a jornalstica, representada por uma subesfera de referncia, marcada pela presena de instituies como Jornal da Tarde, Globo Rural, Folha de S. Paulo e Jornal do Brasil; 2) a acadmica, sob o olhar crtico de uma sociloga, professora da Universidade de So Paulo; 3) estatal, que mobiliza a viso de um importante centro de referncia no combate a doenas infecciosas, mais precisamente, o Hospital Emlio Ribas e 4) esfera superior da ideologia do cotidiano96, evidenciada pela atuao da representante do Centro dos Hemoflicos de So Paulo. Se considerarmos o horizonte social amplo, isto , o contexto scio-polticoeconmico constitutivo desta edio, verificamos que a escolha de tais interlocutores no se configura de modo aleatrio: alm do aprofundamento das desigualdades sociais, o regime militar provocou uma deteriorao dos servios pblicos de sade. Sem demonstrar maiores preocupaes para com esse segmento social no que tange oferta de infraestrutura hospitalar pblica, o governo Sarney se viu diante da avassaladora AIDS. Bakhtin (2010[1965]) defende a abordagem de um corpus de pesquisa, levando em considerao a base ideolgica que subjaz cultura de cada poca histrica. Em outras palavras, enunciados que aos olhos contemporneos podem ser compreendidos como estranhos, caticos, uma vez que distantes no tempo e no espao, portam sentidos delineados segundo experincias humanas desenhadas a partir de bases situadas historicamente, o que suscita diferentes posicionamentos axiolgicos. Dessa forma, acreditamos que a contraposio velada aos discursos das autoridades constitudas j se instaura na
95
A trajetria de Herbert de Souza seria marcada pela militncia poltica. Durante o curso secundrio ingressou na Juventude Estudantil (JEC) e depois, durante o perodo universitrio, fez parte da Juventude Catlica (JUC). Na Faculdade de Cincias Econmicas da Universidade Federal de Minas Gerais fez parte do ncleo que fundou a Ao Popular (AP). Em 1962, formou-se em sociologia e engajou-se na luta pelas chamadas Reformas de Base propostas pelo governo de Joo Goulart. Bakhtin/ Volchinov(2004[1929],p. 118) denomina ideologia do cotidiano a atividade mental centrada na vida cotidiana, distinguindo-a dos sistemas ideolgicos institudos. Tal ideologia considerada em nveis determinados pelo contato que mantm com tais sistemas, quanto mais prximos, mais organizados e sensveis s ideologias constitudas. O distanciamento dessas lhe configuraria um carter desordenado.
96
198
Abordagens metodolgicas em estudos discursivos. So Paulo: Paulistana, 2010.
prpria seleo dos interlocutores que compem o programa, a comear pelo prprio entrevistado: cientista poltico atuante junto a segmentos sociais marginalizados durante o regime militar, Herbert de Souza, alm de estudioso do contexto social e poltico do Brasil, portanto conhecedor dos meandros do horizonte social da poca, encontra-se infectado pelo vrus HIV. Ora, dar voz a Betinho, j sinaliza a tomada de um posicionamento no mnimo polmico em relao ao contexto construdo pelas elites emergentes ps-golpe de 64. Mais do que um recurso organizacional do espao, a disposio dos entrevistadores viabiliza, por parte de cada membro da bancada uma viso completa de todos os participantes, em um mesmo plano esfrico, ou seja, nem mesmo o mediador se destaca, do ponto de vista espacial, do conjunto previamente selecionado:
Imagem 1: panormica do estdio aos 2 04 As anlises subsequentes consideram a edio (programa realizado dia 14 de dezembro de 1987) na condio de enunciado concreto, ou seja, como unidade de comunicao discursiva cuja conclusibilidade97 aparece demarcada por elementos pertinentes construo composicional: durabilidade da entrevista 11650; papis sociais desempenhados pelos participantes no prprio gnero mediador, entrevistadores e entrevistador, o que define tacitamente o tempo que cabe a cada um falar (o entrevistado detm maior
Conclusibilidade entendida como espcie de aspecto interno da alternncia dos sujeitos do discurso que ocorre, pois o falante disse ou escreveu tudo o que precisava dizer em determinado momento, de acordo com a situao constitutiva de determinado gnero (Bakhtin, 2006 [1952 -53]).
97
199
Abordagens metodolgicas em estudos discursivos. So Paulo: Paulistana, 2010.
tempo de exposio de fala), bem como modo de expresso, evitando a interrupo brusca da fala do convidado situado ao centro da bancada. preciso observar, primeiramente, que h, nessa edio, dois referenciais do ponto de vista do contexto, constitutivos do horizonte social, que perpassam os temas abordados pelos interlocutores: em primeiro lugar, a eminente epidemia de Aids no pas que expandia seu poder de destruio para alm das fronteiras dos bolses de pobreza e enveredava pelas camadas sociais privilegiadas e, em segundo lugar, a elaborao de uma constituinte com vistas produo de uma nova constituio (a atual, datada de 1988). Do ponto de vista composicional, o enunciado em questo formado por duas partes: uma primeira que denominamos introdutria executada nos primeiros minutos do programa pelo mediador e uma segunda delineada pelo jogo de perguntas e respostas. Eis, inicialmente, a primeira:
Boa noite... ns estamos comeando o programa Roda Viva que transmitido simultaneamente pela rdio Cultura AM e retransmitido pelas TVs educativas de Minas Gerais... Mato Grosso do Sul... Bahia... Piau e Esprito Santo... excepcionalmente hoje o programa ser coordenado por mim... o titular de Roda Viva... o jornalista Augusto Nunes est viajando e volta na prxima semana... o entrevistado desta noite o cientista poltico Herbert de Souza.. presidente da Associao Brasileira Interdisciplinar da Aids... para entrevistar Herbert de Souza ns convidamos Demcrito Moura reprter da editoria de sade do Jornal da Tarde... Umberto Pereira... editor-chefe do programa Globo Rural e diretor editorial da revista Globo Rural... Maria Vitria Benevides... sociloga, escritora, professora da Universidade de So Paulo e membro da Comisso Justia e Paz de So Paulo... Ins Knaut... reprter da Folha de So Paulo... Ricardo Kotcho... escritor e reprter da sucursal So Paulo do Jornal do Brasil... Vitalina Dias da Silva... presidente do Centro dos Hemoflicos de So Paulo... Maria Carneiro da Cunha... escritora e jornalista... Caio Rosenthal... mdico especializado em doenas infecciosas...o doutor Rosenthal atua no Hospital Emlio Ribas e no Hospital do Servidor Pblico de So Paulo... ns vamos contar tambm com a presena do cartunista Negreiros... que vai fazer alguns desenhos que sero mostrados ao longo do programa... a nossa plateia composta por membros do GAPA... Grupo de Apoio e Preveno da Aids e Membros do Centro de Hemoflicos de So Paulo... alm de outros convidados da produo... lembro que os telespectadores podero fazer perguntas ao entrevistado pelo telefone dois cinco dois meia cinco dois cinco atravs da Lcia... da Mada e da Geane...((tem incio, neste momento, a apresentao de dados biogrficos do entrevistado)) Mineiro... cinquenta e dois anos... Herbert de Souza... o Betinho... um homem de muitas lutas... suas primeiras batalhas foram polticas... militante da organizao de esquerda Ao Popular... durante o regime militar foi obrigado a se exilar... ((entrevistado sempre com a cabea baixa)) hoje membro da Comisso Nacional pela reforma agrria e Secretrio Executivo do Ibase Instituto Brasileiro 98 de Anlises Sociais e Econmicas ... no abandonou a poltica... portanto... mas obrigado a abrir uma nova frente de luta... contra a Aids... Hemoflico... uma doena gentica que dificulta a coagulao do sangue... Herbert de Souza portador do vrus da Aids... que pegou ao receber fatores coagulantes fabricados com sangue de doadores contaminados pela Aids... a doena no se manifestou nele... em pior situao esto seus dois irmos... tambm hemoflicos e com a doena j manifestada... o msico Chico de Souza... e o conhecido humorista e escritor Henfil... Betinho... eu sei que as estatsticas da
98
Betinho criou o Ibase em 1981. O principal objetivo dessa entidade era democratizar as informaes sobre a realidade socioeconmica no Brasil.
200
Abordagens metodolgicas em estudos discursivos. So Paulo: Paulistana, 2010.
contaminao de hemoflicos pela Aids so terrveis... voc poderia... poderia nos dar um 99 balano desse quadro? ( fragmento 1)
Tal introduo revela, inicialmente, a intencionalidade do enunciador (produtores do programa) representado pelo mediador: fornecer ao telespectador e participantes informaes institucionais acerca da elaborao do programa: transmisso, retransmisso para alguns estados brasileiros, identificao da titularidade do papel do mediador. Tais dados sinalizam o potencial de divulgao do programa, inaugurado h pouco mais de um ano na poca. Na sequncia, h a identificao do papel social do entrevistado, bem como dos entrevistadores e cartunista Negreiros. O mesmo apresentador ainda orienta os telespectadores quanto forma de participao. Em outras palavras, constatamos que a responsividade100 daquele que assiste ao programa, por meio de perguntas e comentrios, tambm se evidencia constitutiva do gnero em questo. Ainda dentro da parte introdutria, identificamos a insero de fatos relacionados biografia do entrevistado, que no identificado primeiramente por sua condio de cientista social, mas como militante da organizao de esquerda Ao Popular e membro da Comisso Nacional pela Reforma Agrria, bem como secretrio-executivo do Ibase. As demais informaes relacionam-se luta de Betinho contra a Aids contrada por meio de transfuso de sangue. Tais informaes sinalizam a tnica da polmica discursiva instaurada no programa, uma vez que essa luta constantemente associada ao embate entre os discursos oficiais que promoviam a ideia de melhora nos indicadores sociais (relacionados sade e emprego, por exemplo) e o discurso do cientista social que, por meio de experincias pessoais e de pesquisas, se contrape aos mesmos. Vale considerar, portanto, que quando o mediador ressalta tais papeis sociais do entrevistado, o mesmo j dimensiona o teor temtico do programa, de modo que, apesar de ser ao vivo, permitindo a participao de telespectadores, a escolha dos interlocutores (entrevistadores e plateia formada por membros do GAPA e Centro dos Hemoflicos de So Paulo) no se efetiva de maneira aleatria. Trata-se de uma temtica que se encontra no mbito da esfera da ideologia do cotidiano: sade pblica no Brasil, em especial as formas de contgio da AIDS. Bakhtin/Volchinov (2004[1929], p. 118) considera esse o domnio da palavra no fixada num sistema institudo e que acompanha os atos e gestos de cada um de nossos estados de conscincia. Ora, o programa absorve essa temtica, transportando-a para a esfera jornalstica, mais precisamente como elemento constitutivo do enunciado que possibilita a interposio de vozes de outras esferas: medicina, sociologia, nveis superiores da ideologia do cotidiano, representados pelo Centro dos Hemoflicos de So Paulo.
99 100
O sinal de reticncias (...) representa qualquer pausa dos interlocutores.
Fazemos uma referncia aqui ao que Bakhtin (2006 [1952-53], p.271) denomina de ativa compreenso responsiva, isto , o ouvinte, ao perceber o significado (lingustico) do discurso, concorda, discorda dele, completa-o, etc, demonstrando, dessa forma, alinhar-se ideologicamente com determinados discursos. Nossa pesquisa tambm toma como objeto de estudo as rplicas dialgicas dos telespectadores. Limitar-nos-emos, entretanto, ao estudo das polmicas aberta e velada.
201
Abordagens metodolgicas em estudos discursivos. So Paulo: Paulistana, 2010.
4.1 A polmica aberta contra os discursos oficiais sobre sade pblica
Consideraremos, nesse momento, a tomada dos discursos oficiais sobre sade pblica como objeto de refutao da polmica aberta instaurada. Destacamos que diferentemente da fala do mediador, cujo tom expressivo da voz, na parte introdutria do programa, configura-se de modo equilibrado, gerando um efeito de racionalidade na exposio das informaes, as falas dos interlocutores, nos pares de perguntas e respostas, apresentam entonaes101 expressivas que sero registradas com letras maisculas. Na sequncia, encontra-se a resposta do entrevistado pergunta do mediador ainda realizada na parte introdutria do programa. Pergunta essa que compreendemos como elemento de articulao entre ambas as partes: Betinho... eu sei que as estatsticas da contaminao de hemoflicos pela AIDS so terrveis... voc poderia... poderia nos dar um balano desse quadro?
Herbert de Souza: Eu posso lhe falar mais especificamente do quadro do Rio de Janeiro... temo que o quadro no seja TO diferente no resto do Brasil...no Rio de Janeiro... existem mil cento e cinquenta hemoflicos cadastrados... destes... seTENta por cento esto contaminados pela Aids... Antnio Carlos Ferreira (mediador): E como foi que aconteceu esse deSAStre? Herbert de Souza: Esse desastre tem muitas origens e muitas causas... a primeira causa a ausncia quase absoluta... quase poderamos dizer absoluta do controle da qualidade de sangue na histria nossa do Brasil... o sangue que uma coisa to vital... to importante... comercializado... ele tratado como mercadoria de uma forma absolutamente criminosa... e hoje a Aids veio s dramatizar isso porque na verdade atravs do sangue voc pode ser contaminado por vrias coisas GRAves... s vezes at to graves quanto a Aids... quanto a hepatite B... a doena de Chagas... no ... e Vrias outras doenas...mas a Aids veio tornar a coisa absolutamente draMtica... no ... 102 porque o sangue... atravs do sangue que:: a:: a:: Aids se transmite... basicamente atravs do smen contaminado... que tambm tem que entrar na corrente sangunea e do sangue contaminado e dos fatores derivados do sangue... bom... :: apesar do discurso oficial de falar que existe controle do sangue no Brasil... no menos que setenta por cento dos bancos de sangue no Brasil no fazem controle... teste para essas enfermidades... alm do mais... mesmo algumas que fazem... esto fazendo e a gente tem notcia disso... atravs de um sistema de PULL ... isto ...pega dez transfuses e testa e faz um teste das dez... no ... ou em dez testa uma ((sinaliza com as mos a singularidade do teste)) quer dizer... que uma coisa absolutamente tambm sem rigor no ... sem preciso... resultado...no Rio de Janeiro... seTENta por cento dos hemoflicos esto contaminados... mais de quarenta j morreram... s no ltimo ms morreram eh:: TRS hemoflicos em situaes dramticas de asfixia... por asfixia SEM assistncia hospitalar porque lhes foi negado assistncia hospitalar por um hospital dirigido por uma freira... 103 da ordem de de So Vicente... irms.../ o ordem chama Filhas da Caridade de So Vicente de Paulo dos trs um menino de DEZ anos... um jovem de dezesseis anos e um adulto com trinta e cinco anos morreram com insuficincia respiratria aguda...
Para Volchinov (1981[1930]) a entonao a expresso fnica da avaliao social. Cada entonao exige a palavra que lhe corresponde, que convm. O que determina a entonao a orientao social do enunciado.
102 103
101
O sinal de :: representa o prolongamento de vogal ou consoante como r e s. O sinal de / sinaliza um truncamento no ato de fala.
202
Abordagens metodolgicas em estudos discursivos. So Paulo: Paulistana, 2010.
Ricardo Kotcho: Betinho... o que voc nos contou at agora um caso tpico de crime de omisso... crime de responsabilidade... eu queria que voc dissesse... sempre que tem um crime tem um autor... um responsvel...quem so os criminosos nesta histria? Herbert de Souza: Olha... ((ri )) vai ser uma longa... e tenebrosa busca... no caso especfico desses trs casos ns entramos na../com um.../ na dcima oitava delegacia com pedido de inqurito policial por omisso de socorro e ns estamos acusando o hospital So Vicente de Paulo por omisso de socorro tendo como consequncia a morte... Ricardo Kotcho: Isso j no final da linha... e no comeo da linha? Herbert de Souza: No comeo da linha eu acho que:: no caso do SANgue... existe TOda uma questo relacionada sade pblica neste pas...no ?... a minha... a minha viso a seguinte... nos ltimos vinte e tantos anos... ao longo de nossa histria mas particularmente nos vinte e tantos anos houve um processo de deterioro quase que TOTAL do sistema de sade pblica... os hospitais pblicos que no passado eram smbolo de excelncia... hoje se transformaram em smbolo de decadncia... com honROsas excees... por exemplo... eu... quando era criana eu era tratado no Servidor... no Hospital do Servidor Pblico do Rio... e l nos tinham os melhores hematlogos... melhor sangue... melhor tratamento... MESMO quando nos internvamos com dez quinze pacientes... mas o tratamento mdico era o melhor... eu quando estava clandestino aqui em So Paulo... eu fui SALVO em mil novecentos e sessenta e sete com uma cirurgia... uma hemorragia de estmago no Hospital das Clnicas... e recebi no Hospital das Clnicas de So Paulo o melhor tratamento possvel... sendo um indigente... porque eu tava clandestino... me internaram como indigente... e:: ((ri)) e assim eu me salvei... mas... ao longo desse tempo... n... a medicina no foi s privatizada como comercializada... como deteriorada... as universidades perderam a qualidade de ensino no ... e aquilo que deveria ser um patrimnio de todos acabou se transformando no privilgio de uns poucos... quer dizer... hoje se voc tem que internar um FIlho seu... se voc quer o melhor... o que que voc faz?... voc busca a MElhor clnica particular e interna o seu filho...antigamente voc podia pegar o seu filho e levar para um hospital Pblico... e o mais incrvel que essas clnicas particulares dos hospitais particulares... inclusive essa de So Vicente so mantidos... em grande medida... com dinheiro pblico... ESSA que a grande questo... por exemplo essa clnica So Vicente foi construda com dinheiro da Caixa Econmica Federal com dinheiro do fundo da Caixa Econmica Federal... que dinheiro nosso... no verDAde...? (fragmento 2)
Para anlise da polmica aberta instaurada no trecho acima, identificamos trs categorias lingusticas: a adjetivao/nomeao, o discurso citado indireto e o uso de conectivos de valor concessivo ou adversativo, bem como uma categoria extra-verbal104: a entonao . Na pergunta do mediador: E como foi que aconteceu esse deSAStre?contatamos que o locutor denomina desastre a informao apresentada pelo entrevistado de que 70% dos hemoflicos do Rio de Janeiro esto contaminados pela Aids. A entonao enftica revela indignao diante do fato apresentado. O mesmo termo utilizado pelo entrevistado, o que sinaliza um compartilhamento de valores quanto ao mesmo dado levantado. O verbete desastre105 definido como evento, acontecimento que causa sofrimento e grande prejuzo (fsico, moral, material, emocional); desgraa, infortnio. Subjaz a tal denominao aspectos contextuais como: ausncia
Volchinov (1981[1926]) observa que todo enunciado cotidiano considerado como um todo portador de sentido se decompe em duas partes: 1) parte verbal atualizada e 2) parte subentendida. A avaliao determina a escolha das palavras e a forma da totalidade verbal atravs da entonao que estabelece uma estreita relao entre o discurso e o contexto extra-verbal.
105 104
Disponvel em < http://houaiss.uol.com.br/> Acesso em 22 de maio de 2010.
203
Abordagens metodolgicas em estudos discursivos. So Paulo: Paulistana, 2010.
de polticas pblicas de sade que evitassem a propagao da doena e, portanto, uma contraposio ao discurso oficial quanto sua existncia e suposta eficincia das mesmas. Na posterior fala do entrevistado h a mobilizao do discurso citado indireto em: ...apesar do discurso oficial de falar que existe controle do sangue no Brasil... no menos que setenta por cento dos bancos de sangue no Brasil no fazem controle... teste para essas enfermidades... No plano lingustico, a polmica aberta torna-se evidente pela utilizao do conectivo apesar de, o que revela um embate entre o que o discurso oficial defende (a existncia do controle de sangue no pas) e o discurso do cientista social. A subsequente pergunta de Ricardo Kotcho igualmente faz uso do recurso da nomeao, selecionando um termo ainda mais contundente: criminosos para os autores do que o ento reprter do Jornal do Brasil denominava crime de omisso, crime de responsabilidade. Tal nomeao demonstra conceber de forma assertiva a recusa do atendimento no Hospital da ordem de So Vicente de Paulo como um ... caso tpico de crime de omisso. Kotcho parte do pressuposto de que tais criminosos encontram-se em diferentes nveis de responsabilidade: ...e no comeo da linha?.... O subentendido presente no enunciado refere-se ao papel do Estado como o responsvel pela sade pblica no pas.
4.2 Polmica velada: refrao discursiva instaurada na contraposio de dados de pesquisa
No fragmento a seguir constamos que, apesar do entrevistador jornalista inserir em seu discurso uma referncia explcita ao discurso oficial representando pelo slogan governista do ento presidente Jos Sarney, o que, no referido contexto, configura uma tonalidade polmica aberta contra esse discurso, o entrevistado, ao contrapor dados de pesquisas diversas uma oficial e outra no oficial -, efetua igualmente um embate em relao ao prprio discurso do poder institudo por meio de um objeto referencial: critrios de realizao de pesquisa e, consequentemente, gerao de resultados favorveis imagem do governo:
Ricardo Kotcho: (...)O que voc sente quando voc v na televiso aqueles anncios do governo anunciando... governo Jos Sarney... tudo pelo social... quais so os ltimos medidores econmicos... sociais do Ibase que voc trabalha... voc dirige... em alguma poca da nossa histria o povo brasileiro foi to miservel? Herbert de Souza: Olha... eu acabei de ver exatamente NEsses dias dois estudos feitos... de um estatstico e outro de um economista... um deles chama Marco Antnio de Souza Aguiar... e ele faz um estudo da evoluo da massa salarial brasileira... o estudo mostra... que NUNCA essa massa esteve to baixa... houve uma perda... do plano cruzado pra c... de cerca de TRINTA por cento da massa salarial... e isso h que se reconhecer... quer dizer... a evoluo da massa salarial no plano cruzado foi ascendente e por isso que ele foi to bombardeado... desarticulado e acabou sendo destruda porque a massa salarial crescia... acaba o plano cruzado comea a abaixar... a:: a:: o poDER n...aquisitivo... no s o poder aquisitivo por causa do processo inflacionrio mas tambm... a composio do salrio na produo... comea a diminuir... que dizer... eu
204
Abordagens metodolgicas em estudos discursivos. So Paulo: Paulistana, 2010.
tenho a impresso... que:: os nossos indicadores sociais ... eles so muito pobres... por exemplo... o IBGE nos d uma taxa de desemprego....:: MENOR que dos Estados Unidos... porque o IBGE no mede desemprego... nem emprego... ele mede atividade... ento se voc ta fazendo alguma coisa... se voc ta se MEXENDO n... pro IBGE voc ta empregado... ento ns temos essa situao incrvel no de ter.../ uma vez por exemplo ns fizemos uma pesquisa base na Baixada... em Nova Iguau... e chegamos a uma taxa de DESEMprego de vinte e oito por cento... porque ns medimos emprego e desemprego e no atividade... ento voc tem hoje uma situao h:: social... totalmente... desarticulada... destruda ao longo desses anos e... nesse contexto o discurso do governo de que tudo pelo social passa como uma espcie de piada de mau gosto... realmente uma piada de mau gosto... (fragmento 3)
Aps priorizar sintaticamente o carter de atualidade em seu discurso de tonalidade polmica, o entrevistado insere em sua fala o resultado dos estudos de dois pesquisadores: um estatstico e outro de um economista, fato que confere legitimidade s suas proposies, uma vez que oriundos do campo cientfico. A meno do nome de um dos cientistas possibilita a referenciao bibliogrfica, bem como a determinao da fonte da pesquisa, o que permite a acentuao da credibilidade em relao s asseres que o entrevistado far na sequncia. E tendo em vista essa referenciao, isto , atribuindo autoria aos dados que Betinho insere os resultados pertinentes pesquisa do economista. Resultados que estabelecem uma relao dialgica com a pergunta de Kotcho, uma vez que visam responder a questo: ... em alguma poca da nossa histria o povo brasileiro foi to miservel?. Questo elaborada a partir do pressuposto: o povo brasileiro miservel, ou seja, o que o jornalista problematiza no o estado de miserabilidade dos brasileiros tido como fato mas sim suscita um levantamento comparativo dessa miserabilidade numa escala temporal, evidente na utilizao do adjunto adverbial de tempo: em alguma poca da nossa histria. Pergunta que convoca a presena do intelectual, cientista social Herbert de Souza, uma vez que pressupe a resposta de um especialista. Da a pertinncia do carter de atualidade constitutivo do discurso do entrevistado. No que tange aos resultados da pesquisa apresentada, o entrevistado destaca a evoluo da massa salarial brasileira. O cientista social evidencia que ... NUNCA essa massa esteve to baixa.... A entonao expressiva utilizada na pronncia do advrbio nunca tambm explicita o dissenso em relao ao discurso oficial embutido no slogan. A insero do resultado da pesquisa mostra-se como prova que fundamenta cientificamente a polmica. A afirmao do entrevistado quanto s causas que teriam levado ao fim o plano Cruzado, em funo do crescimento da massa salarial, no perodo, sugere a existncia de segmentos do poder institudo que criavam barreiras quanto ao aumento do poder aquisitivo das classes menos favorecidas. O entrevistado, ao utilizar a voz passiva analtica, no identifica tais segmentos: ...a evoluo da massa salarial no plano cruzado foi ascendente e por isso que ele foi to bombardeado... desarticulado e acabou sendo destrudo porque a massa salarial crescia.... O horizonte social amplo da poca contribui para identificao de quais discursos so refletidos e refratados no momento de utilizao dessa construo sinttica (voz passiva analtica): o plano Cruzado, conjunto de medidas econmicas lanado em
205
Abordagens metodolgicas em estudos discursivos. So Paulo: Paulistana, 2010.
28 de fevereiro de 1986, pelo ento ministro da fazenda Dilson Funaro, fracassou mediante a tentativa de conter a inflao, ao determinar, por exemplo, o congelamento de preos de bens e servios, bem como de salrios. O fato que, diante do insucesso desse plano, Funaro lana o Cruzado II, em 21 de novembro de 1986. Finalmente, a inflao foi contida e poder de compra dos salrios cresceu. Entretanto, diante do crescimento da demanda consumidora, os fornecedores passam a cobrar gio pelos produtos, o que provoca desabastecimento. Consideremos, na seo seguinte, a anlise de mais um fragmento tendo em vista a categoria que denominamos parfrase explicativa.
4.2.1 Polmica velada por meio da parfrase explicativa
Compreendemos a parfrase explicativa como a imbricao entre saberes oriundos da esfera cientfica e saberes da esfera jornalstica e/ou da ideologia do cotidiano. No fragmento abaixo constatamos a reverberao da polmica velada no momento em que o entrevistado oferece exemplos que ilustram as contraposies identificadas pelo cientista social nos critrios cientficos adotados pelo IBGE na medio do desemprego:
Profa. Maria Vitria Benevides: Betinho... explica um pouco... pro IBGE o cara que ta tomando conta de carro na rua ta empregado... Herbert de Souza: T empregado... Profa. Maria Vitria Benevides: ( obvia a quantidade de desemprego...) ((superposio de falas)) Herbert de Souza: Eu vou te dar um exemplo... pai... me e filha... o pai metalrgico do ABC... a me dona de casa e a filha :: ta na escola... para o IBGE tem duas pessoas desempregadas e uma empregada... ta... s o:: operrio que ta empregado... ai o operrio se desemprega... ele despedido... a me passa a lavar roupa... e a filha vai vender bala na estao... por esse critrio... dois esto empregados e um est desempregado... ((concomitncia de falas)) (fragmento 4)
A entrevistadora prev um virtual pblico telespectador urbanizado que conhea a realidade de pessoas que tomam conta de carro, de modo que o questionamento da sociloga problematiza o critrio de pesquisa adotado pelo rgo pblico (IBGE). O tom de coloquialidade da professora, demonstrado por expresses como ...pro IBGE o cara que ta tomando conta de carro na rua ta empregado... constitui recurso dialgico que considera a situao de comunicao imediata que vislumbra um pblico telespectador no especialista em temas da esfera cientfica. Dessa forma, a parfrase explicativa no se limita a dizer com outras palavras o simples contedo temtico relacionado contraposio de critrios cientficos apontados pelo entrevistado, mas se configura em um novo enunciado que intenciona aproximar o pblicoalvo do programa do revestimento polmico velado.
206
Abordagens metodolgicas em estudos discursivos. So Paulo: Paulistana, 2010.
5. Consideraes finais
O presente trabalho visa contribuir com a anlise das polmicas discursivas que subjazem composio do programa Roda Viva, em especial aqueles realizados com entrevistados cientistas. Consideramos aquele veiculado em 1987, com o cientista social Herbert de Souza, representativo de um leque estreito de programas realizados com cientistas nos anos 80. Atribumos essa reduzida presena de cientistas nessa primeira dcada de vida do programa ao prprio contexto scio-poltico-econmico: a recente abertura poltica, problemas com os altos ndices inflacionrios, efervescncia social iniciada com a campanha pelas Diretas e, posteriormente, retomada com a elaborao de uma constituinte em prol de uma nova Constituio. Tais elementos do horizonte social mostram-se constitutivos do enunciado analisado, do ponto de vista temtico, composicional (uma vez que define quais sero os interlocutores), e estilsticos, evidenciados pela escolha de termos que explicitam posicionamentos avaliativos em relao aos temas, objetos referenciais do debate. A partir de uma tipologia discursiva apresentada por Bakhtin (1997[1963]), destacamos duas categorias discursivas: 1)polmica aberta contra discursos oficiais sobre sade pblica e 2) polmica velada instaurada por meio da contraposio de dados de pesquisas socioeconmicas. No que diz respeito primeira dessas categorias, consideramos trs elementos lingusticos: a nomeao/adjetivao, conectivos de valor adversativo ou concessivo e o discurso citado indireto, bem como uma categoria extra-verbal: a entonao. Constatamos a contundncia com que essa polmica se efetua, por meio de crticas pseudopoltica social do governo Sarney. Ao denominar piada de mau gosto o slogan tudo pelo social, o entrevistado no deixa cair no vazio a justificativa de sua denominao e, por meio da polmica velada, apresenta dados de pesquisa que contradizem uma realidade forjada por rgos do governo interessados em manter uma imagem positiva do mesmo.
Referncias bibliogrficas
BAKHTIN, Mikhail Mikhilovich. Problemas da potica de Dostoievski. Trad. Paulo Bezerra. 2, ed. Rio de Janeiro: Forense Universitria,1997[1963]. _____. Os gneros do discurso. In Esttica da criao verbal. Trad. Paulo Bezerra. So Paulo: Martins Fontes, 2006[1952-53]. p. 261-306. _____. A cultura popular na Idade Mdia e no Renascimento: o contexto de Franois Rabelais. Trad. Yara Frateschi Vieira. 7, ed. So Paulo: Hucitec, 2010 [1965]. BAKHTIN, Mikhail Mikhilovich & VOLOCHINOV, Valentin. Marxismo e filosofia da linguagem. Trad. Michel lahud; Yara Frateschi Vieira. 11. ed. So Paulo : Hucitec, 2004 [1929]. JAKOBSON, Roman. Lingustica e comunicao. Trad. Izidoro Blikstein; Jos Paulo Paes. So Paulo: Cultrix, 2008.
207
Abordagens metodolgicas em estudos discursivos. So Paulo: Paulistana, 2010.
LEAL FILHO, Laurindo. Por trs das cmeras: relaes entre Cultura, Estado e Televiso. So Paulo: Summus, 1988. LIMA, Jorge da Cunha. Uma histria da TV Cultura. So Paulo: Imprensa Oficial do Estado de So Paulo: Cultura Fundao Padre Anchieta, 2008. VOLCHINOV, Valentin Le discours dans la vie et le discours dans la poesie: contribution une potique sociologique In: TODOROV, T. Mikhal Bakhtine: le principe dialogique. Paris: Seuil, 1981[1926]. p. 181 -214. _____. La structure de lnonc. In : TODOROV, Tzvetan. Mikhal Bakhtine: le principe dialogique. Paris: Seuil, 1981[1930]. p. 287-316.
Dados para indexao em lngua estrangeira
Abstract: Created in full politic movement outlined by process of democratization in the country, the program of TV Cultura, Roda Viva, port as a constitutive feature of verbal interaction process characterized by the presence of actors from various institutions. The goal of this article is to outline theoretical and methodological aspects of our research whose analysis contains in its diachronic scope issues aired in the last three decades, with scientists interviewed. The question that drives our research is: which discourses are reflected and refracted in such a context? Toward an analysis of the program two discursive categories: open controversy in relation to official discourse and the controversy brought on veiled opposition between socioeconomic survey results. Key-words: controversy; jornalism; scientific vulgarization; Bakhtin Circle; dialogism
208
Você também pode gostar
- Vida de Cristo e EspiritualidadeDocumento12 páginasVida de Cristo e EspiritualidadePedro Cruz Junior81% (32)
- LP ADE 1º Anos 2023Documento9 páginasLP ADE 1º Anos 2023EVERTON APARECIDO DA SILVAAinda não há avaliações
- Psicologo Pref Cristiano Otoni PROVA1Documento19 páginasPsicologo Pref Cristiano Otoni PROVA1gislenemunkAinda não há avaliações
- Crônica - Português 7º AnoDocumento4 páginasCrônica - Português 7º AnomourianeAinda não há avaliações
- Como Ler Um Texto ComplexoDocumento2 páginasComo Ler Um Texto ComplexoLeonardo SamuelAinda não há avaliações
- Eduardo Lourenço-Pessoa RevisitadoDocumento15 páginasEduardo Lourenço-Pessoa RevisitadoBruno Tinelli100% (1)
- 05 - Dicionario - de - Acordes - para - Piano - TecladoDocumento62 páginas05 - Dicionario - de - Acordes - para - Piano - TecladoMarcos100% (1)
- MATERIA Joel 20100302181942Documento23 páginasMATERIA Joel 20100302181942Vilma Fonseca100% (1)
- Identidade de Adorador-LetraDocumento1 páginaIdentidade de Adorador-LetradehbrayAinda não há avaliações
- Licao 8Documento9 páginasLicao 8ArqFrancelino LinoAinda não há avaliações
- BOUTINET, 2002 - Antropologia - Do - ProjetoDocumento32 páginasBOUTINET, 2002 - Antropologia - Do - ProjetoJonatan Possebon CarvalhoAinda não há avaliações
- Conectados em Jesus!Documento28 páginasConectados em Jesus!Uelton LariAinda não há avaliações
- Livro 02 - Padrões GRASPDocumento55 páginasLivro 02 - Padrões GRASPMarco Antonio Maciel PereiraAinda não há avaliações
- Datador VideojetDocumento141 páginasDatador VideojetCassio Oliveira100% (1)
- Para Que A PanlexiaDocumento155 páginasPara Que A PanlexiacristinaAinda não há avaliações
- Heidegger - Filosofia Da Linguagem IIDocumento8 páginasHeidegger - Filosofia Da Linguagem IIjonathannatalicioAinda não há avaliações
- Regência Nominal Na Construção Do Texto.Documento25 páginasRegência Nominal Na Construção Do Texto.Gustavo Paz100% (1)
- I RosárioDocumento2 páginasI RosárioCarlos SantosAinda não há avaliações
- Material Didático - Aula de RevisãoDocumento3 páginasMaterial Didático - Aula de RevisãoTiago RodrigoAinda não há avaliações
- 2 - Actividade3-TEO ED CEDDocumento13 páginas2 - Actividade3-TEO ED CEDbenencioalexandre chivindeAinda não há avaliações
- Partitura-Coral Do Iasp-Por Voce-2006Documento8 páginasPartitura-Coral Do Iasp-Por Voce-2006meukitdeensaioAinda não há avaliações
- Planejamento Integrado - Classes RegularesDocumento9 páginasPlanejamento Integrado - Classes RegularesMário SérgioAinda não há avaliações
- Exame de Tecnica de Expressao OralDocumento16 páginasExame de Tecnica de Expressao OralManheche BaptistaAinda não há avaliações
- Instruções para A Preparação de Artigo 08mar21Documento8 páginasInstruções para A Preparação de Artigo 08mar21André EduardoAinda não há avaliações
- PPGEL - Semana de Abertura 2022 - Programação CompletaDocumento5 páginasPPGEL - Semana de Abertura 2022 - Programação CompletaThiagoAinda não há avaliações
- El Estado Del Arte en La Investigación: ¿Análisis de Los Conocimientos Acumulados o Indagación Por Nuevos Sentidos?Documento15 páginasEl Estado Del Arte en La Investigación: ¿Análisis de Los Conocimientos Acumulados o Indagación Por Nuevos Sentidos?Yuliana Gil VizcainoAinda não há avaliações
- Transacoes Imobiliarias Desenvolvimento de Atividades de Comunicacao e Linguagem PDFDocumento31 páginasTransacoes Imobiliarias Desenvolvimento de Atividades de Comunicacao e Linguagem PDFEliedson NascimentoAinda não há avaliações
- Z BEP 03 - GABARITODocumento1 páginaZ BEP 03 - GABARITOrosiane campos matheus alvesAinda não há avaliações
- A Musica No Tempo de Gregorio de Mattos PDFDocumento117 páginasA Musica No Tempo de Gregorio de Mattos PDFEdgar ArrudaAinda não há avaliações
- Escrevivência. Buscamos Evidenciar A Escre (Vivência) Da Chimamanda NgoziDocumento10 páginasEscrevivência. Buscamos Evidenciar A Escre (Vivência) Da Chimamanda NgoziAdri VeygaAinda não há avaliações