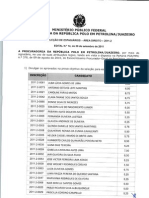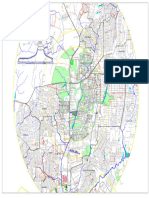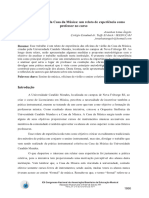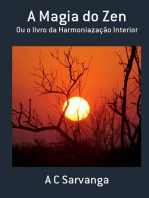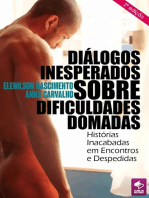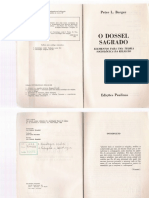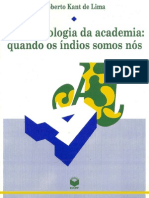Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
MARCUS George Identidades Passadas Presentes e Emergentes Requisitos para Etnografias Sobre A Modernidade No Final Do Seculo XX Ao Nivel Mundial PDF
MARCUS George Identidades Passadas Presentes e Emergentes Requisitos para Etnografias Sobre A Modernidade No Final Do Seculo XX Ao Nivel Mundial PDF
Enviado por
Gabriel Medina0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações25 páginasTítulo original
228002923-MARCUS-George-Identidades-Passadas-Presentes-e-Emergentes-Requisitos-Para-Etnografias-Sobre-a-Modernidade-No-Final-Do-Seculo-XX-Ao-Nivel-Mundial.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações25 páginasMARCUS George Identidades Passadas Presentes e Emergentes Requisitos para Etnografias Sobre A Modernidade No Final Do Seculo XX Ao Nivel Mundial PDF
MARCUS George Identidades Passadas Presentes e Emergentes Requisitos para Etnografias Sobre A Modernidade No Final Do Seculo XX Ao Nivel Mundial PDF
Enviado por
Gabriel MedinaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 25
Revista de Antropologia. So Paulo, USP, n. 34, 1991, pp. 197-221.
IDENTIDADES PASSADAS, PRESENTES E EMERGENTES:
REQUISITOS PARA ETNOGRAFIAS SOBRE A MODERNIDADE
NO FINAL DO SECULO XX AO NIVEL MUNDIAL*
George Marcus
(Senior Lecturer, Departament of Anthropology Rice University)
RESUMO: Este trabalho analisa os dilemas que a etnografia precisa enfrentar para compreender a
modernidade. A etnografia contemporinea se vé obrigada a abandonar uma perspectiva de andlise,
‘que parte unicamente da experiéncia vivenciada em nfvel local, € procurar o atendimento de um
Ponto de vista global. Esse deslocamento coloca sob o foco da reflexso antropol6gica o modo como as
identidades coletivas e individuais sho negociadas nos lugares onde o antropSlogo faz suas pesquisas
de campo
PALAVRAS-CHAVES: Teoria antropolégica, etnologia da modemidade, mundializagio, pesquisa de
‘campo, globalizacio, relaivismo cultural, diferenga, identidade.
O seguinte trecho de um trabalho recente de Charles Bright e Michael
Geyer, "For a Unified History of the World in the Twentieth Century” (Para uma
hist6ria unificada do mundo no século XX] (1987), € expresso tipica’ de uma
tendéncia problematica presente no espago interdisciplinar que ¢ muitas vezes
rotulado de "estudos culturais” nos Estados Unidos ¢ na Gra-Bretanha (pp.
69-70):
"(..) © problema da histéria mundial aparece sob uma dtica
nova. O seu ceme ndo é mais a questéo da evolugéo ou a
Tegressdo de sistemas mundiais, mas uma interagéo cont{nua €
tensa entre as forcas que promovem a integragio global ¢ as.
forgas que recriam uma autonomia local. Nao se trata de uma
luta a favor da integragéo global em si, ou contra ela, mas de
MARCUS. George. Identidades passadas, prescates e emergentes: requisitos para etnografias
sobre a modennidade no final do séeulo XX ao nfvel mundial.
uma luta quanto aos termos em que se processa tal integragéo.
A luta nfo se terminou de forma alguma, ¢ 0 rumo que segue
néo € determinado de anteméo pela dinimica da expansdo
ocidental que iniciou a integrago mundial. © mundo tem se
dividido internamente mesmo quando tem sido pressionado a
‘se juntar, uma vez que os esforgos para converter a dominagao
em ordem tem gerado evasdo, resisténcia e lutas para
recuperar a autonomia. Esta luta por autonomia - a
priorizagdo de reivindicagées locais e particulares em
detrimento de reivindicagées globais e gerais - ndo implica
fugir do mundo, nem recorrer & autarquia. Muito pelo
contrario, Trata-se de um esforco para estabelecer os termos
da participagdo autocontrolada e autodeterminada nos
processos de integragao global e na luta por uma ordem
Planetaria. A esséncia deste cstudo é a questio de quem ou o
que controla ¢ define a identidade de individuos, grupos
sociais, nagSes ¢ culturas. Trata-se de uma formulacéo tanto
politica como intelectual, pois envolve a reavaliago critica da
prdtica do globalismo..." (grifo meu).
A qualidade paradoxal ¢ até vertiginosa destas formulages com cardter de
manifesto exige que o estudioso da histéria mundial tenha em vista, simulta-
neamente, a semelhanga ¢ a diferenga entre o global ¢ o local, ¢ exige deles
também a habilidade de ver "tudo ¢ em toda parte" como condigo para perceber
a diversidade. Com efeito, lembra a formulagéo cognitiva com a qual os
modernistas clssicos da estética se revoltaram contra o realismo na arte e na
literatura e indica, para mim, a penetragdo, finalmente, desta formulacao critica
nos modos de representagio que as ciéncias sociais ¢ a hist6ria ttm empregado
para construir os seus sujeitos ¢ explicé-los. Isto esté acontecendo justamente no
‘momento em que o modernismo estético na arte € na literatura est4 sofrendo um
momento de esgotamento nos seus esforgos para definir um pés-modernismo.”
Nas palavras de Marshall Berman, que em seu livro Tudo que é sdlido
desmancha no ar (1982) recuperou criativamente a relevancia do modernismo
Classico no que se refere @ hist6ria e & cultura contempornea contra a assim
chamada "condigdo pés-moderna” (p. 14):
"Hé um século a ironia moderna dé vida a muitas grandes obras
de arte ¢ do pensamento; ao mesmo tempo, penetra na vida
-198—
Revista de Antropologia. Sho Paulo, USP, n. 34, 1991, pp. 197-221.
cotidiana de milhdes de pessoas comuns. Este livro visa juntar
estes trabalhos ¢ estas vidas; restaurar a riqueza espiritual da
cultura modemista para o homem e a mulher comuns
modemos; mostrar como, para todos nés, modernismo é
realismo..."
A concepgio de vida social que a vanguarda do século XIX tentou impor
nas narrativas progressistas da vida burguesa na sociedade européia industrial
transformou-se agora nas, ou pelo menos ¢ apreciada por nés como, condiges
‘empfricas descritiveis da modernidade, nao apenas nas sociedades consumistas
do Ocidente, mas também em vastas dreas de um mundo cada vez mais
transcultural. No Ambito das ciéncias sociais e da hist6ria, esta talvez sejaa tinica
4rea’em que as tentativas atuais que visam & remodelagao da descrigéo e da
anflise (inspiradas nos desafiosmodernistas quanto aos pressupostos de uma
narrativa realista) se cruzam com um esforgo paralelo, nas artes de definigdo de
um p6s-modernismo: 0 pés-modernismo se distingue do modernismo gracas &
percepgo de que nao existem mais vanguardas aptas para as produgGes culturais
do modernismo classico. Ironia, parddia, espetéculo, rupturas e efeitos
chocantes agora se produzem para classes culturais "receptoras" que so
grandes e até mesmo populares e que demonstram uma sensibilidade para tais
produgdes ou que, ao menos, as reconhecem. Tais classes "receptoras" incluem,
obviamente, pesquisadores ¢ estudiosos, entre os quais se incluem os cientistas
sociais ¢ historiadores que entendem a vida social dos seus objetos de pesquisa
(que também entendemas suas préprias vidas) em termos préximos aos definidos
pela vanguarda cléssica ¢ que procuram, enquanto analistas ¢ narradores da
culturaesociedade, técnicas de representacdo originérias da mesma fonte. Assim,
‘enquantoBerman, como outros que estudam o legado da expresso modemistana
vida contemporanea, diverge do projeto pés-modernista da literatura e das artes,
a sua justificativia em defender a relevancia do modernismo classico se baseia
na percep¢do comum ao pés-modernismo de que as condigdes de vida em todo o
mundo sdo fundamentalmente e cada vez mais conscientemente (self-consciously)
modernistas. Neste reconhecimento, contudo, o que aparenta ser um dilema para
© artista é, para o cientista social e para o historiador, uma oportunidade.
No trecho de Bright ¢ Geyer, 0 problema modernista na pesquisa hist6rica
e social se baseia especificamente numa questdo da formacdo de uma identidade,
‘ou como se diz "... a questo de quem, ou 0 que controla ¢ define a identidade dos
individuos, grupos sociais, nagdes e culturas". E com esta formulagéo chegamos
a uma tendéncia da pesquisa ¢ da elaboracao-proeminente na antropologia dos.
-199-
MARCUS. Geotge. Identidades passadas, preseates e emergentes: requisitos para etnografias sobre a
modernidade no final do século XX ao nivel mundial.
anos 80 ¢ que constitui o foco deste trabalho. Em Anthropology as Cultural
Critique (1986), Mike Fischer e eu convergimos como Bright ¢ Geyer na nossa
documentagio de uma tendéncia diversificada e complexa da pesquisa etno-
gréfica contemporanea, que visa sintetizar — através do atual jogo de estratégias
empregadas na construcio de etnografias — quer interesses tedricos maiores
presentes na descrigéo da cultura ao nivel da experiéncia, quer categorias
compartilhadas de experiéncias (a proeminéncia de estudos sobre o "cu"). Esta
tendéncia preocupa-se igualmente com a maneira pela qual os estudos etno-
grficos convencionais de localidades, regides, comunidades ¢ povos outros
podem contribuir para a formagio de uma economia hist6rico-politica mundial (@
saber: a importante manifestagao de cunho antropolégico feita por Eric Wolf,
1982, quanto influente metanarrativa sobre a economia politica-histérica
mundial apresentada por Wallerstein, apés Braudel, no infcio dos anos 70).
Até meados dos anos 80 esses interesses conjuntos da cultura ¢ da
experiéncia vivenciada em nivel local, e o entendimento desde uma perspectiva
global, acabaram focalizando as maneiras pelas quais.as identidades coletivas e
individuais s4o negociadas nos diversos lugares onde os antropélogos, mas agora
no tho tradicionalmente, t¢m feito as suas pesquisas de campo. Uma etnografia
neste estilo se encarrega de explicar como, nos contextos locais convencionais
conhecidos no curso da pesquisa etnogrdfica, uma diversidade paradoxal emerge
em um mundo que € destacadamente transcultural segundo a visdo de Bright e
Geyer. Assim, face aos processos de sincretismo global, h4 um interesse
renovado entre os antrop6logos emassuntos como etnicidade, raga, nacionalidade
ecolonialismo. Aindaque fenémenos primordiais como tradigdes, comunidades,
sistemas de parentesco, rituais e estruturas de poder continuem a ser docu-
mentados, eles néo podem mais servir, em si ¢ por si s6s, como conceitos basicos
que organizam a descrigo e a explicagio etnograficas. Os trabalhos mais
ousados entre as etnografias que se preocupam coma formagio e transformagao
de identidades (seja dos objetos da pesquisa, de seus sistemas sociais, ou dos
estados-nagées aos quais eles estéo associados, seja do etnégrafo ou do proprio.
Pprojeto etnografico) s4o os que mais radicalmente questionam as abordagens
analiticas ¢ descritivas que constroem (¢ privilegiam) um tipo de "solidez que nao
se desmancha no ar", isto ¢, identidades exclusivas, emergentes de umaestrutura
cultural competente, que pode sempre ser descoberta ¢ remodelada.
Em vez disso, a problematica etnogréfica modernista esbogada na préxima
sessio emerge de uma desqualificacao sistematica dos varios artificios estru-
turantes de que depende o realismo etnogrifico.
-200-
Revista de Antropologia. Sio Paulo, USP, n. 34, 1991, pp. 197-221.
Cabe comentar 0 fato de o préprio problema de identidade coletiva ¢
individual haver se transformado naquilo que dé a este momento da etnografiaa
sua identidade.* Afinal de contas, esta mesma nogio de identidade tem sido
definida de modo bastante genérico na histéria da teoria social ocidental. Em
momentos como este, quando a mudanga enquanto processo se toma a preo-
cupagao teérica ¢ empirica predominante dos cientistas sociais, 0 objetivo da
pesquisa também aparece como sendo a compreenséo do modo pelo qual as
identidades de diferentes niveis de organizagio tomam forma. Mas o tratamento
dado a formagao da identidade, por exemplo nas etnografias escritas durante a
hegemonia do paradigma de desenvolvimento ¢ modernizacao dos anos 50 ¢ 60,
€ muito diferente do tratamento presente naquelas que poderiam ser vistas como
as suas herdeiras nos anos 80 — as etnografias sobre processos de identidade
escritas sob um regime te rico que tem por centro a questo da modernidade, um
termocomimplicagées muito diferentes do termo"modemnizagio". Asdiferencas
provavelmente séo tanto polfticas quanto intelectuais. Da perspectiva da
modernizagio, tratava-se de anélises de etapas progressivas, baseadas na
experiéncia ocidental ¢ subseqiientemente aplicadas ao resto do mundo. Nesta
abordagem, a mudanga abalava a identidade — pessoal, comunal ou nacional -,
mas havia uma valorizagéo visivel do restabelecimento da coeréncia €
estabilidade da identidade, através de quaisquer processos. O "espirito sem lar"
era sem diivida uma das condigdes da mudanga, mas era fonte de grande
perturbagio ao teérico/analista ¢ precisava ser resolvido ou pela reinvengio de
uma tradigao na qual se podia confiar, ou pela nogio de que a hist6ria, por mais
complexa que fosse, operaria segundo algo que se parecesse com leis.
A concepgio teérica deste processo dependia da discussdo de dualidades
tais como tradigdo-moderno, rural-urbano, gemeinschaft-geselischaft, ou termos
parecidos: formas que o capital intelectual do século XIX geralmente tomou na
sua tradugao e usou nas ciéncias sociais anglo-americanas do século XX.
O regime de modernidade globaliza histérias especificas do moderno ¢
abrange as dualidades das teorias de modernizagdo a sua criagéo como tipos de
ideologias e de discursos que so, eles préprios, produtos do modemo. O estudo
do moderno ou da modernidade exige um quadro de referéncia diferente, ¢ € &
busca da consciéncia disso que a teoria social do século XX (ela mesma um
Projeto de auto-identidade que ainda no se completou, ou que talvez no seja
possivel completar) tem dedicado tanto tempo. Como tais, os processos de
identidade na modernidade consistem num "espirito sem lar" que nao pode ser
-201-
MARCUS. George. Identidades passadas, presentes ¢ emergentes: requisitos para etnografias sobre a
modernidade no final do século XX ao nivel mundial.
resolvido de uma vez por todas e de modo coerente ou como uma formagéo
estavel quer em teoria, quer na prépria vida social. As suas permutagSes, expres-
sdes € milliplas determinagdes mutdveis, contudo, podem, com efeito, ser
estudadas e documentadas de forma sistemética do mesmo modo que se faz a
etnografia da formagio de identidade em qualquer lugar. Exige, porém, um outro
conjunto de estratégias a serem utilizadas na elaboragao de etnografias. E este 0
nosso préximo assunto.
Tomando mais uma vez por referéncia o trecho de Bright e Geyer,
descobrimos que se busca compreender a questio-chave da formacéo da
identidade através de uma ret6rica conceitual especifica que enfatiza os processos
de “resisténcia e acomodagéo". Ou, como dizem, *... esforgos para converter a
dominagéo em ordem tém gerado evasio, resisténcia ¢ lutas para recuperar a
autonomia. Esta luta pela autonomia... néo implica fugir do mundo ou recorrer &
autarquia".
Identificar elementos de resistencia ¢ de acomodagao na formagéo de
identidades coletivas ou pessoais no local em que se desenvolve um projeto
etnografico tomou-se uma formula analitica (que se assemelha a um slogan) para
enfrentara visio modernista paradoxal segundo a qual "tudo em todos os lugares
‘mas, ainda assim, diferente em cada lugar". (Ver Marcus, s.d.)
A f6rmula de resistencia ¢ acomodaco, porém, pode ser explorada com
graus maiores ou menores de divergéncia radical em relacdo aos pressupostos da
abordagem convencional da etnografia realista. No seu uso mais conservador,
esta f6rmula negocia a simultaneidade da homogeneizagio cultural ¢ da
diversificacdo, em qualquer local, ao preservar o poder doenquadramento basico
de tais conceitos como comunidade, subcultura, tradigao e estrutura. A identidade
local aparece como um compromisso entre uma mistura de elementos de
resisténcia A incorporagao de uma totalidade maior e elementos de acomodagio a
esta ordem mais ampla. A ironia das conseqiiéncias imprevistas € muitas vezes
incorporada nas etnografias para dar conta da articulagao reciproca entre tais
elementos da formagéo da identidade no nivel local, mas também, por outro lado,
para dar conta tanto da sua articulagéo enquanto um mundo pequeno, local,
quanto de uma ordem mais abrangente (ver a minha andlise, 1966, do livto de
Paul Willis, Learning to Labour, para uma descrigéo de como 0 uso muito
sofisticado da estraté gia resisténcia/acomodagao opera nos quadros de uma linha
interpretativa conservadora realista).
—202-
Revista de Antropologia. Sto Paulo, USP, n. 34, 1991, pp. 197-221.
Etnografias de resisténcia e acomodagio freqientemente privilegiam algum
tipo de comunidade ou estrutura cultural estével em detrimento de qualquer
l6gica que inclua contradigées duradouras.
Os dois pélos da estratégia servem principalmente para posicionar os
estudos tradicionais de uma forma ideoldgica satisfatéria face a problematica
modernista, como colocado no trecho citado de Bright ¢ Geyer. De um lado, a0
reconhecer a acomodagao evita-se a nostalgia da totalidade, da comunidade ¢, de
forma mais abrangente, evita-se a alegoria da "vida no campo" (the pastoral) que,
como mostrou Jim Clifford (1986), tem observado a narrativa de tantas
etnografias. Por outro lado, ao reconhecer a resisténcia, evita-se o pessimismo
sem saida contido na concepgdo do mundo como totalmente administrado na
modernidade e que caracteriza a teoria critica da escola de Frankfurt
(especialmente de Theodor Adorno) ow a teoria de poder € conhecimento dos
tiltimos trabalhos de Michael Foucault, No entanto, 0 que realmente se evita e se
recusa nas etnografias mais convencionais ou conservadoras centradas na tese
da resisténcialacomodagdo é a exploragao de um senso tdo inflexivel de
paradoxo na anilise do entrelacamento de diversidade e homogeneidade que néo
permita um facil desmembramento destes dois termos.
Na proxima sessao, esbogarei de forma breve e esquematica um conjunto
de requisitos para mudar 0 conceito de tempo de etnografias ("chronotope", para
usar 0 conceito de Bakhtin) em diregao a pressupostos modernistas relativos &
organizagao darealidade social contempordnea. Isto envolverd tanto alteragoes
de certos parametros relativos 4 maneira pela qual os sujeitos etnogréficos so
construidos analiticamente enquanto sujeitos, quanto uma alteragio na natureza
da intervencdo tedrica que o etnégrafo ou a etndgrafa utiliza no texto que cria.
Esta dualidade de alteragdes, enquadrando tanto 0 observador comoo observado,
€ completamente compativel com os niveis simultineos trabalhados nas
perspectivas modernistas -0 escritor compartilha das condides de modernidade
e pelo menos de algumas identidades com os objetos de sua pesquisa, e nenhum
texto pode se desenvolver sem registrar isso de algum modo.
Assim, trés requisites tratardo da construgdo dos sujeitos de uma etnografia
através da problematizagao da construgao do espago, do tempo ¢ da perspectiva
ou voz numa etnografia realista. Além disso, tr€s requisitos tratario das
estratégias para estabelecer a presenga analitica do etndgrafo (ou da etnégrafa) no
seu texto: a apropriagio dialégica de conceitos analiticos, a bifocalidade ¢ a
justaposigio critica das possibilidades. Estes requisitos nao sio de modo algum
-203-
MARCUS. George. Identidades, passadas, presentes © emergentes: requisitos para etnografias sobre a
‘modernidade no final do século XX a0 nfvel mundial.
exaustivos, ¢ no existe necessariamente nenhuma etnografia que empregue de
forma satisfatéria um ou todos eles. Estou especialmente interessado em analisar
como se cria um texto especialmente modernista em cada trabalho que tenta
mostrar de que modo identidades especificas se criam a partir de turbuléncias,
fragmentos, referencias interculturais e a intensificagao localizada das possi-
bilidades e associagbes globais.
REQUISITOS
Redefinir 0 observado
1. Problematizar 0 espago: uma ruptura com 0 conceito de comunidade da
etnografiarealista.O conceito de comunidade, no sentido cléssico de valores,
identidade ©, portanto, cultura compartilhados, foi baseado literalmente no
conceito de localidade de modo a definir uma referéncia bésica que orientasse a
etnografia. As conotagées de solidez e homogeneidade relacionadas comanogio
de comunidade (seja esta concentrada num local ou dispersa) foram substituidas,
nos estudos das modemidades, pela idéia de que a produgio localizada de
identidade — de uma pessoa, de um grupo, ou até de uma sociedade inteira~ no
depende apenas ¢ nem principalmente das atividades observaveis concentradas
¢m uma localidade especifica, ou em uma didspora.
A identidade de alguém, ou de algum grupo, se produz simultaneamente
‘em muitos locais de atividades diferentes, por muitos agentes diferentes que tém
em vista muitas finalidades diferentes. A identidade de alguém no local onde
mora, entre vizinhos, amigos, parentes ou pessoas estranhas, é apenas um dos
contextos sociais, e talvez nem seja o mais importante na formagao de uma
identidade. Uma abordagem etnogréfica modernista da identidade requer que
este processo de dispersdo da identidade em muitos lugares de natureza diversa
seja apreendido. Evidentemente, tal requisito apresenta novos problemas, alguns
muito dificeis, no que se refere & metodologia de pesquisa ¢ & representagio
textual na ctnografia. Mas captar a formago da identidade (na realidade,
identidades miiltiplas) num momento especifico da biografia de uma pessoa ou
da hist6ria de um grupo de pessoas através da configuragio de locais ou
contextos de atividade muito diferentes significa reconhecer tanto os poderosos
impulsos integrativos (racionalizadores) do Estado e da economia na moder-
nidade (¢ as inovagbes tecnolégicas que atuam constantemente, dando forga a
estes impulsos), quanto as conseqiientes dispersdes do sujeito - pessoa ou grupo
-204-
Revista de Antropologia. Séo Paulo, USP, n. 34, 1991, pp. 197-221.
= nos fragmentos miltiplos e sobrepostos de identidade que também sao
caracteristicos da modernidade (ver Marcus, 1989). As questes que neste
“processamento paralelo" da identidade em muitos lugares cabe colocar séo:
quais so as identidades que se aglutinam, e em quais circunst4ncias? Quais se
tornam definidoras ou dominantes, e durante quanto tempo? De que modo o jogo
das conseqiiéncias imprevistas afeta o resultado final na fusdo que dé origem &
identidade diferenciada (salient) neste espago da construgio miiltipla e do
controle disperso da identidade de uma pessoa ou de um grupo?
Qual a natureza da politica que controla a identidade num dado espago ou
entre espacos, talvez especialmente no lugar em que a identidade, num sentido
literal, seja a cristalizagao de um ator ou de um grupo humano especifico? A
diferenca ou diversidade cultural resulta, neste caso, nfo de alguma luta
localizada pela identidade, mas de um proceso complexo que se desenrola em
todos os lugares nos quais as identidades de um individuo ou um grupo em
qualquer lugar se definem simultaneamente. © desafio colocado a etnografia
modernista esté justamente em conseguir captar a formacdo de identidade
especificas através de todas as suas migragées e dispersdes. Como se vé, esta
visio de uma identidade multilocalizada e dispersa reestrutura e complexifica,
Portanto, o plano especial no qual a etnografia tem operado conceitualmente até
aqui.
2. Problematizar 9 tempo: uma ruptura com o conceito de historia da etnografia
realista, Nao se trata de uma ruptura com a consciéncia histérica, nem com um
penetrante senso do passado do local ou conjunto de locais investigados pela
etnografia, mas sim com a determinagio hist6rica como contexto principal para a
explicagéo de todo presente etnogréfico. A ctnografia realista tomou-se depen-
dente e, até certo ponto, revitalizou-se gracas & incorporacdo &s metanarrativas
hist6ricas ocidentais j4 existentes. Em contraste com o periodo classico do
desenvolvimento da etnografia na antropologia anglo-americana, hd hoje um
esforgo real no sentido de ligar 0 espaco localizado em que sdo feitas as
detalhadas observacées emogréficas ao curso da historia, que pode explicé-lo
Jevando em consideracdo as origens. Este esforco se faz ndo no sentido genético
da antropologia mais antiga, mas com vistas a construgdo da etnografia no
quadro da narrativa historica.
A etnografia modernista ndo € tao otimista assim com relagao & alianga
entre a histéria social convencional ¢ a etnografia. O passado que continua
presente é construido a partir da memoria, que € 0 agente fundamental da
etno-historia. Numa etografia modernista, a meméria coletiva e individual, nos
-205-
MARCUS. George. Identidades passadas, presentes e emergentes: requisitos para etnografias sobre
‘modernidade no final do-século XX ao nfvel mundial.
seus miltiplos sinais e expresses, & tomada de fato como prova do
auto-reconhecimento, ao ntvel local da identidade. Ainda que o significado da
meméria como agente vinculador e como processo que relaciona a histéria com a
formagio da identidade tenha bastante aceitagéo junto aos etnégrafos
‘contempordneos, uma reflexao analitica e metodolégica sobre a meméria ainda
nao se desenvolveu. Contudo, é mais um fendmeno difuso da modernidade que
permite a compreensio dos processos de diversidade que se derivam, nio de
tradigdes cnraizadas ou da vida comunitaria, mas da sua emergéncia no seio de
outras associagées que se processam na memoria coletiva ¢ na individual. A
dificuldade de captar a meméria de forma descritiva enquanto proceso social ou
coletivo, na modernidade, esté relacionada com a inadequagio do conceito de
comunidade no que se refere & conceitualizagao do plano espacial da etnografia,
como apontado acima. A erosdo da distin¢ao publicofprivado na vida cotidiana
(Sobre a qual se constr6i a comunidade nas narrativas ocidentais), aliada ao
deslocamento — na era da informdtica — da oralidade e da narragdo de estdrias
Para outra funcéo além da sua fungio original de reserva de memoria (tida
também como condigao da vida na comunidade, como concebida originalmente),
tornam a compreensto e descrigdo de qualquer "arte de memorizar"”
especialmente problemdtica na modernidade. A meméria coletiva tende a passar
com mais facilidade através da memoria individual ¢ da autobiografia encravada
na comunicagio difusa entre as geragdes do que através de quaisquer espetdculos
nas arenas publicas, cujo poder depende mais de referéncias ironicas ao presente
(ou ao que estiver emergindo) do que a exortagées mais ou menos sutis do valor
do ato de lembrar.
As representagées coletivas so, portanto, filtradas de modo mais eficaz
através das representagdes pessoais, Ao compreender isto, a etnografia
modernista transforma a preocupacao convencional realista com a histéria, uma
vez que penetra, exprime ¢ até determina as identidades sociais de um local num
estudo que € sindnimo de preocupacao com a propria construgio de identidades
pessoais ¢ coletivas. E provavelmente com a produgio de autobiografias, na
medida em que este género tem emergido com uma presenga renovada,
especialmente com um foco predominante na etnicidade (ver Fischer, 1986), que
podem ser melhor avaliadas as experiéncias hist6ricas carregadas na memoria ¢
que determinam a forma de movimentos sociais contempordneos.
A volta de um "presente etnogréfico" (ethnographic present), embora
muito diferente daquele da antropologia funcionalista cldssica de sociedades
tribais tradicionais (que ignorava a hist6ria), 6 portanto, um desafio na
construgdo do contexto temporal nas etnografias modernistas. Trata-se de um
-206-
Revista de Antropologia. Sto Paulo, USP, n. 34, 1991, pp. 197-221.
presente que tampouco € definido pela narrativa hist6rica, mas sim pela meméria,
Com suas proprias narrativas e sinais, ou seja, por uma "arte de meméria",
sindnimo do processo fragmentado de construgio da identidade em qualquer
lugar. Um presente cujas formas sociais especificas sio dificies de captar ou
mesmo ver de uma perspectiva etnogréfica que, por isso mesmo, coloca uma
problemdtica diversa a ser explorada na produgdo de obras modernistas.
3. Problematizar a perspectivalvoz: uma ruptura com o conceito de estrutura da
etnografia realista. A etnografia se abriu para uma compreensao da perspectiva
como "voz", justamente no momento em que a metéfora determinante, distin-
tamente visual, de estrutura, esté sendo colocada em questo. Embora 0 conceito
de estrutura (isto é, estrutura no sentido de estrutura social presente na realidade
empirica e derivada de padrées de comportamento observados, ou estrutura no
sentido de significados sistematicos subjacentes, ou cdigos que organizam a
linguagem e os discursos sociais) possa de fato continuar a ser indispensdvel na
construgio de descrigdes relativas aos temas abordados mesmo numa etnografia
modemista, 0 peso analitico do relato se destoca para uma preocupagio com
perspectiva enquanto "voz", enquanto discurso integrado ao enquadramento ¢ &
condugio de um projeto de investigagio etnografica.
Em parte, isto resultou de um questionamento quanto a adequagio da
andlise estrutural de qualquer tipo para captar a diversidade intracultural em toda
a sua complexidade. O etndgrafo que buscava representar a realidade como
estando organizada pela operacionalizagao de modelos ou codigos culturais
(geralmente um s6 modelo-chave ou central) ¢ a transformagio mais ou menos
ordenada de seus componentes viu-se diante de um problema wittgensteiniano do
tipo "familia de semelhangas", Controlar 0 contexto ¢ registrar empiricamente a
composigao atual de fluxos de associagdes presentes nos dados relativos ao
discurso significou questionar a adequagao dos modelos estruturais ou semisticos
para dar conta das associagdes que nao se deixam assimilar por modelos de
dimensées limitadas.
Em parte, a alternativa modernista da "vor", implicita na aceitagio da
montagem da polifonia como problema ao mesmo tempo de representagao e de
andlise, deveu-se provavelmente tanto a alteracdes na ética do‘empreendimento
etnografico quanto a uma insatisfagio quanto a andlise estrutural de fendmenos
culturais.
Tais mudangas decorrem de uma sensibilidade aguda voltada para a
apreensio das dialdgicas, de todo 0 conhecimento antropolégico, que tm sido
-20
MARCUS. George. Identidades passadas, presentes ¢ emergentes: requisitos para etnografias sobre a
modemnidade no final do século XX 20 nfvel mundial.
transformadas ¢ ofuscadas pelos processos complexos da escrita (que dominama
elaboragao de projetos etnogrificos desde o campo até 0 texto) ¢ das relagdes
diferenciais de poder que dao a forma final aos meios e modos de representacao
do saber. Aqui quero apenas comentar este deslocamento da perspectiva da
diferenga analitica presente na maneira pela qual uma etnografia modernista cria
seu conceito de tempo, independentemente da avaliagdo das possibilidades de
‘sucesso na representago da voz ¢ da sua diversidade de modo tanto ético quanto
competente.
No tipo de andilise cultural desenvolvida por Raymond William (1977), a
estrutura de sentimentos (0 uso de “estrutura” aqui € bastante idiossincratico)
seria a meta da etnografia centrada naquilo que emerge em um cendrio social a
partir da interacdo entre, de um lado, formagées bem definidas e formacées
residuais (estas tltimas podendo ser sistemas de relagdes sociais no sentido
briténico de estrutura, mas referindo-se, também, a modalidades possiveis ©
estabelecidas de discurso) e, de outro, aquilo que nao é bem articulado aos
Sujeitos ou ao pesquisador. Torné-lo mais "dizivel/visivel” é uma das fungdes
criticas da etnografia. Uma etnografia modernista construfda neste espirito, ao
reconhecer propriedades do discurso tais como dominancia, residualidade €
emergéncia (ou possibilidade), poderia mapear as relacdes entre estas
propriedades em qualquer lugar onde se desenvolvesse- a pesquisa, nao através de
apropriagdes estruturais imediatas das formagées discursivas, mas pela
exposigio, tanto quanto possivel, da qualidade das vozes por meio de categorias
metalingiiisticas (tais como narrativa, figuras de linguagem etc.). As vozes néo
so vistas como produtos de estruturas locais, baseadas apenas na comunidade ¢
hha tradiggo, nem como fontes privilegiadas para a definigao de perspectivas, mas
como produtos de conjuntos complexos das associagdes e experiéneias que as
constituem.
Realizar esta redefinigio do foco da etnografia, pasando da "estrutura”
para a "voz/discurso", requer que se tenha concepgées diferentes da relagao entre
0 observador e 0 observado, que ora examinaremos.
Refazer 0 observador
Nao se deve esquecer que, enquanto uma avaliagéo mais complexa da dinamica
da formacao da identidade ¢ o objeto das estratégias modemnistas na reconstrugao
do observado, as estratégias paralelas da redefinigio do observador sao igual-
mente voltadas para a dinAmica da formagio da identidade do antropélogo em
relagdo A sua prética da etnografia.
—208-
Revista de Antropologia. Sho Paulo, USP, n. 34, 1991, pp. 197-221.
4. A apropriagéo, através do didlogo, do aparato conceitual de um texto, A
etnografia realista foi muitas vezes construfda em torno de uma exegese intensiva
de um simbolo ou conceito indigena chave, extraido de seus contextos
discursivos para serem af reinseridos de acordo com as exigencias do esquema
analitico adotado pelo etnégrafo. Desta técnica central de organizacao ¢ andlise,
to comum nos relatos etnogréficos, tem dependido grande parte da producdo no
campo da etnografia cultural recente. A avaliacdo profissional do mérito de um
trabalho etnografico especifico muitas vezes baseia-se na qualidade ¢ profun-
didade de tais exegeses.
De certo modo, a colocacdo da exegese no cerne da etnografia é uma
tentativa de reconhecer e privilegiar os conceitos ind{genas € ndo os do antro-
pologo.
Além disso, tais conceitos nucleares acabam por agir como uma sinédoque
da identidade —cles representa um sistema de significados, a identidade que um
Povo passa a ter na literatura antropoldgica e, as vezes, além dela. A vinculagéo
de um relato a conceitos, mitos ¢ simbolos especificos tende assim a impor uma
identidade a um povo, entendida como a contribuigéo (ou a “praga”) da
antropologia.
Uma modificacao proposta pela etnografia modemista ¢ transformar esta
em umexercicio plenamente dialégico, no qual a exegese se baseia na etnografia
enaestrutura de andlise, de modo a nascer de pelo menos duas vozes em didlogo.
Neste processo bésico de tradugao cultural (uma das metéforas mais apreciadas
na caracterizagio da tarefa interpretativa da etnografia), a finalidade nao ¢ tanto
mudar 08 conceitos ind{genas (responsabilidade dos interlocutores do antro-
p6logo), mas alterar os conceitos do préprio antropélogo. Em nenhuma
etnografia que eu conhego (a nao ser talvez no livro do Kamo de autoria de
Maurice Leenhardt, ¢ aqui 0 projeto etnogréfico ¢ completamente redefinido) a
tarefa exegética central leva A recriagdo de conceitos no aparato do discurso
social teérico. Por exemplo, face ao esgotamento aparente de nossos conceitos
para mapear as realidades do final do século XX, Frederic Jameson (1987: 37)
responde assim numa entrevista:
"Pergunta: E dbvio, no entanto, que o discurso pés-modemista torna dificil
fazer afirmagies a respeito do todo.
—209-
MARCUS. George. Identidades passadas, presentes © emergentes: requisitos para etnografias sobre a
modernidade no final do século XX ao nfvel mundial.
F. J: Uma das maneiras de descrever isto seria como uma modificagao da
natureza mesma da esfera cultural: perda da autonomia da cultura, uma
cultura especifica que ‘cai’ no mundo. Como vocé diz, isto torna muito
mais dificil falar de sistemas culturais ¢ avalid-los isoladamente.
Um problema teérico completamente novo € colocado. Pensar simul-
taneamente de forma negativa e positiva a respeito disto é um comego, mas.
precisamos de um vocabuldrio novo. As linguagens que tém sido titeis para
falar sobre cultura ¢ politica no passado nao parecem realmente adequadas
aeste momento histérico.”
De onde surgird este vocabuldrio, para o bem da teoria social ¢ da cognicéo
ocidentais? Talvez de uma reformulacdo da tradugdo de conceitos a ser levada a
cabo no cere de etnografias realistas. Talvez momentos de exegese, de
definigées no seu contexto, possam ser substituidos pela exposigao de momentos
de didlogo € 0 uso na revisio pelo etnégrafo de conceitos familiares que definem
68 limites anal{ticos do seu trabalho ¢ do discurso antropolégico de forma mais
geral, Tal mudanga abriria 0 campo de discussio sobre as etnografias para
intelectuais. orginicos (para usar o termo de Gramsci) e para leitores dentre os
préprios objetos das etnografias onde isto for poss{vel.
A exegese modernista, que se distingue por sua vinculagéo ao reconhe-
cimento de seu caréter dial6gico, se toma uma operacéo intensamente reflexiva.
Enquanto o etnégrafo explora os processos de mudanga de identidade dentro de
um contexto etnogréfico especifico, altera-se também a identidade dos préprios
conceitos. O processo de construir uma andlise pode assim assumir ¢ acompanhar
paralelamente aspectos do proceso que descreve. O desafio maior aqui ¢ 0 de
saber se uma identidade pode ser explicada em termos de um discurso de
referéncia quando varios discursos entram em cena, inclusive, com nao menor
importincia, 0 diflogo do etndgrafo com outros sujeitos especificos. Esta
atividade pode ser representada textualmente de varias manciras, mas a inovagéo
modemista prende-se ao fato de que a identidade do modelo tedrico utilizado
pelo etnégrafo no deve permanecer intacta, "sélida", se a identidade do objeto
da pesquisa "desmancha no ar". Isto leva & consideracdo do caréter bifocal de
todo projeto de pesquisa etnogréfica, um cardter que € ressaltado pelo significado
modernista do real: 0 mundo, de modo geral, mas também intimamente, estd se
tornando mais integrado, mas isto, paradoxalmente, nao esta levando a uma
totalidade facilmente compreensivel. Muito pelo contrario, leva a uma diver-
-210-
Revista de Antropologia. Sho Paulo, USP, n. 34, 1991, pp. 197-221.
sidade cada vez maior das conexdes entre fendmenos, antigamente concebidos
como dispares ¢ pertencendo a mundo separados.
5. Bifocalidade. Olhat em pelo menos duas diregées, a partir de uma dimensdo
comparativa, sempre foi um aspecto mais ou menos implfcito de qualquer projeto
etnogréfico. Na modernidade global cambiante do século XX, ¢ & qual a
antropologia esteve engajada quase desde o seu inicio, a contemporaneidade do
etnégrafo com o Outro, objeto da pesquisa, tem quas¢ sempre sido negada
(Fabian, 1983). De fato hé toda uma hist6ria, na etnografia, referente ao
desenvolvimento de uma justaposigéo critica e explicitada entre o mundo do
etnégrafo € 0 mundo do Outro como objeto, mas tem prevalecido a construgéo de
mundos separados ¢ diferentes no modo pelo qual tais justaposigées tém sido
analiticamente feitas. Apenas na recorrente critica interna da relagdo entre a
antropologia e 0 colonialismo ocidental € que tem sido discutida a relagéo
histérica totalmente obscurecida entre a sociedade ¢ as praticas do antropdlogo e.
as do objeto sob dominagéo colonial.
Agora que a modemnidade ocidental tem sido reconceitualizada como um
fenémeno global e totalmente transcultural € que o tratamento explicito da
bifocalidade dos relatos etnogréficos esté transgredindo explicitamente os
mundos distanciados, baseados na distingdo "ndés-cles", que haviam sido
previamente construidos. Em outras palavras, € provavel que a identidade do
antropélogo ¢ do seu mundo esteja profundamente relacionada com 0 mundo
especffico que est4 estudando, qualquer que seja a cadeia de conexdes ou
associagdes que os une. Apenas a reconstrugio modemista do observado,
esbocada na segdo anterior, contudo, torna possivel esta revisao do cardter bifocal
da etnografia. Por exemplo, a multilocalidade dos processos de identidade,
cruzando vérios nfveis das divisées convencionais da organizagéo social — 0
caminho do transcultural -, cria uma mutualidade de implicagées para processos
de identidade que ocorrem em todo sitio etnografico. A cadeia de vinculos
hist6ricos ou atuais preexistentes que liga 0 etnégrafo aos objetos de sua
investigacao pode ser grande ou pequena, fazendo com que a bifocalidade seja
tanto uma questio de valor, quanto um dado circunstancial relativo até mesmo a
Tazoes pessoais ¢ autobiogréficas que impulsionam 0 empreendimento de um
projeto especifico. Mesmo assim, a sua descoberta e 0 seu reconhecimento
continuam sendo uma caracterfstica definidora da sensibilidade modernista atual
no campo da etnografia. A simples demonstragao de tais vinculos ¢ afinidades ¢ a
justaposigio de dois dilemas de identidade criados pelo proprio projeto do etnd-
grafo permanecem como uma afirmagdo critica que contraria os esforgos
convencionais no sentido da defesa de mundos distanciados com determinagées
independentes, apesar do entendimento modernista segundo o qual a integragéo
-211-
MARCUS. George. Identidades: passadas, presentes © emergentes: requisitos para etnografias sobre a
modemnidade 06 final do século XX so afvel mundial.
global se d4 por caminhos que séo de natureza tanto transcultural como tecno-
l6gica, politica e econdmica.
6. Justaposigées criticas e consideracdo de possibilidades alternativas, A fungao
de uma etnografia modemista € principalmente fazer a critica cultural, nao
apenas dos instrumentos da disciplina (através de uma alianca intelectual com 0
objeto da pesquisa) ou da sociedade do etnégrafo (que, dadas as condigées de
integragdo global crescente, ¢ sempre relacionada bifocalmente com 0 local da
atengdo etnografica, tanto por meio de processos transculturais quanto da pers-
pectiva, ou melhor, retrospectiva histérica), mas também a critica cultural das
condigdes internas a0 local do enfoque: etnogrdfico: 0 mundo localizado que a
etnografia retrata. Considerando 0 compromisso geral das etnografias moder-
nistas de explorar a gama completa de possibilidades de identidades ¢ suas
expressées complexas através da voz numa dada situacdo, a realizado desta
exploragéo se tora também uma forma bésica de critica cultural. Este
movimento é, de fato, a voz especifica ¢ comprometida do etndgrafo presente no
seu texto, ¢ funciona a partir da atitude critica que julga que as coisas, como sao,
no precisaram ou nfo precisam ser como so, dadas as alternativas detectiveis
nas situag6es: sempre h4 mais possibilidades, outras identidades etc. do que
aquelas que acabam sendo realizadas. Explorar através de justaposigGes todos os
resultados reais e possfveis ¢, em si, um método de critica cultural que se
contrapée & nogéo de situacdo dada ¢ a sua definigdo em termos de identidades
dominantes que poderiam, de outra forma, serem mal interpretadas como
modelos competentes dos quais decorrem todas as variagées. O tratamento
modemista da realidade permite, antes, que sejam considerados os indicios dos
‘caminhos que nio foram trilhados ou as possibilidades que nao foram exploradas.
Com efeito, este tipo de experiencia de pensamento critico, incorporado &
etnografia, em que realidades e possibilidades so colocadas analiticamente em
didlogo, poderia ser encarado como quase utépico ou nostalgico, ndo fosse por
sua dependéncia maior de uma documentagao que comprove que estes caminhos
tém uma vida prépria, por assim dizer, ¢ que sao partes integrantes dos processos
de formagao das identidades, inclusive aquelas que aparentam ser definidoras ou
dominantes. O esclarecimento destas possibilidades em contraposigao as con-
digdes objetivasdefinidoras, nos limites dosdiscursosefetivamentesignificativos
no contexto de uma dada situagdo, constitui a intervencaoe contribuigao criticas
por exceléncia que o etndgrafo pode fazer e que o distingue dos outros pro-
—212-
Revista de Antropologia. Sto Paulo, USP, n. 34, 1991, pp. 197-221.
Na linha dos requisitos j4 esbogados para uma etnografia modernista, os
diversos tipos de trabalhos atuais que poderiam ser identificados como
modemistas compartilham uma atitude experimental que influi na anélise ¢ na
elaboragao do texto exatamente naqueles momentos em que se precisa explicar
como a estrutura se articula com as experiéncias reflexivas explicitadas pelo
autor; como 0 global se articula com 0 local; ou, como se costuma dizer
atualmente, de que modo as identidades se formam na simultaneidade da relagao
entre niveis de vida ¢ organizagao sociais (isto ¢, a coexisténcia — coevalness, nos
termos de Fabian, 1983 — do Estado, da economia, da midia internacional da
cultura popular, da regiéo do local, do contexto transcultural, do mundo do
etndgrafo ¢ 0 dos seus objetos, tudo ao mesmo tempo).
Em tais obras, 0 que torna estas operagées diferentes e mais ousadas do
que, por exemplo, o trabalho de Anthony Giddens, um tedrico que também se
Preocupa muito com o mesmo problema geral, ¢ que, nos pontos de articulagéo
que acabamos de notar, elas descartam, ou esto abertas 4 possibilidade de
descartar, uma imagem de estrutura para integrar os scus trabalhos. Ao
compreender 0 jogo de estruturas e de conseqiiéncias ndo intencionais na
formagio de quaiquer dominio ou cendrio da vida social, elas prescindem de uma
teoria da estrutura enquanto fator de integragéo como determinante de um
Proceso, como faz Giddens na sua resolugio do problema de estrutura ¢ agéo
através da nogdo da estruturagdo. E justamente neste ponto tedrico de seus relatos
que a relagao entre mundo e experiéncia, texto ¢ realidade, estrutura ¢ agdo
permanece problemética, de tal maneira que nenhuma das solugdes propostas
Pelas teorias sociais, dadas ou tradicionais, conseguem impor ordem naquilo que
no esté ordenado.” Aqui, entéo, no local da articulagao, onde o global ¢ 0 local
se entrelagam sem referéncia fundamental a uma cultura determinante ou a uma
hist6ria que j4 passou, reside o problema experimental principal de uma
etnografia modernist. Aqui também existe a possibilidade de tratar os assuntos
considerados 0s mais profundos na teoria social tradicional como problemas de
forma, nos quais artificios conceituais e imaginagéo descritiva enfrentam os fatos
da mintcia cinogréfica.
EXEMPLOS
Hoje em dia, hé um fluxo constante de trabalhos etnogréficos sendo
produzidos que poderiam, cada um 4 sua maneira, ser tomados como exemplos
de uma ou mais estratégias modernistas elaboradas neste trabalho. A maioria nado
se apresenta como experimentos ou como tendo por objetivo a experiéncia.
-213—-
‘MARCUS. George. Identidades passadas, presentes © emergentes: requisitos para etnografias sobre
modernidade Bo final do-século XX ao nivel mundial. a meee
Antes, exibem aspectos ou dimensdes mais ou menos bem desenvolvidos,
que realizam um movimento em diregéo a uma etnografia modernista tal como eu
a concebo. Por isto, tais obras so interessantes para os fins deste artigo,
independentemente do grau de sucesso que teriam em avaliagdes que utilizam
critérios e concepgées tradicionais (ver Marcus ¢ Chushman, 1982).
Outras obras contemporneas sio interessantes pelo simples fato de
reconhecerem a existéncia de possibilidades alternativas para 0 desenvolvimento
dos seus projetos, além daquelas que realmente elaboram. Estes reconhecimentos
so geralmente encontrados nos "espagos” reflexivos cada vez maiores nas
etnografias atuais: rodapés, relatos de casos pitorescos, prélogos, apéndices,
epflogos ete. Learning to Labour (19716), de Paul Willis, & um exemplo pioneiro
deste artigo de trabalho no campo desta tendéncia atual das etnografias
modernists. Este estudo da génesc ¢ da consolidagio de uma identidade de
classe trabalhadora entre rapazes néo conformistas de uma escola primédria
inglesa € muito tradicional na sua ret6rica e desenvolvimento (a etnografia € um
método de colher ¢ constituir dados a partir dos quais constrdi-se, entao, a
anélise), mas é também muito sens{vel e autocritico quanto ao que nio é
colocado, dada sua forma de construgdo, Nas suas margens (nos rodapés, apartes
e num posfécio), h4 um tipo de “negativo" do texto que eu encararia como um
prélogo para um esforgo mais experimental. Por exemplo: mesmo enfocando
exclusivamente um grupo especifico de rapazes da escola, Willis deixa claro que
a génese da cultura de classe deveria incluir varios cendrios de atividades, e que a
resisiéncia A cultura capitalista, manifestada na experiencia escolar entre os
rapazes néo conformistas, deveria ser justaposta ao mesmo processo mas entre
outros estudantes entre os quais estivesse emergindo uma outra identidade de
classe.
Ele reconhece, portanto, o desafio que estaria em desistir da natureza
excessivamente circunscrita espacialmente, caracteristica das etnografias
convencionais, sem, no entanto, aceité-lo.
Assim, relacionar 0s requisitos j4 esbocados com exemplos especificos da
etnografia contemporanea nao € tanto um exercicio classificatério (que de toda
maneira nao poderia ser realizado de forma mecdnica ou com qualquer preciso),
mas um parimetro para documentar, interpretar e argiiir de forma cocrente a
respeito da ampla gama de movimentos que se faz na construgéo de obras que
divergem marcadamente do projeto tradicional, objetivista ¢ realista, da
etnografia como cere da pratica antropolégica. Como tal, os requisitos que
propus séo tanto uma maneira de perceber a originalidade presente nas
-214—
Revista de Antropologia. Sko Paulo, USP, a. 34, 1991, pp. 197-221.
etnografias contem- poraneas quanto um convite para que repensemos modos em
que possam estar escritas.
Se, ao escrever este trabalho, eu precisasse selecionar textos exemplares,
estes poderiam ser Debating Muslims: Cultural Dialogue in Postmodernity and
Tradition (n.d.), de Fischer e Abedi, Anathropology through the Looking Class:
Critical Ethnography in the Margins of Europe (1987), de Herzfeld, Legends of
People Myths of State, Violence, Intolerance and Political Culture in Scri Lanka
and Australia (1988), de Kapferer, Pasteurization of France (1988), de Latour,
French Modern: Norms and Forms of the Social Environment (1989), de
Rabinow, Solo in the New Order: Language and Hierarchy in an Indonesian
Town (1986), de Siegel ¢ Shamanism, Colonialism and the Wild Man: A Study in
Terroe and Healing (1987), de Taussing. Espero que o leitor se sinta estimulado a
examinar estes textos para julgar por si mesmo as possibilidades de classifi-
cé-los como realizagdes de uma ou mais estratégias modemistas que propus.
Além disso, espero que este exercicio possa levar 0 leitor a refletir sobre outros
exemplos ainda mais apropriados, mais elaborados e mais sofisticados dentre
aqueles com 0s quais tenha familiaridade.
NOTAS CONCLUSIVAS
Significados diferentes da contextualizagdo e da comparacéo na etografia
modernista
A etnografia, realista ou modernista, fornece a interpretagdo ou a expli-
cacéo através de estratégias de contextualizagao dos fenémenos problematicos
que enfoca. Vendo como algo que existe com base em um conjunto de relagées, 0
entendemos. A ctnografia realista contextualiza com referénciaa uma totalidade
na forma de uma comunidade literalmente localizada, e/ou a um cédigo
semiético enquanto estrutura cultural. O referente da contextualizagéo numa
etnografia modernista, que nega qualquer conceito convencional de totalidade,
so os fragmentos que se arranjam ¢ se ordenam textualmente pelo projeto do
etnégrafo. A justificativa ou o argumento para este projeto constitui, com
freqiiéncia, a dimensao mais convincente da obra modernista. A totalidade que €
mais do que a soma das partes em tais etnografias fica sempre em aberto,
enquanto as partes so sistematicamente relacionadas umas com as outras por
uma légica de conexdes que ¢ revelada.
-215-
MARCUS. George. Identidades passadas, presentes © emergeates: requisitos para etnografias sobre a
modernidade no final do shculo XX ao afvel mundial,
‘Uma vez que os textos modernistas no se constroem sobre a idéia de
mundos pequenos em si — de uma comunidade ou um locus auténomo €
espacialmente distinto de atividade social —, eles, em contraste com as etnografias
realistas, esto conscientes das dimensGes comparativas que sao inerentes & sua
concepgéo ¢ freqiientemente as incorporam em seus projetos de andlise. Uma
etnografia realista geralmente se desenvolve como um caso potencial para
comparagéo controlada dentro de uma rea geografica, onde a sintese
comparativa de casos constitui uma tarefa especifica e especializada, Por
contraste, a comparagao € inerente & andlise e & argumentagio nas etnografias
modemistas, porque elas estudam processos que entrecortam estruturas de tempo
¢ espaco de maneiras que seriam consideradas no controldveis pela perspectiva
geogréfica tradicional. Com as revisdes modernistas das dimens6es: temporais
espaciais que discutimos acima, ao falar da redefinicao do observado, a justa-
posicao comparativa de fragmentos dispares, mas inter-relacionados do passado e
na meméria, ¢ de espagos localizados de atividade social no espaco,
tomnou-se uma técnica de andlise fundamental nestes trabalhos. Além disso, como
apontamos na discussio sobre a redefinigéo do observador, as etnografias
modernistas tendem a destacar a bifocalidade comparativa que, embora inerente
a todas as etnografias, fica subentendida na maioria das vezes. Finalmente, a0
realizar uma experiéncia mental de intervengdo critica, a etnografia modernista,
também através de justaposi¢ées, compara os varios discursos e construgaes de
identidade que estéo presentes (dominantes, residuais, possiveis ¢ emergentes)
em todo local em que desenvolve estudos. Assim, hé pelo menos trés sentidos em
que a andlise comparativa presente em um tinico projeto etnografico modernista
diverge claramente dos projetos de andlise comparativa que séo exteriores em
relagio a qualquer realista, ¢ nos quais esta iltima pode eventualmente ser
inlegrada.
O uso construtivo da desconstru¢do na etnografia modernista
A nocéo geral ce desconstrucio derivada da obra de Derrida (que nos
chegou através de varios comentarios ¢ aplicagées como parte de um capital
intelectual compartilhado) ¢ especialmente stil ao projeto modemista de estudo
elnogréfico de formagio de identidade, uma vez que este processo, 20 nivel
‘empitico, parece exibir as caracteristicas basicas de um processo critico
desconstrutivo em agdo. Construfda ¢ sempre se deslocando dentro de uma rede
de locais que constituem fragmentos mais do que qualquer tipo de comunidade, a
identidade € um fendnemo disseminador que possui uma vida propria que vai
além do sentido literal de fazer parte de agentes humanos especificos num dado
—216-
Revista de Antropologia. Sio Paulo, USP, n. 34, 1991, pp. 197-221.
local ou momento. Os seus significados so sempre deferidos num dado
textoflocal a outros focos possiveis da sua produgio, por meio das diversas
associagdes mentais ¢ referéncias com as quais um ator humano pode operar de
forma criativa através, literalmente, das contingéncias dos eventos e, as vezes,
através de uma politica explicita a favor ou contra 0 estabelecimento de
identidades em lugares especificos. Na visio modernista, 0 proceso descons-
trutivo significa a condigéo humana e € uma reafirmagéo elaborada de um senti-
mento modemista famoso de Marx — tudo que ¢ solide desmancha no ar,
Contudo, a potencialidade para um jogo infinito de signos existe, e poderia
ser explorada pelo analista para quaisquer finalidades criticas, mesmo quando
alguns sujeitos humanos gostariam que parasse. (Por exemplo, um derrideano
poderia querer mostrar que a idéia de que uma identidade possa ser fixada através
da vontade propria € uma auto-ilusdo, por mais conveniente ou satisfatéria que
possa parecer. Faria isto ao continuar brincando com a demonstragio da
disseminagdo sem fim.) No entanto, as identidades parecem se estabilizar €
conseguem. resistir 4 condigéo modernista de migragdo e disseminagao em
situagées, tanto de grandes tragédias (violencia racial) como de liberagio
(nacionalismo surgindo do colonialismo). Documentar a estabilizago das
identidades num dado local ou através de varios locais num mundo essen-
cialmente desconstrutivo € uma das tarefas principais de toda etnografia. A
etnografia modernista apenas afirma que tal resisténcia na luta para estabelecer
uma identidade nao depende de uma nostdlgica pedra fundamental da tradigao ou
da comunidade, mas surge, criativamente, das mesmas condigées des construtivas
que ameacam desintegré-la, desestabilizar 0 que j4 foi conquistado.
O tratamento dado ao poder e a ética numa etnografia modernista
Nas discussdes elaboradas ¢ programaticas deste trabalho, no que se refere
& estrutura de uma etnografia modernista, havia poucas referencias diretas ao
poder, a luta de classe, a desigualdade ¢ ao sofrimento que foram 0 motor da
historia. Mas as estratégias modernistas, voltadas para os problemas dla descricéo
da formago de identidades em localidades contemporaneas onde se realiza a
pesquisa etnografica, esto, de fato, tio claramente direcionadas para os proces-
sos de contestagio, luta etc. entre discursos oriundos de circunstancias politicas €
econdmicas objetivas, que isto n4o precisaria ser colocado.
Longe de ignorar "condigées objetivas" tais como processos de coergéo, 0
jogo de interesses ¢ a formagao de classes, o enfoque daetnografia modernista no
-217-
MARCUS. George. Identidades passadas, preseates ¢ emergentes: requisites para etmografias sobre a
‘modernidade no final do sécalo XX ao nfvel mundial.
experimental ¢ no acesso & experiencia através da linguagem em contexto da a
ela condigdes para um engajamento direto e para a explorago de tais condicoes,
sem que tenha que recorrer a abordagens preexistentes nas ciéncias sociais para
discuti-las.
As estratégias modernistas na etnografia se articulam com as idéias
foucaultianas e gramscianas quanto as representagoes das relacées de poder nas
cognigdes culturais, ideologias e discursos (entendidos aqui como "vozes"). No
que se refere as preocupagées da economia politica com o funcionamento de
estados, mercados ¢ capacidade produtiva, tais estratégias procuram revelar
criticamente as vozes/alternativas presentes em todo local onde haja competicao
polftica, ¢ definir culturalmente as politicas ¢ alternativas colocadas ou nao
naquele contexto. O que de mais importante este tipo de etnografia tem a oferecer
6, de fato, a possibilidade de alterar os termos nos quais pensamos objetiva ¢
convencionalmente sobre o poder, através de sua exposicao a discursos culturais.
Embora a etnografia modemista reconhega claramente a histéria das circuns-
tancias politicas ¢ econdmicas nas quais se formaram as identidades, ela nao ¢
construtda explicitamente em torno do conceito de poder e sim do de ética, isto é,
@ complexa relagdo moral entre 0 observador e 0 observado, da relevancia da
situagdo do observado para a situagao da sociedade do observador e, por tiltimo,
a consideragao da finalidade critica que caracteriza a andlise etnografica atual.
Estas preocupagées ¢ticas nunca s¢ resolvem numa ctnografia ¢ revelam os tipos
de contradicdo que, presentes na pesquisa e na redagio de etnografias, tornam 0
etnégrafo vulneravel a criticas sobre sua prépria ética.
No entanto, vale a pena o risco de alguns leitores verem nisto apenas
narcisismo e angustia, uma vez que a formagao de estratégias modemistas através
de uma consciéncia ética (relativa as bases especificas do conhecimento gerado
pela etnografia) ¢ essencial para alcangar, no final do século XX, os abjetivos
tradicionalmente buscados pelo realismo etnogréfico. E isto o que significa a
reconstrug&io modernista do observador e do observado.
NOTAS
(*) Traducto de Dennis Wemer (UFSC) e Ilka Boaventura (UFSC). Revisto técnica: Aracy
Lopes daSilva (USP).
(1) Outras formulagbes recentes desta mesma problemética geral, ev as tenho encontrado por
‘exemplo em Amand, 1987, pp. 22-5; Clifford, 1986, p. 24; Rabinow, 1986, p. 258; ¢ Jameson, 1987,
p40.
-218-
Revista de Antropologia. Sto Paulo, USP, n. 34, 1991, pp. 197-221.
(2) Assim, a meu ver, a tendéncia em rotular a critica que vem atualmente sendo formulada de
antropologia "pés-modema” ou "pés-modernista" € errada. De fato, a natureza da producto artistica
atual ¢ os debates a seu respeito incentivaram muito, durante os dltimos dez anos, 0 gosto dessa
controvérsia nas humanidades ¢ nas cléncias humanas nos Estados Unidos, mas a critica da
etnografia e as experiéncias que decorrem dela nizo podem, de forma alguma, ser identificadas com
um pés-modernismo estético. As provocagées deste sitimo apenas criaram as condigSes para uma
valorizagio, por parte de alguns antropslogos, de estratégias de pesquisa ¢ elaboragio de textos:
baseadas em aspectos do modernismo cléssico repensado ¢ revificado para que pudessem alcancar 0s
mesmos objetivos que antes, definidos em termos bastante tradicionais.
(8) Este jogo [oi facilitado por uma crftica de etnografia feita no estilo ret6rico ¢ literério,
talvez melhor represeatado no volume organizado por Jim Clifford e eu.
(4) © interesse renovado e espectfico pelos determinantes locais da identidade (e, por
cextensio, por quesiées tradicionais como etnicidade, raca e racionalidade) constitui apenas um dos
‘numerosos campos de estudo das ciéncias sociais que estio sendo repensados através de uma
assimilagio, & sua propria mancira, de aspectos do debate atual sobre modemnismo/pSs-modernismo,
Formagio de identidade € a questio que afeta mais diretamente os termos ¢ as metodologias
tradicionais da antropologia. No campo das ciéncias sociais, outras arenas que estio sendo
especialmente influenciadas elas tentativas de descrever um mundo contemporineo
moderno/pés-moderno so 0 planejamento urbano ¢ regional; a emergéncia de processos globais de
produgio pés-fordiana, e a economia politica: a mfdia e as produgSes da cultura de massas; e as crises,
"dos fundamentos" do trabalho de especialistas « académicos em geral (para uma revisto de tais
aplicagies, veja a edigio da revista Theory, Culture and Society, nimero duplo, 1988, sobre
peis-modernismo).
(5) Obviamente, as influentes nogdes elaboradas por Victor Tumer sobre antiestrutura e
liminaridade (1969) estéo relacionadas com o "espago de experimentagio" que delineio aqui. Com
feito, Tuer € um pioneiro deste esplrito contempordneo de experimentagéo, mas a tendéacia
‘antiestrutural” da etnografia modernista ¢ significativamente diversa da nogio semelhante presente
na obra de Tumer. Este nfo tentou descarlar ou teoricamente dissolver a idéia de estrutura. A
liminaridade combinava bem com um esquema mais amplo centrado na ordem ¢ sua definigso
derivava daquele mesmo esquema. A antiestrutura modernista tem uma relagio muito mais incémoda
‘com 08 conceitos de ordem, e € mais radicalmente desconsirutiva desta ordem. Nas experiéncias
atuais, a ordem nfo € tio facilmente distinguivel em termos teGricos € conceituais do processo
descontrutivo (ou desordem). £ na sustentagio persistente da ambigitidade quanto a tais distingSes que
‘uma etnografia modernista mais clarameate se distingue do conceito de liminaridade de Turner, a qual
‘possui a sua propria esfera em contraste com a estrutura,
BIBLIOGRAFIA
Jemeson’s Rhetoric of Othemess and the "National Allegory". Social Text. Fail, 1987: 3-25.
BERMAN, Marshall. Ail That is Solid Melts Into Air: the Experience of Modernity, New York, Simon
and Schuster.
BRIGHT, Charles e GEYER, Michael. For a United History of the Wolrd in the Twentieth Century.
Radical History Review, n. 39: 69-91.
—219-
MARCUS. George. Identidades passadas, presentes e emergentes: requisites para einografias,
sobre a todernidade no final do século XX ao nfvel mundial.
CLIFFORD, James. On Ethnographic Allegory in Writing Culture: the Poetics and Politics of
Ethnography, edited by James Clifford and George E, Marcus. Berkeley, University of
California Press.
- Introduction in writing (see above), 1986.
FABIAN, Johannes, Times and the Other: How Anthropology Makes its Object. New York,
Columbia University Press.
FISCHER, Michael e ABEDI Mehdi. Forthcoming debating Muslims: Cultural Dialogue in
Postmodernity and Tradition. Madison, University of Wisconsin Press.
FISCHER, Michael. Ethnicity and the Post-Modern Arts of Memory in Writing Culture, 1986.
HERZFELD, Michael. Anchropology throught the looking-glass: critical ethnography on the Margins
of Europe. Cambridge, Cambridge Univesity Press.
JAMESON, Fredric. Regarding Postmodernism - A Conversation with Fredric Jameson. Social Text,
Fall, 1987: 29-54.
KAPFERER, Brice. Legends of People, Myths of State: Violence, Intolerance and Political Culture
in Sri Lanka and Australia. Washington, D.C., Smithsorian Institution Press.
LATOUR, Bruno. The Pasteurization of France. Cambridge, Harvard University Press, 1988.
MARCUS, George B. ¢ CUSHMAN Dick. Ethnographies as texts. Annual Review of Anthropology,
vol. II: 25-89, Palo Alto, CA, Annual Reviews, Inc.
MARCUS, George E. ¢ FISCHER Michael. Anthropology as Cultural Critique: An Experiemental
‘Moment in the Human Sciences. Chicago, University of Chicago Press.
MARCUS, George E. Imagining the Whole: Etography’s Contemporary Effort to Situate Itself.
Forthcoming in Critique of Anthropology.
+ Contemporary Problems of Ethnography in the Modern World system in writing culture:
The Poetics and politics of ethnography. Berkeley, University of California Press, 1986.
. The Problem of the Unseen World of Wealth for the Rich: Toward adn Ethnography of
Complex Connections, Ethos, 17: 110-119, 1989.
RABINOW, Paul. Representations are Social Facts: Modernity and Postmodernity in Anthropology
in Writing Culture. Berkeley, University of California Press, 1986.
- French Modern: Norms and Formd of the Social Environment. Cambridge, M:LT. Press,
1989.
SIEGEL, James T. Solo in the Order: Language and Hierarchy in an Indonesian City. Princeton
University Preas, 1968.
TTAUSSIG, Michael. Shamanism, Colonialism, and the Wild Man: A Study of Terror and Healing.
‘Chicago, University of Chhicago Press, 1987.
‘TURNER, Vietor. The ritual Process. Chicago, Aldine, 1969.
WILLIAMS, Raymond, Marzism and Literature. New York, Oxford University Press, 1977.
WILLIS, Paul. Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. New York,
(Columbia University Press, 1978,
-220-
Revista de Antropologia. Sto Paulo, USP, n. 34, 1991, pp. 197-221.
WOLF, Eric. Europe and the People Without History. Berkeley, University of California Press, 1962.
ABSTRACT: This atticle focus on the dilemmas ethnography has to face in understanding modernity.
‘Contemporary ethnography is forced to adopt a global perspective as the analytical point of view
‘based exclusively on the experince lived at the local level proves insufficieat. This change brings the
processes by wich collective and individual idemtities are negotiated in the field research settings
where the anthropologist works to the center of the anthropological debate.
KEY WORDS: anthropological theory, ethnology of modernism, research field, global theory,
cultural relativism, difference, identity
Recebido para publicagéo em janeiro de 1992.
21-
Você também pode gostar
- Revista Pergunte e Responderemos - Ano XLIX - No. 555 - Setembro de 2008Documento66 páginasRevista Pergunte e Responderemos - Ano XLIX - No. 555 - Setembro de 2008Apostolado Veritatis Splendor100% (4)
- GabaritoengcivildiscursivaDocumento2 páginasGabaritoengcivildiscursivakarol vitorinoAinda não há avaliações
- Folder Checklist para Manutencao Versao DigitalDocumento2 páginasFolder Checklist para Manutencao Versao Digitaljosue jetavionicsAinda não há avaliações
- Perda Auditiva Induzida Pelo RuidoDocumento1 páginaPerda Auditiva Induzida Pelo RuidoWelson MikaelAinda não há avaliações
- Mapa Anástacio-MSDocumento1 páginaMapa Anástacio-MSpatriciomontagemagroindustrialAinda não há avaliações
- Alfa 145-164Documento1 páginaAlfa 145-164GabrielAinda não há avaliações
- The Lion King MedleyDocumento11 páginasThe Lion King Medleymarioverace2Ainda não há avaliações
- Anexo III À LC Nº 470 2017 Mapa de Uso e Ocupação Do Solo Versão de Novembro de 2017Documento1 páginaAnexo III À LC Nº 470 2017 Mapa de Uso e Ocupação Do Solo Versão de Novembro de 2017Mauri OládioAinda não há avaliações
- Edital Nº 14 - Seleção de Estagiários DireitoDocumento2 páginasEdital Nº 14 - Seleção de Estagiários DireitoPhillipe NogueiraAinda não há avaliações
- Mapa 1-2-Equip - Comun - LazerDocumento1 páginaMapa 1-2-Equip - Comun - LazerLorena Ramos TrinchaAinda não há avaliações
- Conversas Com Woody Allen I Pequenos Truques PDFDocumento4 páginasConversas Com Woody Allen I Pequenos Truques PDFHelder Daniel BadianiAinda não há avaliações
- Exercícios de Arpejos - ViolãoDocumento1 páginaExercícios de Arpejos - ViolãoLEO0% (1)
- Ebook - Cromoterapia e Terapia Capilar - Encontrando o Equilíbrio Entre Cores e Cabelos SaudáveisDocumento14 páginasEbook - Cromoterapia e Terapia Capilar - Encontrando o Equilíbrio Entre Cores e Cabelos Saudáveisana caroline da silvaAinda não há avaliações
- Livro Pupunha1Documento20 páginasLivro Pupunha1Tales SilvaAinda não há avaliações
- Historiografias Periféricas Nicodemo, Pereira, SantosDocumento26 páginasHistoriografias Periféricas Nicodemo, Pereira, SantosMarcos Vinicius GontijoAinda não há avaliações
- Asturias, Patria QueridaDocumento1 páginaAsturias, Patria QueridaMai TaAinda não há avaliações
- Ligia - AltoDocumento1 páginaLigia - Altoyeison matosAinda não há avaliações
- Guia de Esferas - LWH - 30 Até 45 - BDocumento1 páginaGuia de Esferas - LWH - 30 Até 45 - BERICK FEITOSAAinda não há avaliações
- NR 32 - Acid Trabalho Material BiologicoDocumento1 páginaNR 32 - Acid Trabalho Material BiologicoCPSSTAinda não há avaliações
- Somente Uma Gota Do Sangue de Jesus PDF SalvaDocumento12 páginasSomente Uma Gota Do Sangue de Jesus PDF SalvaVivendoComJesus Rafa SallesAinda não há avaliações
- Terreno Raio 5km-Layout12Documento1 páginaTerreno Raio 5km-Layout12yasminrabelo67Ainda não há avaliações
- Terreno Raio 5km ParadasDocumento1 páginaTerreno Raio 5km Paradasyasminrabelo67Ainda não há avaliações
- Ingles - VerbosDocumento6 páginasIngles - Verbossal sal100% (7)
- Oficina de Violão Da Casa Da Música Um Relato de Experiência Como Professor No CursoDocumento9 páginasOficina de Violão Da Casa Da Música Um Relato de Experiência Como Professor No CursoJoao Gabriel De Alencastro MartinsAinda não há avaliações
- Viva La Vida ViolinesDocumento4 páginasViva La Vida Violinesjorge100% (1)
- Palavras para Iniciar Paragrafos No TCC Monografia ArtigosDocumento2 páginasPalavras para Iniciar Paragrafos No TCC Monografia ArtigosAjbIngAinda não há avaliações
- Alfa 145 20 Twing SparkDocumento2 páginasAlfa 145 20 Twing SparkGabrielAinda não há avaliações
- Literatura e Filosofia: Aproximações Possíveis Sob o Viés Da Mística - Ramon FerreiraDocumento10 páginasLiteratura e Filosofia: Aproximações Possíveis Sob o Viés Da Mística - Ramon FerreiraRamon FerreiraAinda não há avaliações
- Plano General de Comercio 2020Documento1 páginaPlano General de Comercio 2020RedAinda não há avaliações
- AUDI 80 2.6 Abc 92-95Documento2 páginasAUDI 80 2.6 Abc 92-95GabrielAinda não há avaliações
- Guia de Esferas - LWE - 15 Até 20Documento1 páginaGuia de Esferas - LWE - 15 Até 20ERICK FEITOSAAinda não há avaliações
- La Fierecilla Domada-ShakespeareDocumento56 páginasLa Fierecilla Domada-ShakespeareViviana Lizbeth Santos NicolasAinda não há avaliações
- Revista Pergunte e Responderemos - Ano XLV - No. 502 - Abril de 2004Documento54 páginasRevista Pergunte e Responderemos - Ano XLV - No. 502 - Abril de 2004Apostolado Veritatis SplendorAinda não há avaliações
- Hamas Dadulanu Ela ChudaliDocumento4 páginasHamas Dadulanu Ela Chudaliswarupa sAinda não há avaliações
- Audi A6 2.8 Aah 94-97 PDFDocumento2 páginasAudi A6 2.8 Aah 94-97 PDFJorge Daniel DiazAinda não há avaliações
- Auditoria - Impto. SociedadesDocumento57 páginasAuditoria - Impto. SociedadesMaria Veronica Mikue Ngomo EtunuAinda não há avaliações
- Árvore Genealógica Da Familia SantelloDocumento1 páginaÁrvore Genealógica Da Familia SantelloThiago Ossucci SantelloAinda não há avaliações
- Adolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Piano ScoreDocumento2 páginasAdolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Piano ScoreIvan Felipe Muñoz VargasAinda não há avaliações
- Irimo - Trombone 1Documento2 páginasIrimo - Trombone 1Salvador VelasquezAinda não há avaliações
- Identificação de Bacilos Gram NegativosDocumento6 páginasIdentificação de Bacilos Gram NegativosSabrina RodriguesAinda não há avaliações
- Planta Geral Lot-Shopping-Hotel e Residenciais R1Documento1 páginaPlanta Geral Lot-Shopping-Hotel e Residenciais R1Lucas BrancoAinda não há avaliações
- Revista Pergunte e Responderemos - Ano XLVIII - No. 545 - Novembro de 2007Documento54 páginasRevista Pergunte e Responderemos - Ano XLVIII - No. 545 - Novembro de 2007Apostolado Veritatis Splendor100% (1)
- Britoo e Jacques, Cenografias e Corpografias UrbanasDocumento8 páginasBritoo e Jacques, Cenografias e Corpografias UrbanasLiaAinda não há avaliações
- Paulo Lima Silva Psicanalise Dos ExcessosDocumento11 páginasPaulo Lima Silva Psicanalise Dos ExcessosZZZAinda não há avaliações
- Audi A4 2.6 Abc 94-97 PDFDocumento2 páginasAudi A4 2.6 Abc 94-97 PDFJorge Daniel Diaz100% (1)
- MapaDocumento1 páginaMapajoseantonio207723Ainda não há avaliações
- Audi A4 1.8 Aeb Turbo 95-96Documento4 páginasAudi A4 1.8 Aeb Turbo 95-96GabrielAinda não há avaliações
- Kiko Loureiro Video Aula 1Documento23 páginasKiko Loureiro Video Aula 1Vinnie HeAinda não há avaliações
- Cap02 ProblemasManutenção TassioDocumento6 páginasCap02 ProblemasManutenção TassioTassio SirqueiraAinda não há avaliações
- (Semana 2) 20 - 05 o Verdadeiro LíderDocumento1 página(Semana 2) 20 - 05 o Verdadeiro LíderNane RibeiroAinda não há avaliações
- Audi A4 1.6 Adp 95-97Documento2 páginasAudi A4 1.6 Adp 95-97GabrielAinda não há avaliações
- Ciclo Da Auto-Sabotagem - Stanley Rosner Patricia Hermes PDFDocumento120 páginasCiclo Da Auto-Sabotagem - Stanley Rosner Patricia Hermes PDFGrore Dagariolem Vasiuzereliu100% (2)
- Te Deum Eustache CarroyDocumento11 páginasTe Deum Eustache CarroyVirgilio SolliAinda não há avaliações
- 2 Material EAD BM - Módulo Defesa Civil - PrefeitosDocumento8 páginas2 Material EAD BM - Módulo Defesa Civil - PrefeitosAndrade RamiresAinda não há avaliações
- Afirmacao de Fe Da IPIBDocumento1 páginaAfirmacao de Fe Da IPIBJohn FerreiraAinda não há avaliações
- Acid Trabalho Material BiologicoDocumento1 páginaAcid Trabalho Material BiologicoWelson MikaelAinda não há avaliações
- Teste AllerSnapDocumento1 páginaTeste AllerSnapAllan BatistaAinda não há avaliações
- FL01 Sintese UrbanaDocumento1 páginaFL01 Sintese UrbanaElaine AlencarAinda não há avaliações
- Diálogos Inesperados Sobre Dificuldades DomadasNo EverandDiálogos Inesperados Sobre Dificuldades DomadasAinda não há avaliações
- BOTTOMORE, T.B. Introdução À Sociologia (Cap.1 O Estudo Da Sociedade)Documento9 páginasBOTTOMORE, T.B. Introdução À Sociologia (Cap.1 O Estudo Da Sociedade)Andressa Lopes0% (1)
- WRIGHT MILLS-Ações Situadas e Vocabulários de Motivo - Final PDFDocumento13 páginasWRIGHT MILLS-Ações Situadas e Vocabulários de Motivo - Final PDFHully GuedesAinda não há avaliações
- A Textura Da JustiçaDocumento24 páginasA Textura Da JustiçaVanessa Dos Santos NogueiraAinda não há avaliações
- O Publico e Seus Problemas Resenha PDFDocumento6 páginasO Publico e Seus Problemas Resenha PDFHully Guedes100% (1)
- KANT de LIMA, Roberto BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti.Documento18 páginasKANT de LIMA, Roberto BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti.Hully GuedesAinda não há avaliações
- Peter Berger Dossel SagradoDocumento97 páginasPeter Berger Dossel SagradoJujubahhAinda não há avaliações
- Roberto Kant de Lima - A Antropologia Da Academia - Quando Os Índios Somos NósDocumento57 páginasRoberto Kant de Lima - A Antropologia Da Academia - Quando Os Índios Somos NósHully GuedesAinda não há avaliações
- Face Ao Extremo - Capítulo Pessoas ComunsDocumento30 páginasFace Ao Extremo - Capítulo Pessoas ComunsHully GuedesAinda não há avaliações