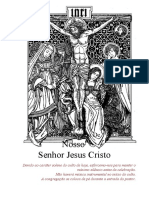Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Duas Semanas No Irão - Persepolis e A Ilusão Do Império Universal
Enviado por
Bruno Costa0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
147 visualizações9 páginasUm dos mais belos artigos de Miguel Urbano Rodrigues publicado no Informação Alternativa e no Avante! em 2006.
Título original
Duas semanas no Irão - Persepolis e a ilusão do império universal
Direitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoUm dos mais belos artigos de Miguel Urbano Rodrigues publicado no Informação Alternativa e no Avante! em 2006.
Direitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
147 visualizações9 páginasDuas Semanas No Irão - Persepolis e A Ilusão Do Império Universal
Enviado por
Bruno CostaUm dos mais belos artigos de Miguel Urbano Rodrigues publicado no Informação Alternativa e no Avante! em 2006.
Direitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 9
Informação Alternativa
Médio Oriente
03/08/2006
Duas semanas no Irão II:
Persepolis e a ilusão do império universal
Miguel Urbano Rodrigues
Avante!
A aspiração de ver aquele lugar nasceu nos bancos do liceu quando
estudei as guerras entre a Grécia e a Pérsia e soube que uma noite
Alexandre, o Rei da Macedónia, incendiara os palácios que eu vira
num livro de arte. «Um dia irei até Persepolis» – decidi então.
Satisfiz o desejo em Maio, transcorridos quase setenta anos.
O sol do planalto iraniano queimava a terra ressequida e as colunas
brancas da Apadana.
Inicialmente essas colunas eram negras, mas é suficiente passar a
mão nelas para que o mármore recupere a cor primitiva. A
imaginação não consegue, porém, recriar o grande palácio, tal
como o viam os embaixadores estrangeiros ao serem recebidos por
Dario, o Rei dos Reis.
Dois mil e quinhentos anos nos separam da Pérsia dos
Aquemenidas no seu máximo esplendor. As cidades do nosso
tempo e a organização da vida são profundamente diferentes. Mas
o homem mudou menos na sua atitude perante o Poder do que
seria desejável.
Em Persepolis, como na Pasárgada de Ciro, naquela manhã, quando
a imaginação tentou a viagem pelos séculos em esforço para
compreender a ambição de Dario e o sentido dos seus actos, a
minha meditação sobre a História findou no presente.
As ruínas magestáticas de Persepolis fizeram-me voar, em
cavalgada mental, até à Casa Branca onde um homem investido de
um poder imenso, muito menos inteligente do que o monarca
aqueménida, retoma num mundo que se agigantou o sonho persa
do Estado Universal.
Na plataforma sobre a qual fora edificado o conjunto palacial o
calor era abrasador.
Não havia nuvens no céu, mas o azul pálido apresentava uma
tonalidade cinza que feria o olhar quando este se perdia nas
montanhas.
Pouco ali se ajustava ao esperado. Tudo me apareceu como se fora
redescoberto. Na Apadana, na Sala das Nações, nos Palácios de
Dario e Xerxes. No das Cem Colunas, ao identificar marcas do
incêndio que destruiu Persepolis, subiu em mim a pergunta
repetida por incontáveis gerações: Por que queimou Alexandre, um
príncipe culto, aqueles palácios, mais grandiosos do que tudo o que
ele conhecera na Grécia?
Os Anais, redigidos durante a conquista da Pérsia, não esclarecem
a questão. São múltiplas as versões dos historiadores gregos.
Vingança pelo saque de Atenas por Xerxes? Descontrole emocional
no fim de uma orgia? Nunca a pergunta obterá resposta.
A única certeza é a de que no mundo antigo não se fez algo
comparável a Persepolis. Aliás, povo algum voltou a erguer colunas
tão altas como as da Apadana que sustentavam a 20 metros do
solo tectos de madeira trabalhada. As descrições dos escritores
gregos expressam o seu espanto ante a riqueza ofuscante das
portas de bronze, do ouro do embasamento das colunas e dos
cascos e cornos dos toiros. O luxo das vestes bordadas a ouro, a
profusão de pedras preciosas, as tapeçarias, as pinturas murais, o
cerimonial, tudo ali deslumbrava os embaixadores admitidos à
presença do monarca que se apresentava como o senhor de trinta
nações diferentes.
NO TÚMULO DE DÁRIO
O sol descera muito no horizonte quando, caminhando por uma
vereda de saibro, avistei a escarpa de Naqsh-i-Rostam. O calor
ainda queimava os pulmões.
Foi o prolongamento do choque recebido em Persepolis, a escassos
quilómetros de distância. É um lugar inimaginável.
Os antigos imperadores persas eram sepultados entre o céu e a
terra. A grande necrópole dos Aqueménidas nasceu de um desafio
à imaginação.
Numa falésia de 64 metros de altura, quase vertical, abrem-se,
escavados na rocha, os túmulos de Dario I, Xerxes, Artaxerxes I e
Dario II.
O tom da pedra é de um ocre dourado, incomum.
O sepulcro de Dario atrai o visitante. É uma obra de arte
estranhíssima com três registos sobrepostos. No relevo superior
aparece, esculpido, Ahura Mazda, o deus do zoroastrismo, em luta
permanente pelo bem contra o mal. Em baixo surge Dario no seu
trono, perante um altar do fogo. O rei é transportado pelos
representantes dos povos vassalos. O relevo médio tem quatro
colunas com a porta da câmara mortuária a meio. Reproduz o
palácio real.
Dario pretendeu em primeiro lugar transmitir a mensagem do
poder.
Em diferentes inscrições rupestres aparece a afirmação de um
poder pessoal sem limites: «Eu sou Dario, o Grande Rei, o Rei dos
Reis, o Rei do país de todas as raças, Rei sobre esta grande Terra
que se estende muito longe, o filho de Hystapes, um Aqueménida,
um persa, um ariano de origem ariana.»
A reivindicação do arianismo era, porém, contraditória. Dario não
esquecia que os Persas e os Medos formavam a coluna vertebral do
poder aqueménida. Mas o Império era um estado multinacional,
amálgama de povos com culturas e religiões diferentes, que
gozavam de ampla autonomia. O seu arianismo nada tinha de
comum com o enaltecido por Hitler. Uma política racista teria
destruído uma estrutura estatal frágil como a da Pérsia
Aqueménida. Na época de Xerxes, o império, transcontinental, ia
do Danúbio ao Indo, da Ásia Central às cataratas do Nilo, reunindo
territórios com aproximadamente 5 milhões de quilómetros
quadrados.
Contemplando as ruínas dos monumentos grandiosos dessa
civilização agitavam-me sentimentos contraditórios. Uma sensação
de irrealidade perturbava-me. Como fora possível que naquelas
solidões, entre montanhas onde a neve nunca desaparece e
desertos incompatíveis com qualquer forma de vida, um povo ainda
tribal, vindo do Cáucaso, mobilizado por um rei de ambição
planetária, tivesse sido o instrumento da primeira tentativa de
Estado Universal?
Em Naqsh-i-Rustam recordei que Dario tinha vivido o suficiente
para compreender que o seu projecto de Estado Mundial era muito
mais difícil de concretizar do que imaginara. A derrota na Grécia
terá sido uma advertência sobre os limites do seu poder.
Mas o filho, Xerxes, retomou o sonho e o resultado foi um novo e
definitivo fracasso.
Transcorridos apenas 130 anos, um príncipe estrangeiro, vindo de
um pequeno e pobre país europeu, a Macedónia, chegou e fez do
impossível realidade: conquistou o Império do Rei dos Reis. Mas o
desafio de Alexandre durou ainda menos que o dos Aquemenidas.
Desfez-se quando ele morreu aos 32 anos.
O mundo surgia então aos sábios da época como muito pequeno, o
que ajuda a compreender as ambições daqueles que pretendiam
governá-lo. Para os contemporâneos dos persas e gregos findava a
Norte nas águas do Cáspio e a Sul nas florestas impenetráveis da
Índia; para Ocidente continuava pela África ate às cataratas do
Nilo, mas as terras além do deserto líbico eram quase
despovoadas; longíssimo, para Oriente, estava a China.
OS SASSÂNIDAS
Bishapur, nas terras quentes do Sudoeste iraniano, apareceu-me
como conjunto de ruínas de difícil identificação. A solidez das
muralhas impressiona, mas da vasta área onde antes havia casas e
templos, pouco resta.
As aparências enganam. Ali existiu uma estranha cidade. Foi
construída não por persas, mas por legionários romanos em
meados do século III da Nossa Era.
Roma iniciava a sua lenta decadência quando um grande exército,
sob o comando do imperador Valeriano, foi derrotado no seu
primeiro choque com uma potência que iria tornar-se hegemónica
na região: a Pérsia Sassânida.
O acontecimento abalou o mundo antigo. Cerca de 40.000
legionários e o imperador renderam-se e foram conduzidos ao
lugar cujas ruínas eu contemplava. No descampado, como
prisioneiros, construíram uma cidade que recebeu o nome de
Shapur, o vencedor de Roma.
Por que fui até ali na minha caminhada por terras do Irão?
Talvez para sentir, mais na atmosfera do que nas pedras, o
fenómeno do primeiro dos muitos renascimentos persas. O povo de
Ciro e Dario, após a conquista de Alexandre, tinha adormecido num
sono letárgico, com as suas elites helenizadas. E, de repente, 550
anos após a destruição de Persepolis, uma dinastia, os Sassânidas,
orgulhosa das suas origens, reconstrói um Império que promove o
renascimento persa. Durante quatro séculos impõe-se
militarmente, primeiro a Roma, e depois a Bizâncio.
A Europa continua a desconhecer o que deve à Pérsia Sassânida. A
arrogância eurocêntrica não apaga, porém, a história. A arte
islâmica, após o início do Califado Abassida, foi decisivamente
influenciada pela herança persa. Em múltiplos campos a
contribuição da cultura sassânida para o desenvolvimento da
civilização árabe não fica aliás aquém da greco-romana.
A cavalaria pesada, assim como o feudalismo, tem raízes iranianas.
E foi igualmente persa a primeira reforma agrária da história,
implantada pela revolução mazdaquista que estabeleceu uma
modalidade de comunismo primitivo, reprimida com ferocidade.
Os Sassânidas também deixaram gravados em belos relevos
rupestres a sua concepção do poder. Impressionaram-me os que vi
próximo de Bishapur. Não há muitos exemplos de um deus ter
cumprido como Ahura Mazda uma função tão importante na
caminhada de um povo. Ao fundirem-se praticamente com ele,
assumindo origem divina, os monarcas Sassânidas imprimiram ao
Estado um carácter teocrático que os diferenciou dos
Aqueménidas.
Os relevos sassânidas sobreviveram a incontáveis invasões e
guerras. Esculpidos na pedra para expressar uma ambição de
poder eterno, documentam hoje a brevidade dos grandes impérios
e a irracionalidade de certas ambições humanas. O esboço do
Estado Universal de Dario durou dois séculos. O Império Sassânida
foi vencido e destruído em apenas quatro anos por um povo de
nómadas, vindo das areias do deserto arábico.
Era difícil, ao visitar ruínas das grandes civilizações persas da
Antiguidade, não pensar na actual crise de civilização que a
humanidade enfrenta.
Meditei ali sobre a arrogância imperial dos EUA e a estratégia de
dominação planetária de Bush, um pequeno homem, de muito
poder e escassa inteligência.
Recordei as ameaças que dirige ao Irão, apresentando-se como
representante da civilização e da cultura, ele que é um moderno
bárbaro.
Vai durar pouco o império dos EUA. Terá o desfecho de quantos o
precederam.
ESFAHAN E A VISÃO DO PARAÍSO
Na periferia da cidade de Kashan subi a umas colinas arenosas
onde há 7.000 anos existiu uma povoação, Sialk. No pequeno
museu próximo vi fragmentos de uma cerâmica decorada que em
objectos caseiros já então usava cores.
No Irão, a antiguidade da presença do homem impressiona e
comove pela densidade dos vestígios que a testemunham.
No grande planalto, cruzado durante milénios por invasores vindos
de todos os azimutes, parcelas das heranças culturais acumuladas
sobreviveram sempre a períodos de violência e barbárie. Desde
Sialk houve ali continuidade, por vezes quase invisível, na criação
de coisas belas. Sementes de civilizações destruídas ou rudemente
golpeadas fecundaram outras que, em cadeia quase ininterrupta,
nasceram nos oásis e estepes emoldurados por montanhas
ciclópicas.
Os reis Aqueménidas diziam que o Paraíso foi inventado por eles. A
palavra, antiquíssima, surgiu na língua persa no tempo de Ciro, o
Grande, para designar os jardins do seu palácio de Pasárgada. E
ficou. A ideia do paraíso permaneceu associada à beleza de jardins
cuja atmosfera e encanto mágico já eram cantados pelos poetas
gregos.
Esfahan é talvez o mais expressivo exemplo dessa inexplicável
vocação dos povos do Irão para saírem de fases históricas trágicas
para inovarem com imaginação e força criadora no campo da arte
de viver.
Eu tinha lido muito sobre a antiga capital da Pérsia. Mas livros e
imagens não podem transmitir o sortilégio de Esfahan.
O rio terá sido a primeira surpresa. O Zayandeh é um rio
estranhíssimo. Desce dos cumes nevados da cordilheira do Zagros,
percorre planícies que transforma num grande e fértil oásis,
atravessa a cidade onde alarga muito e, após uma centena de
quilómetros, morre nos areais do deserto.
São muitas as pontes seculares que o cruzam. Na mais bela, o rei
que a concebeu fez instalar a meio, de cada lado, palacetes
octogonais.
O Xá Abbas I, no final do século XVI, decidiu fazer de Esfahan a
mais deslumbrante cidade do Islão. A sua fama correu mundo. Da
China e da Índia do Grão Mogol Akbar, até da França longínqua
chegaram viajantes e artistas para conhecerem o novo paraíso
materializado pelo rei persa.
Nas esplanadas, sob uma das pontes seculares, moradores do
bairro tomavam chá quando por ali passei num entardecer. O
Zyandeh corria espumejante pelos canais, debaixo dos arcos,
caindo em cascatas límpidas para um nível inferior onde retomava
o seu curso remansoso. Nos degraus que desciam até à água
centenas de pessoas, velhos e jovens, conversavam, sentados na
pedra, gozando a frescura da hora, após um dia abafado.
Mais tarde, já noite fechada, o comércio ainda permanecia aberto.
Os homens, em Esfahan, como em Teerão, vestem à europeia, mas
no ambiente permanece muito da tradição oriental.
A cultura do renascimento safévida sobrevive na esmerada
educação das pessoas, na sua atitude perante a existência, na arte
de viver.
Por avenidas intensamente iluminadas caminhei até à Praça do
Imã, construída há quatro séculos. Caberiam nela alguns Terreiros
do Paço. Com uma extensão de 512 metros, a largura atinge 160.
Mas não é somente uma das maiores do mundo. O cenário traz à
memória contos das Mil e Uma Noites. A Praça Real, ou do Imã,
como lhe chamam agora, tocou-me sobretudo pela harmonia, pelo
equilíbrio, pela acumulação do inesperado.
Na noite morna, iluminadas, a cúpula turquesa da Mesquita Azul, a
Mahjed-i-Sha, e a da Loftollah, introduziam ilusoriamente o
passado no presente.
Apesar da hora tardia, centenas de pessoas permaneciam na Praça,
movendo-se no interior do grande perímetro, fechado por um
edifício rectangular de dois pisos, sob o qual a toda a volta correm
arcadas para as quais se abriam centenas de lojas. Nos bancos, ao
lado de canteiros floridos, junto de um grande espelho de água,
casais namoravam e famílias inteiras ceavam, sentadas em tapetes
colocados sobre a relva.
A visita aos palácios de recreio dos monarcas safevidas (o real, de
quatro pisos, ergue-se a meio da Praça do Imã), sobretudo ao
Chehel Sotun, onde quadros de grandes pintores persas evocam
efemérides da dinastia, reforçou em mim a sensação da
excepcionalidade de Esfahan.
Essa impressão de viajar através de uma cidade diferente de tudo o
que conhecia acentuou-se na mesquita de Masdeh-i-Djomeh, o
mais antigo templo da antiga capital. Em toda a Ásia muçulmana
não há outra em que se justaponham, convivendo sem conflito,
tantos estilos e decorações e épocas, da seljucida à safevida,
passando pela mongol e a timurida.
Como foi possível aquilo? Na procura de algo similar recordei os
esplendores de Al Andaluz e percebi que empalideciam na minha
memória. Tive a percepção de que no mundo islâmico, qualquer
paralelo com Esfahan, incluindo os monumentos da Índia Mogol, é
redutor, desvaloriza aquilo que se compara.
Revi Persepolis, tão próxima de Esfahan no espaço, e tão distante
como expressão de posicionamento do homem perante a aventura
da vida.
E, contudo, paradoxalmente, Persepolis ajuda a compreender o
desafio de Esfahan.
Naquela terra, a Pérsia, na cadeia de civilizações, por vezes com
mundividências antagónicas, as grandes rupturas provocadas por
invasões de povos vindos de muito longe, as destruições, as
chacinas nunca impediram a lenta interacção das culturas. O que
parecia morrer fecundou sempre aquilo que ali nascia em
atmosfera com frequência trágica.
Os historiadores persas não esquecem – apenas um exemplo – que
Tamerlão, o invencível conquistador turco chagatai, para castigar
Esfahan, mandou erguer às portas da cidade sublevada pirâmides
com 60.000 cabeças de moradores, num repugnante banho de
sangue. A matança aconteceu no final do século XIV. Mas
inesperadamente, décadas após a morte de Tamerlão, os netos
enterraram as espadas e foram príncipes sábios, como o rei
astrónomo Ulugh Begh, de Samarcanda, e outros timuridas que
ergueram em Mached e Herat, no Korassão iraniano, algumas das
mais belas mesquitas do mundo.
Esfahan, destruída por diferentes invasores – a primeira cidade já
existia na época dos Sassânidas há 1700 anos – e sempre
renascida, simboliza bem essa enigmática vocação persa para dar
continuidade à vida e recriar cultura a partir dos escombros de
civilizações golpeadas.
A sua estrela começou a brilhar quando um guerreiro do Norte, o
Xá Ismail, fundou a dinastia safevida depois de travar
definitivamente o avanço para Ocidente dos turcos usbeques.
Caberia a um descendente seu, o Xá Abbas I, transferir a capital
para o centro do país. Pretendia suplantar a Constantinopla de
Solimão, o Magnífico. E concretizou o sonho. Contemporâneo de
Henrique IV e de D. João III, estabeleceu relações diplomáticas
com Portugal.
Esfahan atraiu então os melhores arquitectos, ceramistas, pintores,
artesãos, poetas e escultores iranianos, catalizando a energia
criadora do génio persa. Meca continuou a atrair os devotos da fé;
conhecer Esfahan tornou-se aspiração de outro tipo de peregrinos,
artistas e intelectuais de todo o Islão.
Durou pouco mais de cem anos esse período de esplendor. No
início do século XIII, com a monarquia safevida em processo de
desagregação, tribos afegãs ocuparam Esfahan e devastaram a
cidade.
A barbárie deixou marcas nos grandes monumentos. Alguns
desapareceram. Mas a tradição persa funcionou. Esfahan curou as
suas feridas e renasceu.
Na madrugada em que me despedi dela – há lugares que visitamos
uma única vez – perguntava-me como foi possível criar na Pérsia
quinhentista uma cidade tão maravilhosa e humanizada? Não
idealizava. Certamente a presença do inferno coexistia ali com a
visão do paraíso. Mas ao caminhar pela grande Praça recordei o
quotidiano agressivo de Nova Iorque e a atmosfera tensa de uma
cidade sem silêncios como Madrid e concluí que o discurso
hipócrita sobre a civilização e o progresso não esconde que a
humanidade está a ser empurrada para a barbárie.
George Bush ao ameaçar o Irão não pode compreender que é um
bárbaro ao lado do Xá Abbas de quem provavelmente nunca ouviu
falar.
Você também pode gostar
- Apostasia Paulo JuniorDocumento22 páginasApostasia Paulo JuniorWaldinei Araujo de SouzaAinda não há avaliações
- Carlos MagnoDocumento10 páginasCarlos MagnoDaniela AlfarrobinhaAinda não há avaliações
- Aula 3 Vestimentas SagradasDocumento38 páginasAula 3 Vestimentas SagradasGuilherme Oliveira Bjj100% (1)
- APintura InterpretativaDocumento51 páginasAPintura InterpretativaTaremy Gody69Ainda não há avaliações
- A Dalton Trevisan Gravida Porem VirgemDocumento7 páginasA Dalton Trevisan Gravida Porem VirgemFelipe NunesAinda não há avaliações
- Folha de Canto Quinta Feira Santa 2018Documento2 páginasFolha de Canto Quinta Feira Santa 2018Rosely FranciscoAinda não há avaliações
- 433 CC - A Colheita AlémDocumento2 páginas433 CC - A Colheita AlémAEASorocaba100% (1)
- 016 A Colonizacao e A ColoniaDocumento4 páginas016 A Colonizacao e A ColoniaFelipe VtsAinda não há avaliações
- Duvidas Sobre A Mediunidade (Luiz Gonzaga Pinheiro)Documento48 páginasDuvidas Sobre A Mediunidade (Luiz Gonzaga Pinheiro)Tammy Oliveira100% (1)
- Lugares Sagrados Naturais Do BrasilDocumento2 páginasLugares Sagrados Naturais Do BrasilEudair StiebeAinda não há avaliações
- Cartão Virtual: Este Requisito Exige o Envio de Um Arquivo PDFDocumento7 páginasCartão Virtual: Este Requisito Exige o Envio de Um Arquivo PDFCassio RufinoAinda não há avaliações
- O Primeiro Livro de Tarot LuciferianoDocumento252 páginasO Primeiro Livro de Tarot LuciferianoAntonio o tomista cartesianoAinda não há avaliações
- Aula 7 - O Deus Imutavel (Tablet)Documento15 páginasAula 7 - O Deus Imutavel (Tablet)Pedro VitalinoAinda não há avaliações
- Habitação Do Espírito SantoDocumento15 páginasHabitação Do Espírito SantoJoao Alberto Soares da Silva100% (1)
- Estudo Bíblico - 1 CoríntiosDocumento1 páginaEstudo Bíblico - 1 CoríntiosActual Consultoria de SaúdeAinda não há avaliações
- Ofício Da Paixão 2022Documento9 páginasOfício Da Paixão 2022Rev. Dionatan FerreiraAinda não há avaliações
- Aprendemos Com JosuéDocumento5 páginasAprendemos Com JosuéPr. Michael CostaAinda não há avaliações
- Apostila Do Curso de LíderesDocumento14 páginasApostila Do Curso de LíderesCoutoAinda não há avaliações
- A Concepcao de Deus em Ibn Arabi e JoaoDocumento18 páginasA Concepcao de Deus em Ibn Arabi e JoaoSergio RamozAinda não há avaliações
- Missões CBNDocumento29 páginasMissões CBNJuliana SLima100% (1)
- OraçõesDocumento2 páginasOraçõesFrancisco FerreiraAinda não há avaliações
- Batalha EspiritualDocumento24 páginasBatalha EspiritualLuiz Carlos BarbosaAinda não há avaliações
- Rude CruzDocumento1 páginaRude CruzRaphael RodriguezAinda não há avaliações
- Discipulado Min. Teatro Amor & ArteDocumento21 páginasDiscipulado Min. Teatro Amor & ArteAMonteiro ConsultoresAinda não há avaliações
- A Iniciação - Guido Bakos - OriginalDocumento2 páginasA Iniciação - Guido Bakos - OriginalFabio LucasAinda não há avaliações
- 11 - 1 Reis Bíblia Revelada - AlfaDocumento86 páginas11 - 1 Reis Bíblia Revelada - AlfaFrederico RochaAinda não há avaliações
- Alma e RessurreiçãoDocumento1 páginaAlma e Ressurreiçãojoao felisberto da silva netoAinda não há avaliações
- Judas 1,1Documento11 páginasJudas 1,1Carlos Cesar AragãoAinda não há avaliações
- AndejuizcomendadorDocumento8 páginasAndejuizcomendadorFrancisco LimaAinda não há avaliações
- Encontro de Casais - PalestraDocumento21 páginasEncontro de Casais - PalestraJulito CostaAinda não há avaliações